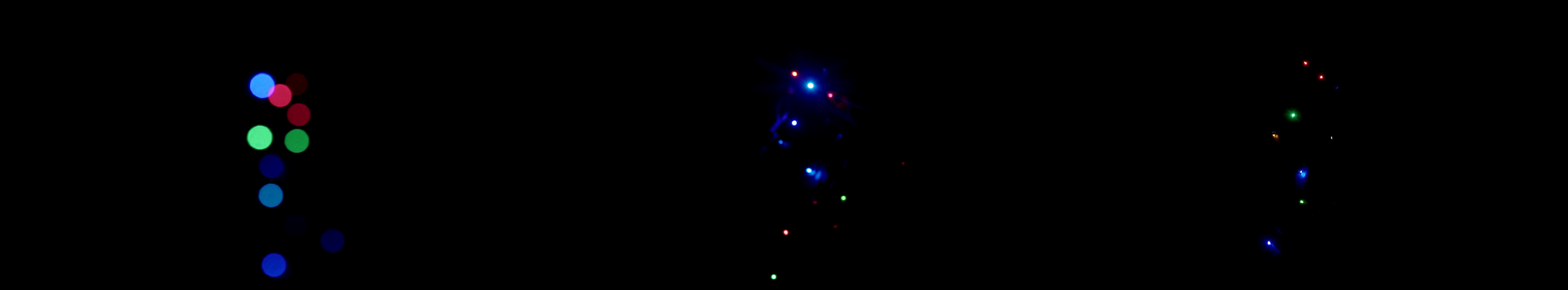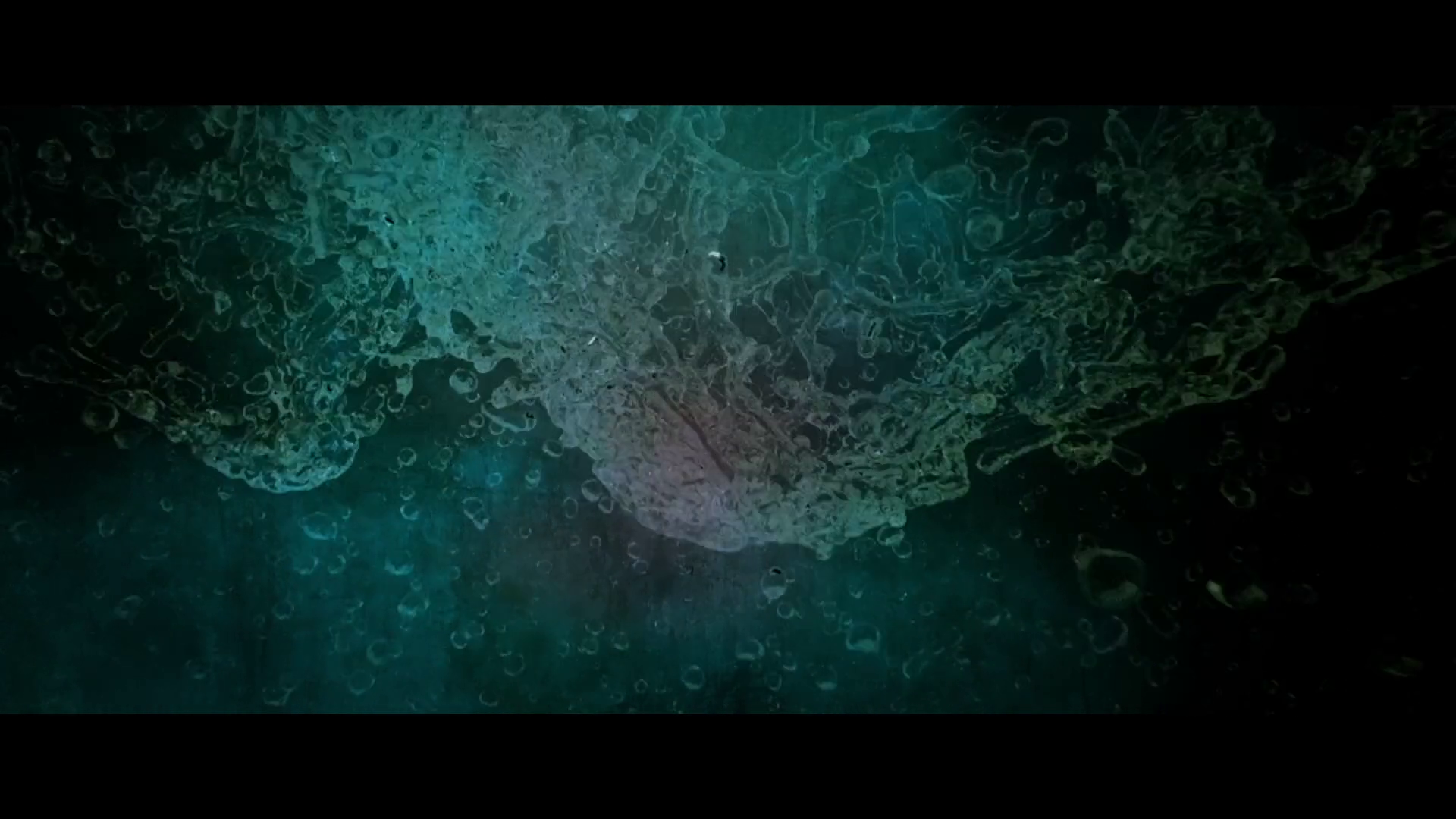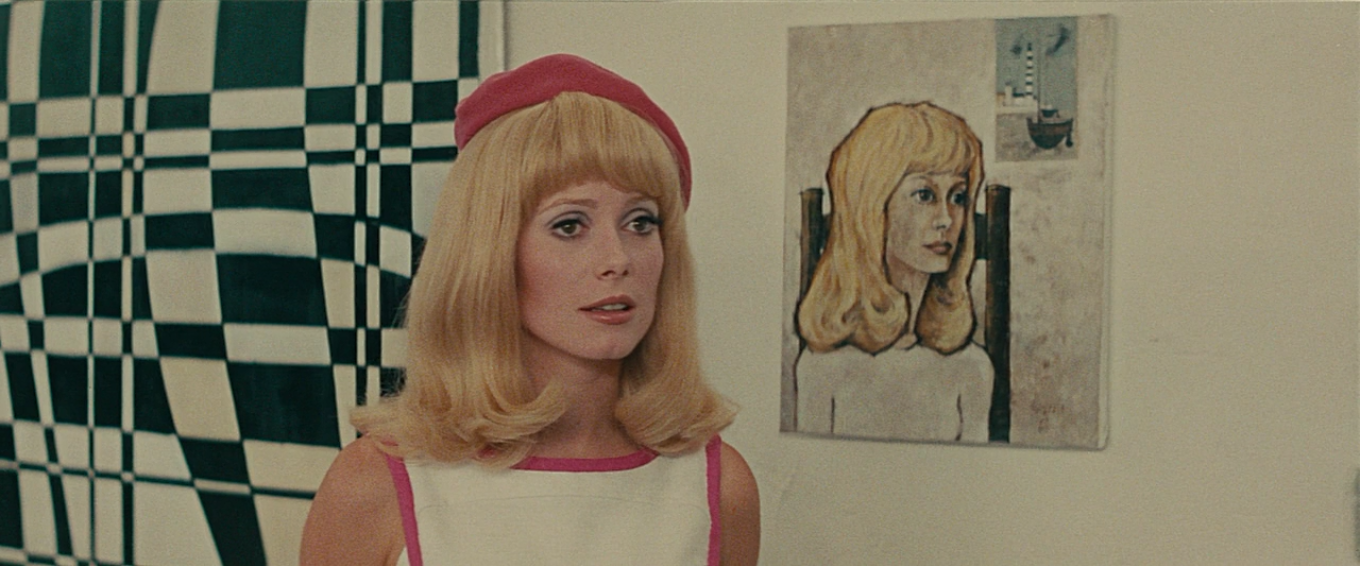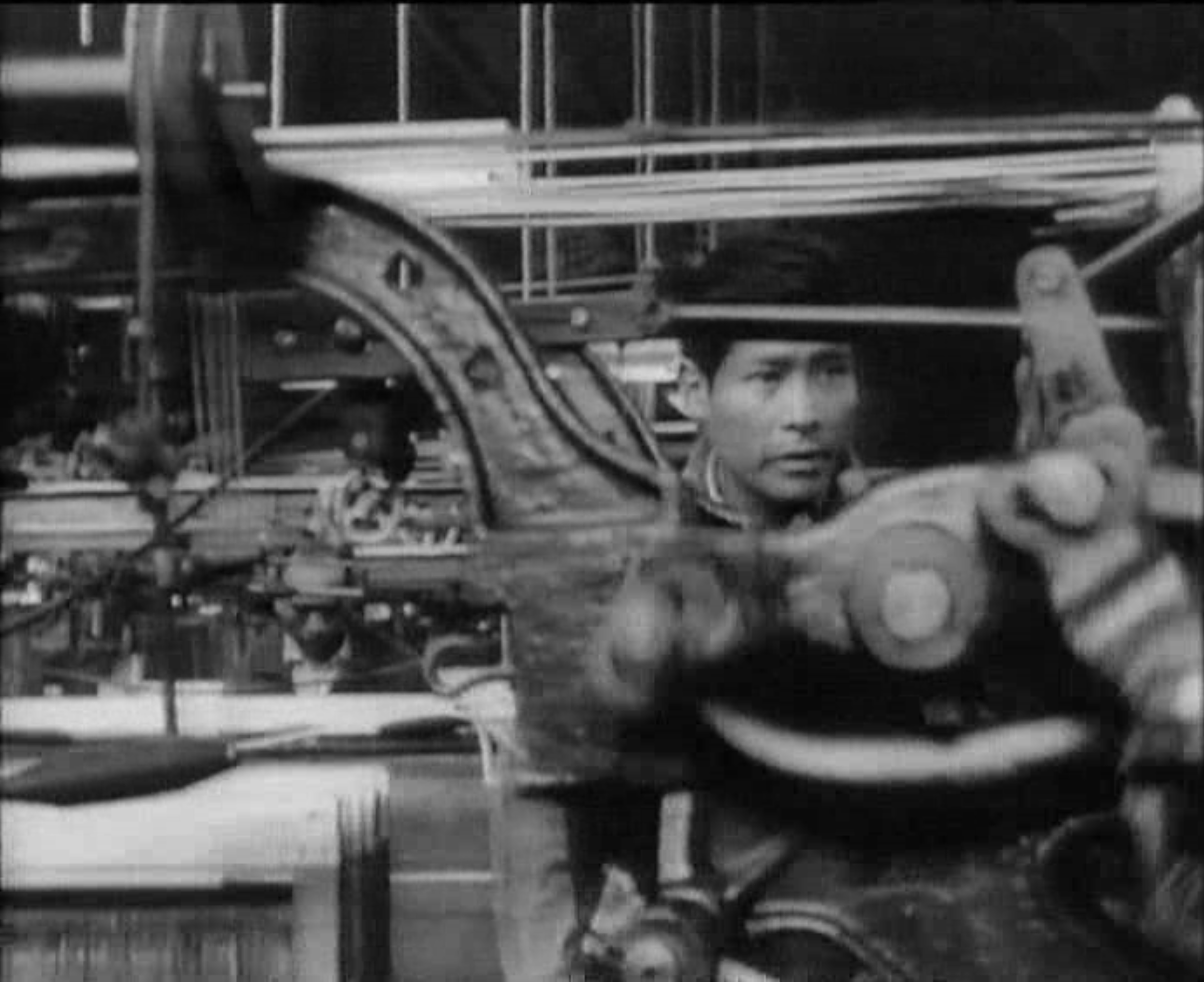Por Anita Gonçalves
Já fazia cerca de 30 anos que João Rui Guerra da Mata não retornava à Macau, onde vivera quando criança. Supostamente, o período mais feliz de sua vida. João Pedro Rodrigues, nascido e criado em Lisboa, só conhecia a cidade dos livros, dos filmes – ênfase para Macau (1952), de Josef von Stenberg, finalizado por Nicholas Ray – e das histórias da infância de Guerra da Mata, seu companheiro e parceiro de trabalho. Em 2011, prenunciado como o marco final de um longo ciclo, os realizadores partem à China e por lá rodam A Última Vez que Vi Macau (2012).
A partir da aproximação a uma “estilística documentária” e da realidade material em transformação e fabulação pelo cinema e pela memória – atravessados pela ação do tempo -, dá-se a luz à uma Macau particular, onde seus domínios reais-concretos e fictícios-imaginários se mesclam e se confundem na imensidão de uma cidade dilatada, territorialmente não tão grande quanto parece. O filme é um travelogue – sem mapa, mas com pé no chão – que traça seu próprio percurso, marginal e íntimo, em uma Macau transformada, irreconhecível e labiríntica: desviando-se do que deveria acolher (a segurança, a hospitalidade, o turismo comercial); e aproximando-se do que deveria distanciar e esconder (o que já se foi, o invisível, a violência, a ambiguidade, o imprevisível). Mas sempre partindo do campo delineado e concreto que – enveredando por estradas múltiplas sobre as quais os imaginários fluirão – nunca abandona o quadro.

O longa, rodado em equipamento digital, dispõe de um registro espontâneo das luzes e dos recantos da cidade, marcado pelas imagens não estilizadas, pela imprevisibilidade da tomada (das ações, dos lugares, dos seres) e pelo plano precedendo a concepção de cena. Tais características formais-estilísticas aproximam o filme de um teor documental e, juntamente à forte presença do cotidiano, o tornam extremamente concreto e ancorado à realidade. Ainda mais quando articulando isto à premissa da qual o longa parte: o retorno de JRGM à Macau, depois de 30 anos sem vê-la; e as lembranças de infância, até aqui podendo ser compreendidas como retratos objetivos e incontestáveis do passado.
Muitos dos locais e objetos filmados revelam-se como fragmentos/resquícios materiais do passado de JRGM – o Guerra da Mata, que é tanto realizador quanto personagem -, que se comporta como memória remota e pulsante, afetada pelo tempo e relativa a uma experiência lúdica de cidade: a memória constantemente remodelada no transcorrer dos anos e a infância enquanto meio propício à fabulação, onde as fronteiras entre realidade e fantasia são embaçadas e pouco assimiláveis. Ademais, a própria realidade aqui em jogo já é uma quebra de expectativas em relação à ideia de uma representação fiel da mesma: uma realidade presente, diferente, transformada, que só consegue evocar o passado a partir de sua deturpação na memória e de sua ausência na materialidade.
No longa de JPR e JRGM, através de uma relação de intertextualidade, ou, até mesmo, contribuindo na construção narrativa e na edificação da cidade, Macau, de Stenberg e Ray, se manifesta. A noção de exotismo atribuído ao Oriente por imaginários ocidentais, acaba sendo um pilar forte nesta relação entre os dois filmes: no filme de 52, é utilizada para fortalecer contexto de suspense da narrativa, e em A Última Vez também, mas se apoiando no enfrentamento e na subversão desta noção, mediante o estilo e os elementos concretos do filme. Outro elemento intertextual é Jane Russell, carnalizada no filme antecessor e espiritualizada no filme mais recente, em que é absorvida pela materialidade da cidade.
A composição de Macau no filme de 2012, sujeita-se muito mais aos imaginários e às experiências lúdicas pessoais do que a uma determinada transparência documental, partindo da concepção acerca da impossibilidade de um cinema parcial e objetivo, sendo ele, como a memória e a infância, um dispositivo ficcionalizante da realidade. O cruzamento entre os imaginários – sobretudo o lúdico, oriundo das experiências e histórias de JRGM, e o hollywoodiano, presente em Macau -, representa um aspecto totalizante, que molda a experiência fílmica, com base em uma cidade transformada e irreconhecível, que vai sendo expandida, dissecada e recriada ao longo do filme. Todavia, A Última Vez confia na trivialidade cotidiana e em suas imagens concretas “documentais”, para, juntamente a outros aspectos formais, atingir uma potência criativa e dramática muito particular, capaz de fortalecer o elo entre realidade e ficção até se fundirem em um só elemento.
A encenação em A Última Vez está relacionada ao interesse na ficção emanada, sobretudo, de meios reais e banais, sempre atrelada ao contexto material. O filme aproveita-se da representação aparentemente documental de Macau, da suposta “anti-encenação” inerente às suas imagens e às figuras que as compõem (onde mesmo as atuações premeditadas de JPR e JRGM são gestuais, minuciosas e inexpressivas, além de localizadas na realidade cotidiana imprevisível), para conceber uma encenação própria. A partir da apatia e do silêncio de seres e objetos, cuja existência não é subordinada à mise-en-scéne, é criado o âmbito diegético – camuflado por entre as luzes piscantes e escondido nas entrevias do cotidiano -, no qual a cidade – ambígua, implacável e hostil às individualidades humanas – é edificada. Os animais, guardiões de Macau (“graças ao trabalho constante dos animais, Buda garante a ordem do universo”), atingem essas expectativas ao máximo: paradoxalmente, incapazes de atuar, acabam sendo alguns dos corpos mais expressivos a ocuparem o quadro. Vigilantes por natureza e silenciosos por instinto, trazem consigo grande parte do suspense e da carga de mistério do filme, fazendo-nos crer que de fato existem homens com propósitos e finalidades duvidosas encarnados em seus corpos blindados.

A construção da encenação não se fundamenta apenas pelo efeito da anti-encenação (ou anti-atuação) na história. Ela ganha sua completude pelo ritmo decorrente da montagem, que se faz nos cortes, na duração não tão curta e na sucessão dos planos (instituindo um certo confronto entre eles e quem os observa); e na união das imagens concretas às vozes subjetivas (que se confundem entre não diegéticas e dramáticas), articulando, com base nestes dois fatores, a tensão que perambula na cidade e intimida estrangeiros que buscam nela um lar. Além disso, ao se combinarem aos planos – que exprimem uma desconstrução cênica mesmo quando agrupados em unidades de sentido comum -, as vozes do extra-campo atribuem a eles a continuidade narrativa e o sentido de cena que nelas residem. No entanto, fundando muito mais um fluxo expressivo ou uma narrativa flutuante do que uma linearidade através de cenas bem demarcadas.
A Última Vez que Vi Macau inicia com o show de lip sync da música You Kill Me, cantada por Jane Russell em Macau e performada aqui, com tigres enjaulados circulando em segundo plano, por quem posteriormente descobrimos ser Candy Darling – transformista e amiga antiga de Guerra da Mata, que teria partido ao Oriente “atraída pelo exotismo ou por uma vida mais fácil”. É comum nos filmes de JPR, o destaque a personagens e elementos que estão à margem da claridade diurna e do campo cômodo de visão, como no caso de trabalhadores e trabalhadoras dos clubes noturnos, do lixo, do supermercado, etc. Candy, de fato, segue essa constante. Mas, ainda que seja a única figura humana retratada expressivamente no quadro – dublando, fingindo cantar -, há algo que acaba roubando seu foco, tornando Candy e demais figuras humanas que aparecem nos planos elementos secundários fagocitados por um corpo maior (ou confrontados por ele): aqui, é Macau quem domina totalmente o quadro. Secreta e marginal, é personificada através da abordagem estilística e dramática, adquirindo uma força singular tão grande que parece fluir independentemente; a cidade é o palco e aquilo que o ocupa.

Não é revelado exatamente o que Candy fez para ser perseguida e, posteriormente, assassinada. Porém, através de sua performance (que faz a cena parecer ter sido planejada, coreografada), ela parece tentar sabotar e confrontar a ordem da supremacia de Macau, provocando a cidade. Neste sentido, os tigres, ao fundo, como elementos aparentemente cenográficos, possivelmente já estariam vigiando-a, anunciando seu castigo. Por conta disso, é condenada a não aparecer nunca mais no campo imagético, desde a chegada de Guerra da Mata, que teria voltado a Macau a chamado da amiga. Em A Última Vez, é impossível a presença física humana daqueles que necessitam da própria individualidade para existirem na Macau fílmica, nos quadros que a compõem e que parecem ser submetidos às próprias leis da cidade-personagem. Já as figuras humanas que não violam a soberania de Macau, hora ou outra têm seus rostos filmados e/ou aparecem por inteiro no quadro, mas sempre desamparadas, vinculadas ao anonimato e bloqueadas de qualquer sensibilidade genuína, apenas existindo no mundo concreto, independentemente do frame que as captura e as ficciona. São elas, apenas peças constituintes de uma Macau, essa sim, expressiva e humanizada – e ai de quem deseja resgatar a própria individualidade: a cidade devora.

O enquadramento “malfeito” e desacolhedor – ou o não enquadramento – de corpos, objetos e ações parece ser uma intenção formal que dialoga diretamente com a suposta anti-encenação e com o sentido dramático. Por vezes, as figuras anonimizadas que existem continuamente no mundo real e não estão onde estão pelo filme – como os turistas, as estudantes, os trabalhadores, etc – são desajustadas pela composição do quadro, que desafia convenções estéticas e as dispõe tortuosamente, sem devidamente focalizá-las e acolhê-las. Por consequência disto, os espaços vazios acabam sendo destacados, preenchidos e ampliados pela expressividade invisível dos imaginários, tão presentes no filme que adquirem uma potência concreta. Por outro lado, esse desajuste do quadro também se exprime nas situações e coisas que Macau faz questão de esconder, mascarar. A violência, aqui, é apenas sugestiva (mas ao mesmo tempo, sempre em pauta): hora a ação decorre no extra-campo, podendo ser assimilada apenas pelas vozes e sons, hora é visível apenas em gestos inexpressivos ou em indícios da consequência da ação, minuciosamente enquadrados, e aguçando a ambiguidade e a dúvida perante os acontecimentos. Ou no caso dos membros da seita do zodíaco, que, enquanto humanos, aparecem apenas gestualmente (contribuindo para o desencadeamento que leva ao clímax), ou se insinuam através de falas desvinculadas de personalidades e de rostos, sem nunca terem suas identidades reveladas em favor da integridade de Macau.


Já Guerra da Mata, que busca se reconhecer na cidade, tem sua forma humana expressiva distanciada imagéticamente, sempre no extra-campo, confrontado pela cidade-personagem, que é imagem. Ele disputa o protagonismo com Macau, posto que se expressa exclusivamente pela via sonora-verbal, manifestando seus pensamentos e impressões e preservando sua individualidade. Aproveitando-se de seu poder de realizador-personagem, para evitar ser fagocitado por Macau, não se deixa aprisionar pelo enquadramento-cidade, e se utiliza da enunciação verbal como estratégia de sobrevivência. Assim, a dramaticidade aqui presente muito se dá pelo confronto entre a expressividade verbal de Guerra da Mata – que evoca os imaginários, a memória, a introspecção, a subjetividade – e a expressividade imagética de Macau – concreta e material, ainda que muitas vezes ambígua.
Existem duas faces de Macau: a primeira,“calma e sorridente”, associada à Macau “oficial”, mainstream, turística e tranquila; e a segunda “velada e secreta”, aquela que a cidade faz de tudo para esconder. No entanto, a própria abordagem estilística e dramática do filme atribui um tom enigmático e secreto à faceta exposta da cidade: o afastamento da Macau mainstream não quer dizer uma recusa em registrá-la, mas sim uma maneira avessa de abordá-la, rejeitando-a como tal e dispondo-a ao mistério. Com base nas contradições e no caos evidenciados por elementos presentes em suas ruas movimentadas, é salientado o contexto de estranheza de uma cidade sem significado e sem eixo (ou com tantos significados e eixos que se perde completamente pelo excesso). Segundo relata Guerra da Mata, o registro e a descrição acerca das estátuas que simbolizam a devolução de Macau à China, por exemplo, afirmam o discurso histórico oficial através da omissão pontuada pela imobilidade e passividade do gesto. Outro exemplo, é a aglomeração de turistas chineses, que é acima de tudo, fantasmagórica e desesperançosa (“como se a história se apagasse, com o simples click das dezenas de máquinas fotográficas, que obsessivamente congelam a memória e ficcionam a felicidade”). Ou até mesmo, a descaracterização em razão de como a própria Macau é designada, “Las Vegas do Oriente”, o que a permite ser qualquer outro lugar do mundo, no presente, passado ou futuro: Las Vegas, Nova Iorque, Portugal, República Popular da China, Veneza, etc. A espetacularização – que invade e inquieta o plano – presente nas imagens dos remadores de gôndolas, por exemplo, parece atender as demandas turísticas como pretexto para desviar o olhar dos estrangeiros da face oculta da cidade, em favor de uma Macau piscante, monumental e artificial. Tais elementos, advindos de sua realidade “oficial” pautada na mentira (“onde nem tudo que parece ser, é”), confundem sua identidade e mascaram o que há de substancial e confidencial nela. E, em função deste esvaziamento significativo, até face “oficial” torna-se fértil aos imaginários.


Embora haja o florescimento da ficção e dos imaginários em A Última Vez, frente ao fingimento e disfarce excessivos da Macau mainstream, alguns elementos fantásticos lúdicos são hipostasiados, intervindo com certo distanciamento, expondo os artifícios e desiludindo qualquer expectativa do filme em transcender e escapar da cidade presente. Um exemplo é a ópera cantonesa que Guerra da Mata assiste em seu quarto de hotel, que o remete às histórias de piratas da sua infância. No entanto, ela parece tão distante e desencantada quando filmada dentro dos limites de uma tevê tubo, visivelmente antiquada para uma cidade tão moderna e abastada. Outro caso é a sereia presa no aquário ecrãnizado, que, a evitar outro golpe contra a hegemonia de Macau, aprisiona e desloca o corpo fantástico, metade-mulher e metade-peixe, dos demais elementos constituintes da cidade. Talvez, a criatura pertença a um mundo etéreo e externo. Mas um mundo incapaz de penetrar na Macau fílmica, pela inflexibilidade da cidade e pelo domínio desta sobre o frame. Com a sereia e as “histórias de piratas” sendo apenas visíveis e possíveis dentro dos limites do “aquário” e da tevê, respectivamente, é estabelecida uma relação artificial farsante com a fantasia – onde a realidade impera -, inibindo assim um eventual rompimento com o universo concreto de Macau, que permanece preponderante ao longo de todo o filme.

Em A Última Vez, Macau é uma cidade que se articula pelos imaginários – invisível se não fosse o encontro do cinema com a memória – subordinada à existência concreta de outra (de mesmo significante), presente, frontal e independente do filme. A constante transformação a qual esta última está submetida, altera o teor pessoal e familiar da materialidade ao longo do tempo, banalizando-a: o antigo lar da família de Guerra da Mata, torna-se patrimônio histórico da cidade; conterrâneos do passado tornam-se lápides. A transformação intensifica o esvaziamento do significante [Macau concreta], e, por conseguinte, a assimilação de novos significados. O filme condiciona os espaços da cidade – no passado, vivos e pulsantes; agora, vazios e desabitados – e os corpos desalmados – mortos ou inanimados – a serem ocupados por almas penadas, transfiguradas em animais, ruínas, panchões; ou tomado por fantasmas do passado, através de imagens de arquivo que invadem de fininho a Macau presente, violando-a.

Os estrangeiros que tentam a sorte e buscam o amparo no Oriente, fugindo da própria realidade a procura de autoconhecimento e de uma jornada espiritual, se enganam (“sempre achei que Macau era uma terra de mitos e superstições. Agora sei que nesta cidade, do Santo Nome de Deus, nem tudo são mitos.”): confrontados pelo cotidiano e pela materialidade, são perseguidos e, ao fim, aniquilados pela cidade inóspita aos clichês.
Em Macau de 1952, Jane Russell foi reduzida – assim como ocorreu ao longo de toda sua carreira – ao seu corpo, tido ele como a expressão absoluta da carnalidade e da sexualidade. Em A Última Vez, a atriz, que coincidentemente faleceu durante as gravações, em 2011, tem sua presença em espírito evidenciada fisicamente: materializada em seus possíveis rastros, como nas meias boiando na água ou na performance de Candy; transfigurada nas formas da cidade e reencarnada em diferentes corpos, tidos como inertes pela ação do tempo, dispostos à performance ou esvaziados para recebê-la. Assim, é espiritualizada e desassociada de seu corpo para associar-se a outros (não humanos), tendo sua existência expandida e dignificada. Nesse sentido, o destaque do filme à expressividade das formas animais, em detrimento da centralização de corpos humanos em cena, contribui para esta reverência à Jane Russell, que, a todo momento, orbita a Macau de A Última Vez.
É por uma relação de confronto e de interdependência entre dois elementos expressivos que se consolida a enunciação fílmica. Sempre que fala, Guerra da Mata confere ao cosmo de Macau, um teor imaginário, pessoal, lúdico e afetivo. A cidade responde a isto através das imagens, que exprimem sua monumentalidade, sua frontalidade e sua atualidade. No entanto, ao invés de extinguir os imaginários, a cidade proporciona o caráter de sua expressão: a partir dos vazios, do invisível e da incompatibilidade entre campo concreto (imagético) e campo imaginário (sonoro/invisível/escondido). E os imaginários, sempre fundados à sua materialidade, ao invés de romperem com a Macau concreta, a dilatam pela ação que ocorre no extra-campo ou no âmbito invisível do filme, e, por fim, a mitificam.
Guerra da Mata, inspirado pela carta de despedida de Candy, por fim, abre mão de sua busca incessante pela individualidade humana (sendo a única forma de sobrevivência frente o cataclismo). Através das pistas e dos apelos na carta, ele desvenda o segredo da metamorfose, até então privilégio da seita do zodíaco. E, guiado pelos seus instintos, assume a forma animal. A partir deste momento, desapegado do ego e transformado em gato, abandona sua expressividade verbal e é capturado imageticamente, em seu novo corpo, em armistício com a nova Macau – marco de uma nova era, animal. O enquadramento não mais é opressor, agora o acolhe e o liberta, em uma cidade celebrada por bichos e livre de humanos -, mas repleta de vestígios e ruínas reminiscentes, que evocam sua existência concreta preliminar. Enfim, ele compreende que a transformação é fundamental para encontrar a felicidade: aceita as mudanças pelas quais Macau passou e passará, libertando-se do passado e abraçando a presentificação inevitável deste passado, ainda que à custa de sua deturpação e de sua fabulação pela memória e pelo cinema. A transformação e a propensão à fabulação inerentes à cidade são o que a delimitam e a eternizam, sendo, ao mesmo tempo, demarcada por sua concretude elementar que nunca desvanece no plano e expandida pelos imaginários.