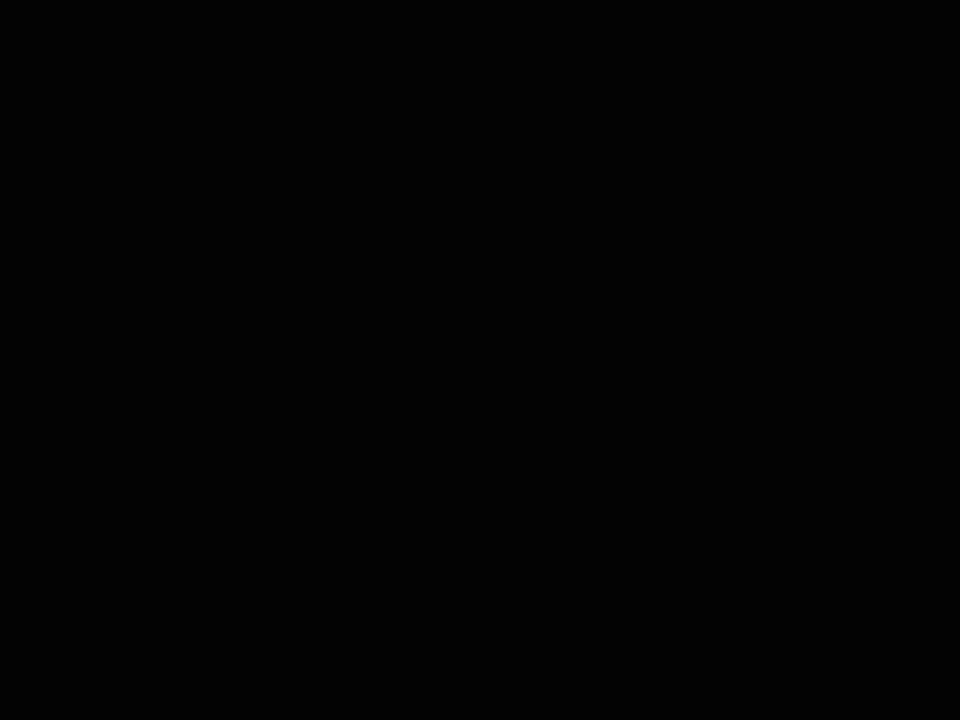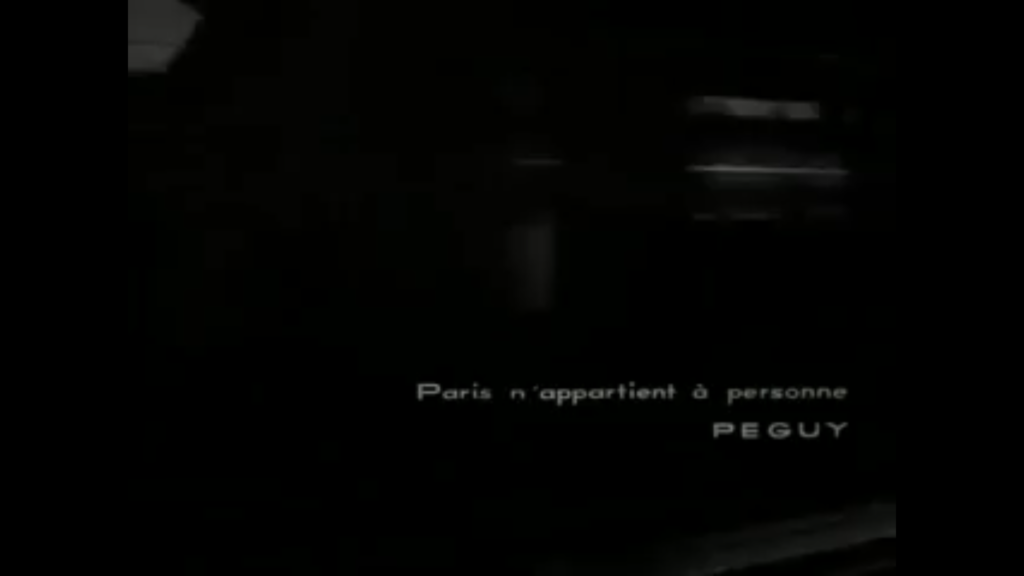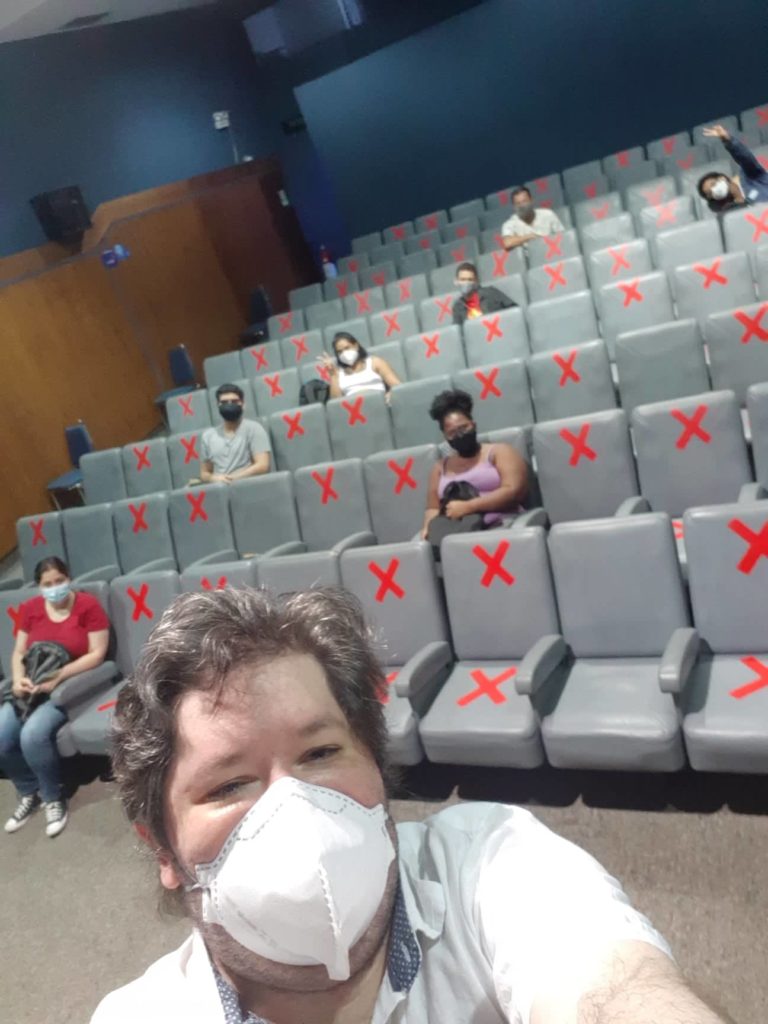por João Lucas Pedrosa
O fantasma pode bem ser a imagem que os olhos deixam escorrer pelos dedos, mas que o espírito a ele com tudo se agarra. Sua raiz etimológica está no que se “faz mostrar” ou se “faz ver” (phantázein); enfim, uma aparição (do “aparecer” phaneín). E uma aparição não é uma imagem que se anuncia; é uma imagem que invade. Que desestabiliza, que estremece o local de surgimento. A aparição se impõe do vazio aos nossos olhos, torna-se o centro de toda atenção e, quando se esvai, fica gravada na mente, voltando quando quer, pulsando em vida própria dentro do espírito. O fantasma é a vida da visão assombrando a vida dos que veem.
Naturalmente, no cinema, tudo é fantasma. É imagem que passa na tela e invade o espírito. Podemos recorrer à reprodução da imagem novamente mas, muitas vezes, o gosto está na memória da visão fazer do concreto uma tela às retinas do lembrador. Sem Título #1: Dance of Leitfossil, de Carlos Adriano, é essa experiência feita estrutura fílmica e, por isso, é, ao mesmo tempo, um filme de fantasma, de memória e de cinema.
Adriano abre o curta assumindo o movimento retroativo já com a primeira legenda em fundo preto: “apontamentos para uma autocinebiografia / (em regresso)”. Entra, então, a imagem icônica do sorridente Vassourinha com um indicador levantado em frente à boca, como pedindo silêncio enquanto começa a faixa Desfado, de Ana Moura (o show está começando). Corte para o preto e, junto com os acordes do violão, entram Ginger Rogers e Fred Astaire, dançando na também icônica sequência de dança em Ritmo Louco (George Stevens, 1936). Os movimentos deles combinam perfeitamente com o tempo do fado de Moura.
A escolha por essas duas imagens, em suas texturas rasgadas pelos grãos do tempo sobre papel e celulóide, confere ao filme o tom de colcha retalhada (imagens velhas, reaproveitadas como panos velhos na formação de um novo conjunto). A foto de Vassourinha, por si só, parece uma referência ao mais celebrado filme do diretor, A voz e o vazio: a vez de Vassourinha (1998). Um filme em cima da dificuldade de acesso à figura e à história do fenômeno sambista dos anos 1930 e 1940, precocemente morto no auge do sucesso. Ele se mantém por artigos de jornal e documentos legais mal conservados, discos arranhados de sua música: o contato com Vassourinha é necessariamente mediado pela degradação. A imagem usada em Sem Título #1 é cartaz de A voz e o vazio (e o referencial visual à obra mais comumente usado por sites de crítica ou cinéfilos), uma sorte de imagem simbólica associada a Adriano, e que parece adequada para abrir, sob reapropriação e ressignificação, uma série autobiográfica de filmes. A extensa pesquisa para A voz e o vazio foi auxiliada por Bernardo Vorobow, companheiro de décadas do diretor e então já falecido. O acesso a este amado partido, como o filme virá a mostrar, tem um rumo analogamente tortuoso.
Desfado é uma música vibrante e bem-humorada cujo eu-lírico sente tristeza por estar feliz demais para fazer seu fado: “Ai que saudades que eu tenho de ter saudades / saudades de ter alguém que aqui está e não existe / sentir-me triste só por me sentir tão bem / e alegre, sentir-me bem só por eu estar tão triste”. A dança de Ginger e Fred ao som de Moura se estende num longo plano inteiro, e é interrompido pela tela preta no verso: “e lamentasse não ter mais nenhum momento”. É a primeira fratura de um plano até então sem nenhum corte, que consiste no hipnótico dueto corporal da dupla de dançarinos mais celebrada da história do cinema. O plano estava azulado, e agora retorna esverdeado. O procedimento de colorizar o enquadramento inteiro era muito comum no cinema narrativo dos anos 1910. Sem a existência do technicolor ou tempo para colorização à mão, a indústria recorria a um filtro de cor que tonalizava a cena num todo em tentativa de conduzir sensorialidades que condizessem com o tom do enredo.
A imagem será novamente interrompida após o fim do número, com a saída dos dançarinos por uma porta, e um lampejo menos de 1s de Bernardo Vorobow rindo invade a tela em tom esverdeado (como um fragmento perdido da cena de dança que acabara de ser cortada) exatamente no verso “que aqui está e não existe”. Agora a cena do filme de 1936 retorna rosada e contrastada, mais quente e receptiva após a visita de Bernardo, para depois ser interrompida pelo preto e pelo lampejo agora azulado do riso de Vorobow. O posicionamento dos cortes mais significativos da primeira metade do filme (a interrupção de Ginger e Fred, o surgimento de Bernardo), necessariamente quando a música fala de fim e de ausência, prenuncia o encaminhamento da segunda metade do curta.
“Não repetir / Apesar do bis”, diz a legenda entre as metades do filme. Retornar, mas de outra forma sempre, como o rumo caótico da memória. Ginger e Fred retornam agora no tom prateado originário, e seus movimentos não duram mais de 2s antes do corte para o preto. Como a luz da lâmpada marcada na retina quando olhamos demais para ela, o último frame da dança antes do surgimento do escuro se repete em nossos olhos após o corte, tornando Ginger e Fred espectros mentais encantados. Eles não mais são interrompidos, mas invadem eles mesmos a estabilidade do vácuo com sua cadência mágica. O lampejo de Bernardo passa pelo mesmo processo; agora, quando surge, tem a mesma duração que os dos atores dançarinos, e o inclinar de seu riso é quase um movimento de dança (surgindo exatamente em “ai que saudade”, “e não existe”, “que aqui está”). A unidade corrente da música vira a liga das três imagens fragmentadas em pirilampos. É a feliz dança dos mortos, que cintilam porque apagam.
Daí a analogia com o “fóssil de idade” do título: quando mais se passa o tempo, e mais se dissolve a ossada, mais gravada em pedra fica sua forma. No lugar da pedra, o filme grava em psique. A interrupção da imagem é o que a faz durar um tempo a mais no olho e na alma. Sua fragmentação a torna mística: o curto inclinar de Bernardo em riso solto é imagem tatuada e mágica como o flutuar do vestido e dos cabelos de Ginger, dos braços esticados de Fred. Assim como a falta viabiliza o fado de Moura, ela permite a Adriano um lampejo mais longo do amado; o fantasma de Bernardo é a bênção de sua presença. Sem Título #1 é a saudade feita cinema estrutural. E, provavelmente, a mais linda declaração de amor que nós temos.