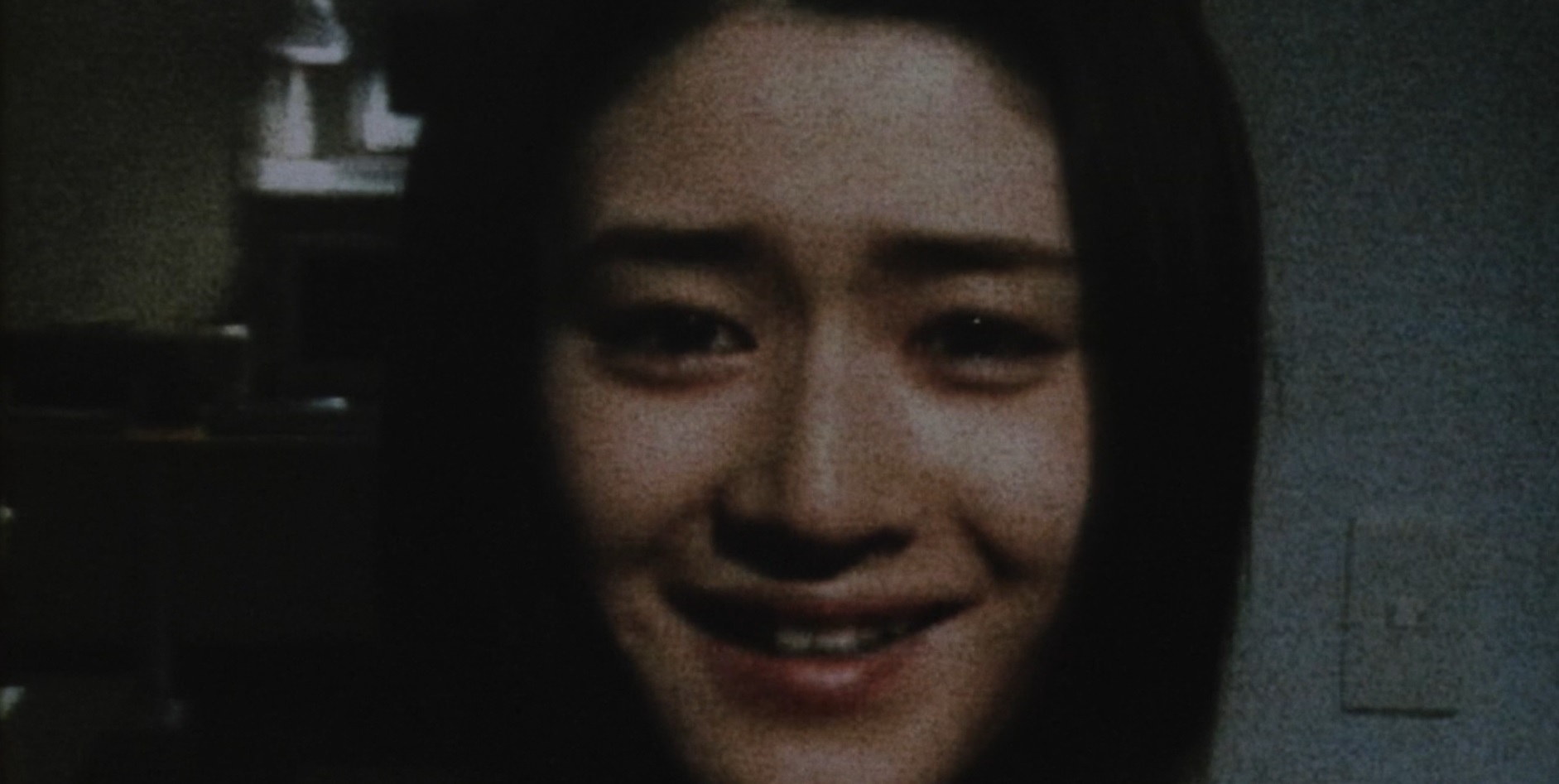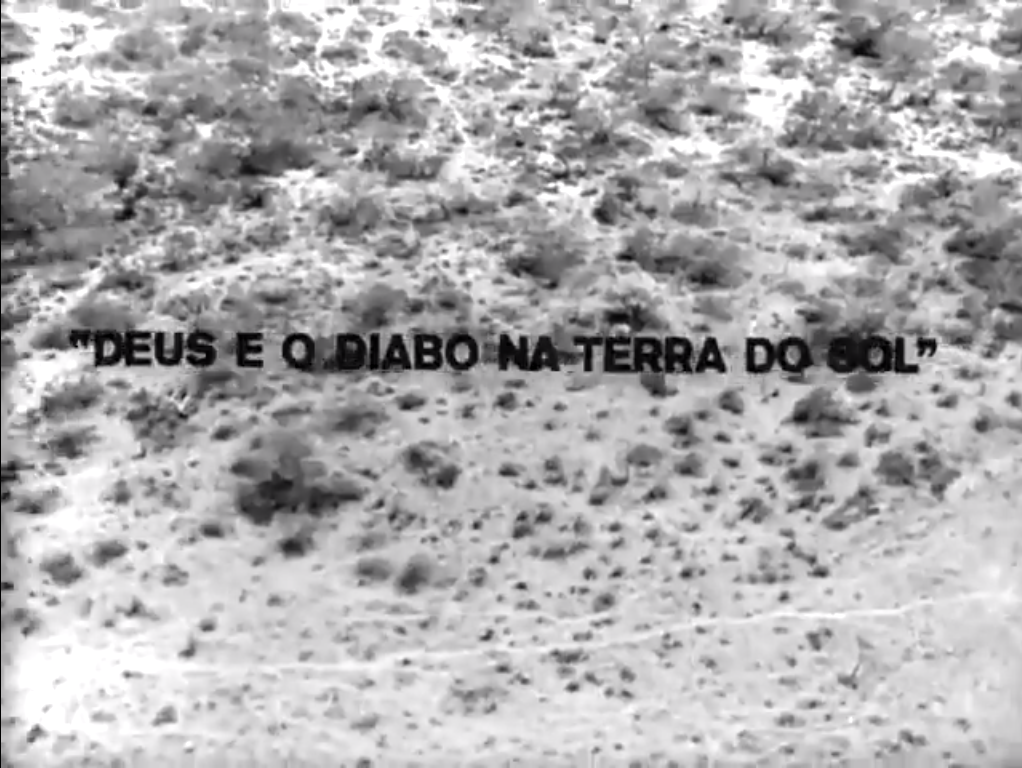por Bernardo Oliveira

1.
As representações da criança no cinema resultam de diversas concepções científicas e correntes relativas à educação e ao crescimento humano, com enfoque nos aspectos subjetivos (psicológicos) e sociais (sociológicos), que resultaram na instauração da ciência pedagógica e, como consequência, na invenção da sala de aula no século XIX. Buscando na história dos conceitos os elementos, acontecimentos e ideias que circunscreveram a emergência da sala de aula global e sua centralidade característica na educação moderna, percebemos que é neste período que o campo semântico da educação se estrutura. Primeiramente, segundo Philippe Ariès, através da ideia de passagem entre o mundo da criança e o mundo dos adultos. Depois, em termos de construção de ferramentas teóricas e institucionais que promovem termos como formação, transmissão, emancipação e autonomia. O que se observa, entretanto, é que como o peixe cai na rede, a criança entra no balaio da reprodução social, através de processos intensivos de formação e disciplinarização. “O grande tema da pedagogia que surge e se desenvolve no século 16” é o governo das crianças, escreve Foucault. Capturada por uma reforma do “ensigno”, a criança foi “ensignada” — (observação mental: ensinar, isto é, entranhar um signo).
2.
E é fácil notar como o cinema absorveu de diversas maneiras, algumas sem eira nem beira, não somente a criança enquanto corpo expressivo, como também enquanto significação de cunho social, cultural e político. Em relação à criança, a associação entre a escola e família encarna na maioria das vezes um poder de intransigência social, por vezes autoritário, a ser ultrapassado, ridicularizado ou destinado a servir como foco e motivo de resistência. A criança no contexto moderno/liberal/eurocêntrico: tanto a imagem “fofinha”, edulcorada e vulnerável de bochechas carnudas e rosadas, como o sujeito psicológico e social a ser educado (produção do comportamento) e ensinado (transmissão do conhecimentos) pela própria vontade do estado e da sociedade, dentro de estabelecimentos controlados e aptos a criarem força de trabalho e sociabilidade. A educação obrigatória emerge como um novo dispositivo para produzir obediência em massa, no contexto de migrações forçadas, cidades crescendo descontroladamente e ritmo frenético de crescimento em todas as ordens.
3.
Todavia essa estrutura que vai se formando ao longo do século XIX para ser plasmada sobre o corpo infantil, na maioria das vezes, não explica por si só a solidariedade da visão moderna “progressista” e seu diálogo direto e indireto com o senso comum: a criança apresenta, como a mulher e o escravo, um risco permanente de insurreição contrária à estabilidade social. Para que o perigo seja neutralizado ou domesticado, é preciso estabelecer um modelo através do qual as ferramentas disciplinares possam produzir um corpo dócil e moldável. Desde o século XVIII, com Kant, torna-se central a noção de que a criança deve ser educada e ensinada, visão esta que contrasta com as reais necessidades de controle. Não parece de todo absurda a mítica dickensiana acerca dos bandos que aterrorizam com saques e demais delitos as primeiras cidades erigidas pelo capitalismo fabril europeu do XIX, bandos de crianças esquecidas, insubmissas aos novos códigos e a marra das novas instituições.
4.
Nasce então a apologia da imagem de uma criança indefesa e inocente, que carece de cuidados e nada sabe da vida e do mundo. Aliás, sob esse ponto de vista, a criança não é bem um “ser”; como a mulher e o escravo diz-se dela que não possui densidade ontológica, que precisa ser controlada ou que deve vir-a-ser, “tornar-se” humana. Algumas crenças começam a ganhar forma: a disciplina, a economia do silêncio e da postura podem preparar esse corpo rebelde para assimilar palavras de ordem e conhecimento. A criança é mais um dos corpos a serem estratificados e sobrecodificados pelas instituições discriminatórias que nascem com a nova ordem. O século XX, o século da família e da conveniência, o século dos produtos “para todas as faixas etárias”, consolida-se a consciência de que produtos culturais específicos devem ser adaptados e traduzidos para uma suposta linguagem mais acessível ao “público infantil”. Materializa-se o fenômeno da infantilização da infância, do nivelamento arbitrário das crianças para fins de reprodução. É neste momento que, para uma sociedade, torna-se plausível adaptar, por exemplo, um disco dos Beatles para arranjos musicais considerados aceitáveis do ponto de vista de uma dita “música infantil”. É nesse panorama que o problema da criança e da infância é como que apreendido única e exclusivamente sob a ótica da infantilização familial-institucional.
5.
Nesse processo, generaliza-se a concepção de que a criança não é um adulto em miniatura, que a criança deve ser contida, educada e ensignada (como diz o outro, a escola provê as “coordenadas semióticas” que ensignam todas as “bases duais da gramática”…). No cinema, amplas representações da criança e da infância que se aproximam e distanciam do primado pedagógico moderno. Em sua base genealógica, nos séculos XVI e XVII, a Educação Moderna encontra o método mecânico-catecista dos Jesuítas, um dos primeiros experimentos concretos e exitosos de processamento didático coletivo (vale perguntar “exitoso para quem ?”, mas essa é outra história…). A criança é representada sob o duplo signo de uma representação estática e pueril e de, outra, a possibilidade de uma coletividade ameaçadora. A imagem da pureza absoluta se coaduna com a necessidade de produzir uma obediência coletiva, revelando um cotidiano brutal, através do qual se deseja criar um tipo de comportamento. Daí que algumas representações oscilam no mais das vezes entre a romantização da infância — o aspecto lúdico dos “anjinhos” ou o aspecto pitoresco dos “pestinhas” — e os enfrentamentos reais ocasionados pelo complô dos inocentes.
6.
Acerca do “pestinha”, os anos 90 trouxeram sua versão edulcorada por criancinhas loiras e sapecas através de filmes como “Esqueceram de mim” (1990), de Chris Columbus e “Dennis, o pimentinha” (1993), de Nick Castle. Já a relação entre a figuração da inocência e o chamado à responsabilidade como um fator de mediação, surge décadas antes, por exemplo em ”O Garoto“ (1921), de Charles Chaplin — a infância romantizada, infantilizada, a celebração da inocência, a ética da empatia. Tomado pela ternura e vivendo nas condições que prenunciam a Grande Depressão, o Vagabundo recebe um chamado à responsabilidade: encontra um bebê órfão chorando no chão da rua. Imediatamente se vê compelido a participar da criação, do crescimento desta criança, pois, diz o senso comum, a criança é um ser indefeso que precisa ser protegido, educado e ensinado. A concessão do vagabundo à nobreza desse chamado corresponde a uma concessão que ele faz contra si mesmo. São conhecidas as sequências em que ambos, criança e vagabundo, se completam, sentados na beira da calçada ou dobrando uma esquina, como que exibindo a materialização de uma necessidade de acolhimento que se impõe. As crianças em “tempos interessantes”, retratadas pelo Neorealismo, são personagens inspiradas no garoto de Chaplin, como em “Ladrões de Bicicleta” (1948), de Vittorio De Sica. O impressionante personagem Bruno Ricci (Enzo Staiola), é forçado a adotar uma postura adulta e tomar iniciativa diante dos problemas, encarnando uma infância cuja representação fora atualizada pelas necessidades trazidas pelo contexto do Pós-Guerra. “Pixote, a lei do mais fraco” (1981), de Hector Babenco, esgarça ainda mais o tecido da infância destruída pelas condições políticas e sociais, exibindo o cotidiano escabroso de um menor abandonado de 11 anos nas periferias do Brasil.


7.
Nos sécs XVII e XVIII, a pedagogia do detalhe de La Salle institui o chamado Método global, seguido dos conteúdos normativos no “aprender a pensar” de Trapp e na humanização dos humanos de Kant no XVIII. A sala de aula prussiana, conhecida como a primeira experiência organizada de educação pública coletiva, representa o coroamento dessas tendências disciplinares e normativas, transformando o grupo de crianças em rebanho e ligando seu controle a um poder pastoral. “A escola é uma cultura coercitiva”, escreve Kant em seu conjunto de anotações posteriormente intituladas “Sobre a Pedagogia”, postulando a vigilância e a correção como tarefas da educação. Para aprender a pensar, para manejar os códigos civilizacionais e participar da sociedade, o corpo da criança deve ser controlado, calado e, daí sim, ensinado.
8.
Nos anos 30, surge um filme de revolta infantil coletiva, que bota abaixo o otimismo rousseuaniano: “Zero de Conduta” (1933), de Jean Vigo expõe os perigosos e contraditórios códigos do complô infantil. A criança isolada, enquanto modelo conceitual, remete à puerilidade, mas em grupo, organizados e agindo coletivamente, a potência pueril se desdobra em características capazes de desordenar os espaços disciplinares, como as guerras que ocorrem no refeitório e no dormitório. A ação coletiva desse corpo rebelde requer todo um aparelho de vigilância que, contudo, falha. Usando as penas dos travesseiros e a câmera lenta, Vigo, então, converte o corpo coletivo rebelde em uma ordem angelical, expondo a ironia ambígua de uma oscilação que é marcada no próprio projeto de controle do corpo infantil. Alguns filmes manifestam essas relações ambivalentes entre o aspecto pueril e a maldade latente ao complô dos inocentes: a obra-prima “Bom dia” (1959), de Yasujiro Ozu, “A Aldeia dos amaldiçoados” (1960), de Wolf Rilla, e sua refilmagem, “Cidade dos Amaldiçoados”, por John Carpenter em 1995.



9.
Com a consolidação de uma ampla zona de correntes pedagógicas modernas nos sistemas de educação pública do XIX e do XX, de Pestalozzi a Herbart, as representações da infância coletiva passaram a atender às necessidades e protocolos impostos por uma pedagogia psicossocial. “Fanny & Alexander” (1983), de Ingmar Bergman, narra a história de duas crianças a quem o complô fora negado, construindo-se como uma espécie de corolário da interpretação psicológica. Quando todas as forças disciplinares conseguem calar os códigos do complô, enclausurando o poder desordenador das crianças, o filme abre espaço para uma representação romântica da clausura. O diretor parece assistir, até mesmo com certa nostalgia, seu duplo infantil se desdobrando para resistir e superar os conflitos e a opressão.


10.
Na oscilação entre o senso comum e a psicologização da pedagogia, o cinema investe muitas vezes em uma exploração banal da criança no drama e no terror. A criança representa algo da ordem do não-natural, de um acesso perigoso ao insconsciente, àquilo que “ainda não é”, que ainda carece de vir-a-ser. O cinema instala uma tensão sobrenatural nesse vão entre o ser e o não-se, o meio termo entre o natural e o sobrenatural. No drama, o cinema usa a Inocência para gerar a piedade. No terror, porém, partindo da criança como meio despersonalizado, suspensa entre o inconsciente e a vigília, e, portanto, aberta às possessões e à mediunidade, chovem exemplos: desde filmes como “A Profecia” (1976), de Richard Donner, e, mais tarde, “O sexto sentido” (1999), de M. Night Shyamalan, até as franquias de terror como as do boneco Chucky — a propósito, noto que as motivações adultas que sustentam a insustentável visão de um “brinquedo assassino” parecem revelar algo de uma significação coletiva muito particular, de uma uma perversidade assentada sobre algumas visões coletivas da criança e da infância. Tem que ver isso aí.
11.
Há os exemplos mais complexos como “Um mundo perfeito” (1993), de Clint Eastwood, que se apresentam como ramificações moderadas da infância infantilizada, estipulando uma inocência básica, um tipo de comportamento parece atender às expectativas do senso comum, porém abrindo espaço para modos de existência divergentes, agentes de rupturas e gestos imprevistos. De formas diferentes, “Os Incompreendidos” (1959), de François Truffaut, “Mouchette, a virgem possuída“ (1967) de Robert Bresson, “As Boas Maneiras” (2017), de Juliana Rojas e Marcos Dutra, e ”En Rachâchant” (1982), de Danièle Huillet, são exemplos que manifestam o inconveniente da criança singular, que reage à brutalidade. Um passo adiante, pois aqui não há redenção. A criança como um não-destino, a captura de um aqui-e-agora puro, a criança liberada da infância e aberta para as potências e descaminhos da vida.
12.
É neste ponto que entramos nos casos problemáticos, como o do professor e pedagogo Fernand Deligny e “O Mínimo Gesto” (1971), filme que realizou com seus pacientes autistas na Instituição La Grande Cordée entre os anos de 1962 e 1965. Para Deligny, a carga de controle dos afetos que é despejada sobre a criança, com o intuito de produzir uma estabilização psicossocial, mata boa parte do élan vital e criativo. É preciso recuperá-los através de uma outra educação, outros ritos de passagem, outras maneiras de “tornar-se quem se é”. Assim, contra a infância inadaptada preconizada pelo governo francês, Deligny e seus parceiros autistas opunham uma “pedagogia da revolta”, a única resposta possível à violência institucional. Ao lado de Yves Guignard, criança autista considerada “ineducável”, Deligny se lança em uma viagem que os levará para fora da instituição através de situações aparentemente sem sentido, como cair em um buraco. Nem a grandiloquência luxuosa de “Satyricon”, nem a “descida aos infernos” de Dante, Deligny simplesmente abandona o sanatório junto com seus colegas. O mínimo gesto é o gesto de grandeza, devir minoritário, salto de banda.

13.
Dentre os contextos mais radicais, em que as crianças se encontram expostas a uma experiência pedagógica particular e até mesmo ao perigo, vale lembrar o caso controverso de Otto Muehl. Integrante ativo do Acionismo Vienense, inspirado pelas ideias de Wilhelm Reich, Muehl fundou a Comuna Friedrichshof (1972–90) e, com Therese Schulmeister e as crianças da comuna, realizou os “Friedrichshofer Kinderfilme”. Nos anos 80, a comuna comprou equipamento de vídeo e, entre 1985 e 1987, produziu filmes de curta e média-metragem encenados e realizados pelas crianças, jogando com a história e a biografia de personagens como Stálin, Hitler, Picasso e Colombo. Em 1991, Muehl foi condenado a sete anos de prisão por pedofilia e por incitar as crianças a usarem drogas. Depois de pagar a pena, sua visão do processo oscilou entre pedir desculpas e relativizar as acusações até morrer em maio de 2013. No quesito “infância e perigo”, recordo também das crianças delirantes em “Trás-os-Montes” (1976), de Margarida Cordeiro e António Reis, sobretudo na primeira parte em que as crianças recaem em uma espiral do tempo que os leva a encontrarem-se, bem mais velhos, consigo mesmos.


14.
Há também um cinema que, partindo de um legado não-eurocêntrico, despreza as pedagogias modernas ocidentais e aposta em outras possibilidades, como a de uma “pedagogia da estratégia” — isto é, um outro sentidos de “autoridade” através da qual a desobediência é calculada e até mesmo esperada. Último filme do senegalês Djibril Diop Mambéty, lançado após sua morte em 1998, “A pequena vendedora de Sol” (1999) é um média-metragem impressionante pela sensibilidade com que expõe um cotidiano marcado pela miséria, por relações de poder injustas e pela vontade inexorável de resistir a todo um ambiente atravessado pela opressão. O filme narra as desventuras de Sili Laam, personagem principal desempenhada pela incrível Lissa Balera, uma menina com deficiência motora nas pernas e muita personalidade para encarar a violência, o machismo e a polícia. Sili sai de sua casa no bairro pobre de Tomates em busca de comida e acaba descolando um trabalho como distribuidora do Soleil, jornal da região. A menina enfrenta o machismo dos patrões (“as mulheres também podem fazer o que os homens fazem”), a desconfiança dos distribuidores, a arbitrariedade da polícia e as ameaças do grupo de pequenos vendedores do Soleil. Contudo, vende todos os jornais a bom preço e, com o dinheiro recebido, tenta comprar uma sombrinha para a avó, mas um policial desconfia da nota de dinheiro alta e lhe dá voz de prisão. Sili responde com convicção: “só se for agora”. Chega na delegacia, mostra o recibo de vendedora, dá um pito no policial e no delegado e, para completar, questiona o aprisionamento de outra mulher que, aos gritos, alega sua inocência. Livre, comemora com amigos dançando ao som do boombox de um cadeirante desempenhado por Moussa Balde, que cobra por música tocada e que a observa durante toda a jornada. O cerco dos meninos jornaleiros cresce, eles agridem Sili, mas surge Babou Seck, um amigo que lhe salva de apanhar. Com ele, tem um diálogo esclarecedor de sua posição enquanto uma criança capaz de uma estratégia e de um sentimento ético superior em relação a sua comunidade:
— Por que o Sud vende mais do que o Soleil?
— Porque o Sud é do povo e Soleil é do governo.
— Então continuarei a vender Soleil, assim o governo se aproximará do povo…
As sequências finais são incríveis: o bando de meninos jornaleiros vendendo jornal (“África sai da zona do franco!”), roubam as muletas de Sili, ela sobe nas costas de Babou e prosseguem por um corredor escuro: “quem respirar primeiro vai ao paraíso”. Mambéty dedicou o filme “à coragem das crianças de rua”, o que de certa maneira vai direto ao ponto: sobreviver com coragem a uma situação de acentuada pobreza, repressão e divisão de classe é também o papel a ser cumprido por muitas crianças que não cabem nos códigos pedagógicos hegemônicos.

15.
Da mesma forma que reconhecemos e identificamos a criança pueril e nos emocionamos com sua aparente fragilidade, portadora do aspecto cativante de um indivíduo em crescimento, assim também nos é verossímil a representação de uma criança que, como no filme de Mambéty, demonstra uma razão superior. Uma criança que nem sempre maneja seus sentimentos com inocência e ingenuidade, algumas possuindo desde cedo o sentido da responsabilidade, da força, da resistência e da estratégia, seja mediante a ameaça do castigo, ou mesmo dos constrangimentos políticos e sociais. Novamente Bruno Ricci, o menino de “Ladrão de Bicicleta”, mas também Ahmad, a criança em “Onde fica a casa do meu amigo?” (1987), de Abbas Kiarostami. Ahmad leva o caderno de turma do colega Nematzadeh para casa e sabe que isto lhes renderá castigo. Ele se arrisca a levar possíveis palmadas do pai e da mãe e parte para o vilarejo próximo de Poshteh, onde se encontra seu amigo. Ao longo da jornada, Kiarostami vai construindo paulatinamente um personagem que tateia o mundo e utiliza seus poucos conhecimento para fazer cumprir o destino ético. Ahmad pergunta para os habitantes do vilarejo, entra nas casas, verifica a umidade da calça no varal em uma quintal, pergunta novamente, escuta atentamente os sons dos animais e das conversas ao longe, rastreia o percurso da água nos encanamentos para descobrir a presença humana e, quem sabe, encontrar seu objetivo. O medo do castigo que o professor severo impõe à desobediência faz coro com o que o avô afirma para um amigo: “é preciso dar umas palmadas para que ele não seja preguiçoso”, associando castigo físico e disciplina. Visando o nivelamento do comportamento e o fortalecimento do sentimento de responsabilidade, as crianças são submetidas a humilhações e ameaças violentas. O medo do castigo queima sua alma sem que os arautos do castigo, os adultos, facilitem ou ajudem em sua empreitada. Aliás, é na conversa entre os adultos que percebemos os motivos pelos quais uma sombra de desconfiança paira sobre as crianças. Pois conforme a fala de seu avô e dos amigos adultos de seu avô, percebe-se o quão desrespeitosos e indisciplinados são os adultos que preconizam palmadas para que as crianças não sejam desrespeitosas e indisciplinadas. O avô faz apologia da obediência ao contar uma história da época em que trabalhava como engenheiro, quando recebia pela metade por não assimilar o trabalho a ser realizado desde a primeira ordem. E completa: “temos que lhes dar disciplina para que obedeçam às ordens e recebam o salário completo.” Durante todo o filme, Ahmad defenderá justamente a “primeira ordem” sem que os adultos sequer lhes dê ouvidos. A lógica da disciplina e do castigo imposta pela escola e pela família contrasta com a atitude civilizadora de Ahmad. E, por fim, Kiarostami introduz a percepção de que crianças oprimidas pela escola mantém entre si relações solidárias e, ao contrário dos adultos, ajudam-se umas às outras.
![Title: KHANE-YE DOUST KODJAST? / WHERE IS THE FRIEND'S HOME ¥ Pers: POOR, BABEK AHMED ¥ Year: 1987 ¥ Dir: KIAROSTAMI, ABBAS ¥ Ref: KHA004AB ¥ Credit: [ INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS / THE KOBAL COLLECTION ]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Onde-fica-a-casa-do-meu-amigo.jpg)
16.
Nota conclusiva: por que irresponsáveis? Ora, Lili e Ahmad são crianças que encarnam a razão superior da infância, na infância. As representações comuns do cinema norte-americano exibem o corpo infantil como o espaço de tudo aquilo que escapa ao racional e ao compreensível: a compreensão vital, o terror, a mediunidade, a desordem absoluta, a empatia natural pela ausência de civilidade, de responsabilidade… É evidente que a heterogeneidade das representações da criança e da infância no cinema me obriga a assumir uma postura modesta, pé-no-chão, beirando a irresponsabilidade: não tenho qualquer pretensão de esgotar o tema, sequer de apontar uma interpretação geral. Também estou ciente de que misturo criança e infância, educação e pedagogia de modo demasiado ambivalente. Ok, ciente. Trata-se de uma delimitação primeira, que toma como ponto de partida um conjunto limitadíssimo de filme, um enquadramento tão breve quanto possível. Filmes e abordagens que ficaram de fora e poderiam ter entrado: “O Balão Branco”, “Boyhood”, “A infância de Ivan”, “Meninos de Tóquio”, “Aniki Bobó”, “Pather Panchali”, uma análise mais densa para “Bom dia”, os filmes de Tatit (Sr. Hulot era uma espécie de criança…), “Criança cega” do grande Van Der Keuken, “Um dia quente de verão” e “Yi Yi” de Edward Yang, “Jacquot de Nantes”…não foi possível. Sinto muito.









![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_01.31.43_[2020.07.11_22.29.31]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_01.31.43_2020.07.11_22.29.31.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_00.17.43_[2020.07.11_22.20.30]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_00.17.43_2020.07.11_22.20.30.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_00.48.53_[2020.07.11_22.21.32]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_00.48.53_2020.07.11_22.21.32.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_00.30.41_[2020.07.12_00.02.17]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_00.30.41_2020.07.12_00.02.17.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_01.29.27_[2020.07.11_22.22.15]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_01.29.27_2020.07.11_22.22.15.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_00.22.18_[2020.07.11_22.20.52]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_00.22.18_2020.07.11_22.20.52.jpg)
![Funeral.Parade.Of.Roses.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-[YTS.MX].mp4_snapshot_01.29.39_[2020.07.11_22.22.24]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Funeral.Parade.Of_.Roses_.1969.1080p.BluRay.x264.AAC-YTS.MX_.mp4_snapshot_01.29.39_2020.07.11_22.22.24.jpg)





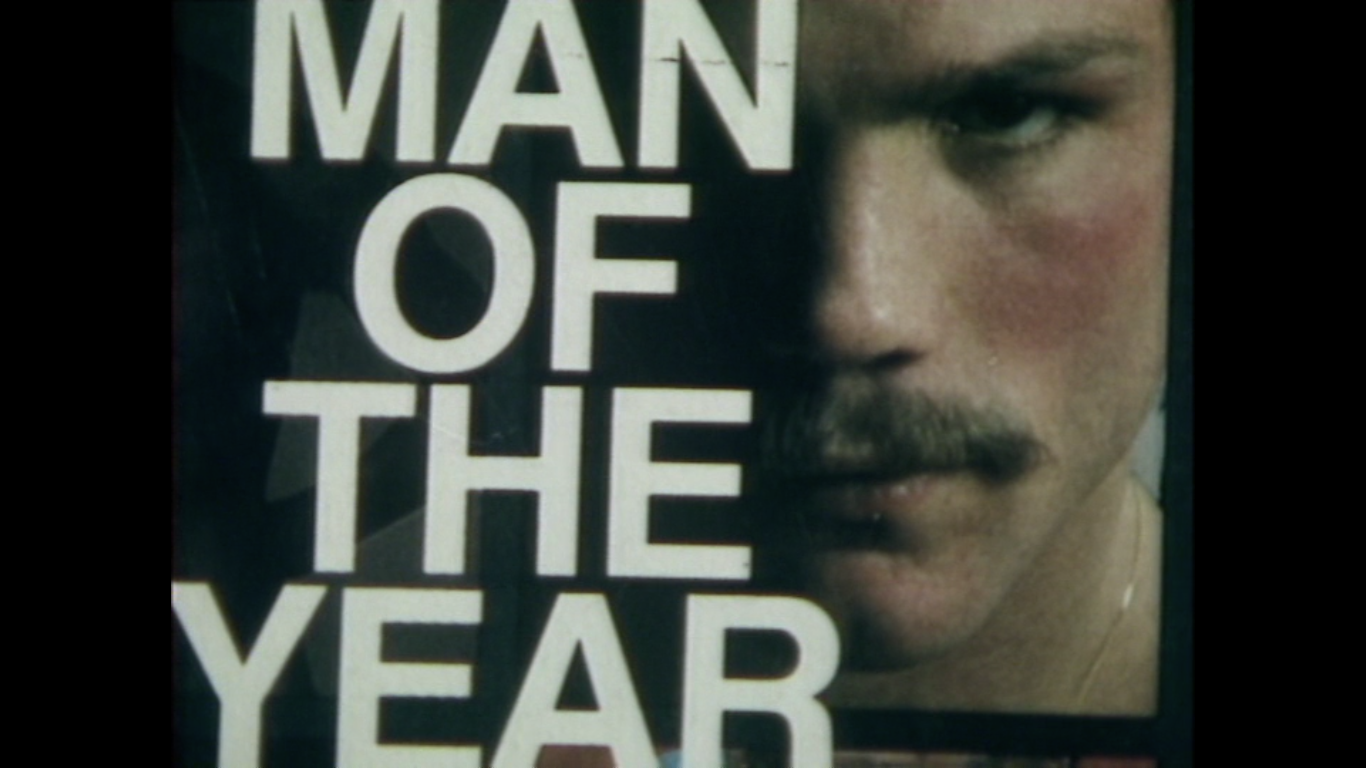











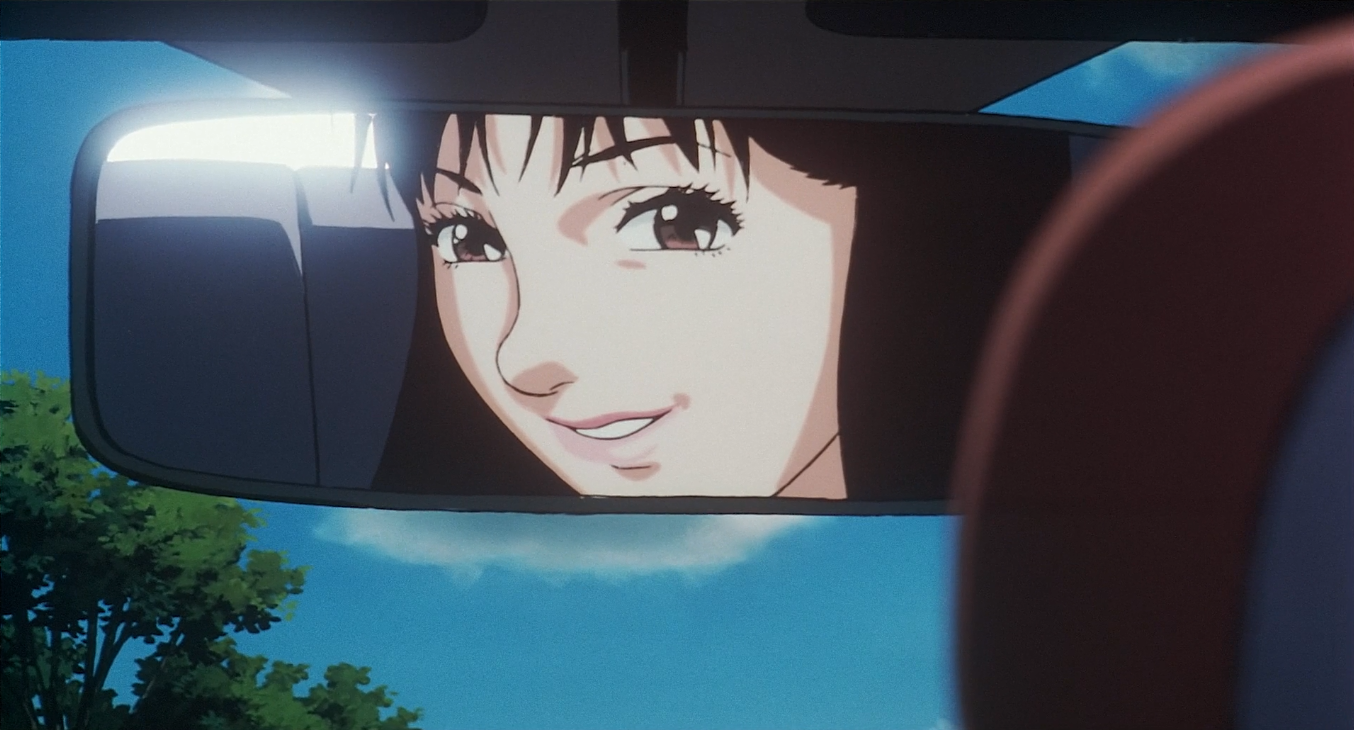





















![Title: KHANE-YE DOUST KODJAST? / WHERE IS THE FRIEND'S HOME ¥ Pers: POOR, BABEK AHMED ¥ Year: 1987 ¥ Dir: KIAROSTAMI, ABBAS ¥ Ref: KHA004AB ¥ Credit: [ INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS / THE KOBAL COLLECTION ]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Onde-fica-a-casa-do-meu-amigo.jpg)