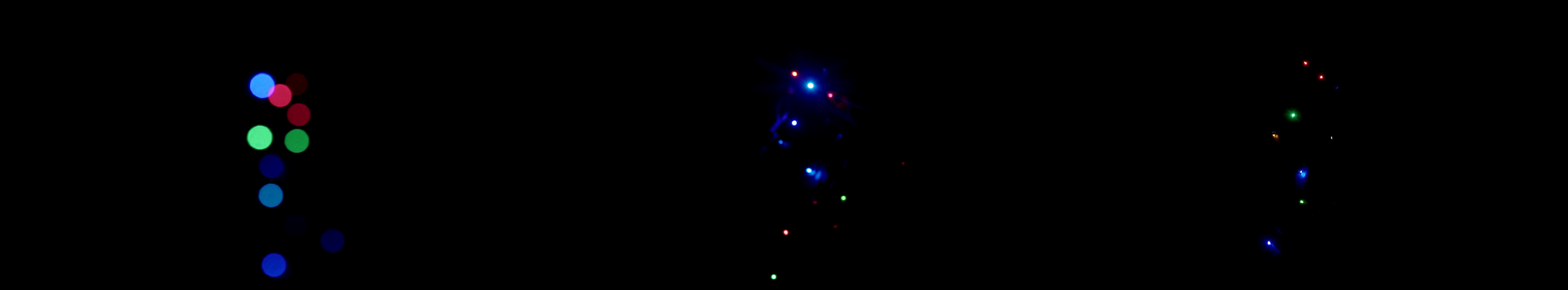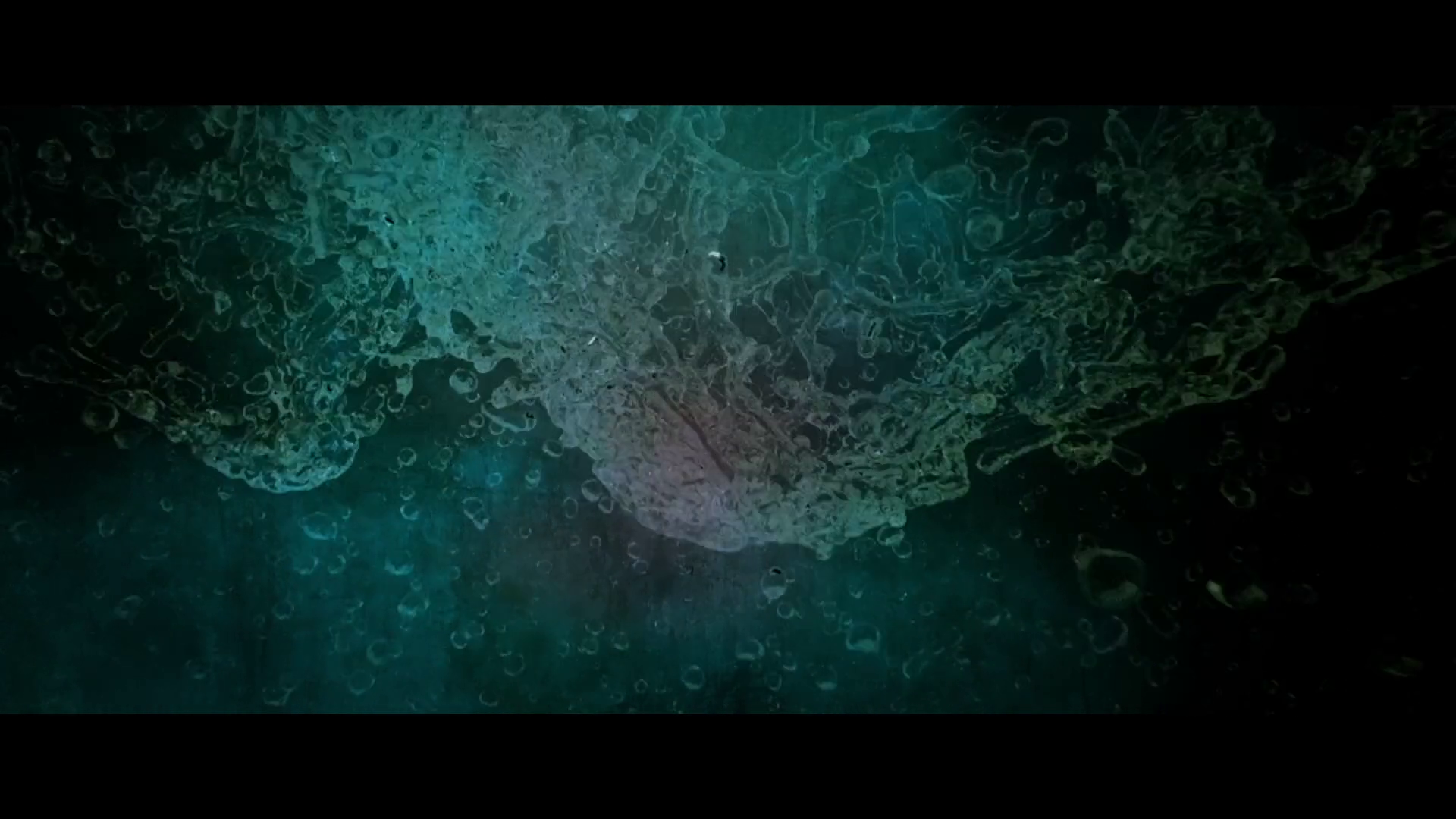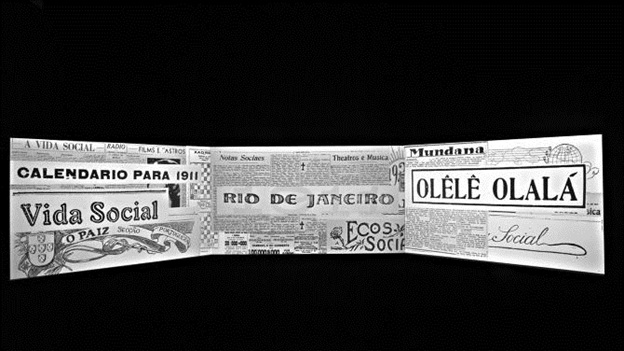Por Kênia Freitas
Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção à/ao falante. Alguém pode falar (somente) quando sua voz é ouvida. Nesta dialética, aqueles(as) que são ouvidos(as) são também aqueles(as) que “pertencem”. E aqueles(as) que não são ouvidos(as), tornam-se aqueles(as) que “não pertencem”.
(Grada Kilomba)
Não serei interrompida! Não aturo o interrompimento dos vereadores dessa casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita!
(Marielle Franco)
Cosmopoética não é nem um fetiche nem uma marca registrada, apenas um termo, um modo entre outros de apontar para uma outra relação com o mundo que privilegie a escuta – o sentido de ressonâncias e de correspondências – mais do que a visão.
(Dénètem Touam Bona)
As cenas iniciais de Sementes: mulheres pretas no poder (Éthel Oliveira e Júlia Mariano, 2020) são fotografias e imagens em branco em preto de uma grande manifestação no centro do Rio de Janeiro cobrando justiça pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. O bloco é também composto pela montagem de áudios de jornais sobre a execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes, assim como por manchetes que destacam mulheres pretas ocupando posições de poder. Essa montagem estabelece a prerrogativa do filme de Éthel Oliveira e Júlia Mariano: o trauma causado pelo assassinato de Marielle Franco e os desdobramente políticos desse trauma – com o aumento significativo de candidaturas de mulheres autodeclaradas negras a cargos legislativos nas eleições de 2018.
Prerrogativa posta, o filme entra em sua jornada acompanhando as campanhas e posses (no caso das eleitas) de seis mulheres pretas: Mônica Francisco, Rose Cipriano, Renata Souza, Jaqueline de Jesus, Tainá de Paula e Talíria Petrone – candidatas a deputada estadual ou federal pelo estado do Rio de Janeiro por partidos de esquerda (PSOL, PT e PCdoB). A partir daí, o tom histórico e mais distanciado dá lugar a um documentário observativo filmado de forma íntima e cúmplice com as personagens e os seus posicionamentos políticos. Uma cumplicidade que se desdobra na câmera presente e de escuta atenta, nos momentos banais (deslocamentos nos carros, os cabelos sendo trançados, as compras no supermercado para o novo apartamento) e nos mais marcantes (grandes manifestações, a apuração dos votos e a posse) das campanhas.
Além da câmera observativa, a composição do filme é atravessada de materiais de texturas e origens midiáticas diversas: o registro amador de abordagens policiais abusivas, os videoclipes de campanha e o seu making off, os bastidores de uma entrevista para uma equipe internacional, stories do Instagram e posts do Twitter das candidatas. Materiais montados a partir do protagonismo compartilhado pelas seis candidatas em uma estrutura de fluxo contínuo e linear estabelecida pelo passar dos meses.
A pluralidade do título informa assim a coletividade posicional que interessa ao filme como organizadora da ação – as mulheres pretas de esquerda atuando na política partidária. Ainda que ao longo da narrativa, a singularização de cada uma das candidatas possa ser perceptível (por suas trajetórias, locais de atuação e formas de se expressar), o trabalho que as diretoras se propõem política e esteticamente é o de amalgamar essa vivências em um corpo multifacetado mas único.


Dessa forma, a apresentação das candidatas vai enfocar momentos de encontro e comunhão, como Mônica Francisco (que é pastora) no culto da Nossa Igreja Brasileira, Tainá de Paula no lançamento da pré-candidatura aberta por uma apresentação de dança afro, Rose Cipriano, Renata Souza e Talíria Petrone participando da 4ª Marcha das Mulheres Negras. Nesses encontros, a escuta se volta tanto para o discurso das candidatas, quanto para vozes, músicas e sons dos ambientes – tambor, orações e abraços.
Como uma boa parte do filme se faz dentro das fronteiras desse corpo coletivo – entre rodas de conversa da militância, reuniões das equipes de campanha e atos de esquerda -, a entrega dos santinhos faz chocar esse corpo com outros, com um fora. Sequências cruciais na constituição desse corpo comum pela repetição de gestos e modos de falar, e também pela repetição de experiências menos controladas – encontros às vezes breves e felizes, e outras vezes desencontros e não escutas. Isso culmina na cena em que uma ambulante diz para Jaqueline de Jesus que já tem candidato e ele é do Partido Novo e o diálogo se encerra de imediato com um “boa sorte!”. De ambas as partes, não há o que dizer – da parte do filme cúmplice também.
Nesse sentido, Sementes é um filme sobre a criação de um novo pertencimento (o político partidário para as mulheres pretas) a partir do trauma. Um pertencimento que se faz, no filme e para fora, centrando a posicionalidade dessas mulheres pretas como ponto de vista e de escuta. Dentro desse corpo coletivo tudo ressoa e germina, o fora dele (os “novos”, a família Bolsonaro e os quebradores de placa) é uma contagem de votos que emudece os comitês estarrecidos.
Politicamente #eagoraoque (Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald, 2020) se situa no mesmo momento em que Sementes (Éthel Oliveira e Júlia Mariano, 2020), ambos próximos a avassaladora vitória da extrema direita nas eleições de 2018. O ponto de partida do filme de Bernardet e Rewald é da crise da esquerda – do “esgotamento profundo dos modos de organização das lutas e das mobilizações” ou da sua “incapacidade de sair da reatividade e propor pautas” – como diagnostica o artigo escrito por Vladimir Safatle e lido por Bernardet no começo do filme. A estratégia narrativa do filme passa longe da cumplicidade e da criação de pertencimento, sendo a de incitar e ampliar essa crise e os seus efeitos de incertezas. A pergunta “e agora o que?” do título é ao mesmo tempo um ponto de partida e um ponto de chegada para filme que se firma na impossibilidade de qualquer resolução.
Estratégia já posta na própria forma do filme – uma auto-ficção ou ficção feita a partir de personagens reais (bem no estilo Bernardet de jogar com os limites entre ficção, documentário, filme experimental e ensaio). Vladimir Safatle interpreta o intelectual paralisado pela crise; Bernardet seu pai, um militante saudosista e Palomaris Mathias a interlocutora política da dupla. A partir disso, o filme passa a propor uma série de situações e encontros – mais ou menos estruturados, às vezes totalmente ficcionalizados e outras atravessados pela não ficção – para provocar ainda mais a situação de crise.
Essas situações são em grande parte atravessadas pela impossibilidade de comunicação entre os diversos grupos dentro da esquerda – grupos de geração, de gênero, de classe, de raça, etc. Uma comunicação impossibilitada não pela ausência da fala (os muitos trechos de entrevistas, palestras e discursos públicos de Safatle incorporados ao filme ressaltam a eloquência verborrágica do filósofo), mas marcada sobretudo pela incapacidade de escuta. Uma não escuta encenada de inúmeras maneiras no filme: a impassividade de Safatle com a performance perturbadora do ator do Teatro Oficina que grita na sua cara; na cena em que o trio de protagonistas finge normalidade enquanto tem a sua conversa atravessada pela faxineira que liga o aspirador de pó; a briga com a filha estudante universitária pela recusa do intelectual em crise de participar da assembleia.
Ancorando-se na incapacidade de ouvir desse intelectual em crise, a não-escuta é assumida pelos diretores como uma performance estética e política para o filme. A performance da não-escuta da personagem principal parece inicialmente uma estratégia auto-depreciativa para questionar a posicionalidade normativa do seu protagonista – homem, branco, cis, hétero, de classe média alta. Isso sobretudo quando essa não escuta é assumida enquanto encenação – a cena da reunião com a enceradeira, o comentário aleatório da atendente no café, o embate entre pai e filha ou pai e filho.
No entanto, mais do que a auto-depreciação, o que ocorre neste dispositivo fílmico é o centramento desse homem, cis e branco. A coletividade “esquerda” que o filme apresenta em crise e para a qual lança a pergunta “E agora o que?” mostra-se na narrativa menos atravessada por uma multiplicidade de raça, gênero e classe dos personagens reais e ficcionais que passam pelo filme, e mais alicerçada nessa experiência normativa do homem branco como o ponto de vista e de (não) escuta. Ao mesmo tempo em que ancora, essa experiência apaga a existência de sua própria posicionalidade.
Nesse sentido, a decisão de não identificar de maneira explícita no filme ou nos créditos quem são as personagens reais e as personagens fictícias que os atores interpretam não equaciona de forma anônima os participantes. Ao contrário, reforça as desigualdades de status sociais e de notoriedade pública previamente existentes. Uma cena que marca a decisão deliberada de não posicionalidade do protagonista é do recital de piano, em que após apresentação o intelectual encontra seus pares (outros homens e mulheres brancos de classe alta) e começa a fazer perguntas constrangedoras e hostis sobre posicionamentos políticos e financeiros que os seus pares estruturam. Como o indagador impertinente, o personagem se coloca fora do seu pertencimento de classe e raça.
Em termos narrativos, a invisibilização dessa posicionalidade específica parece contar com a associação automática da experiência do homem branco com a do sujeito neutro e universal – o seu pertencimento não precisa ser criado, foi herdado. E, isso posto, as premissas que atravessam o filme são reforçadas: a não-escuta vira não diálogo, a incapacidade de conversar vira reatividade da esquerda, que vira falência generalizada dos processos de organização e luta.
Não por acaso, o filme se encerra na conversa tensa entre Safatle e os moradores do Capão Redondo, em que os militantes da quebrada recusam a aliança proposta pelo intelectual – “nós aqui e vocês lá”, diz um dos jovens. De um ponto de vista narrativo, essa seria a cena que poderia sustentar a hipótese do não diálogo e da reatividade da esquerda fraturada pelo identitarismo neoliberal individualista. Porém, se a escutarmos a partir da afirmação de um “nós” e um “vocês”, a recusa pode ser ouvida não como uma aversão ao diálogo, e sim como um dissenso à persistência da naturalização da posicionalidade normativa (branca, cis e masculina) como neutra e universal.