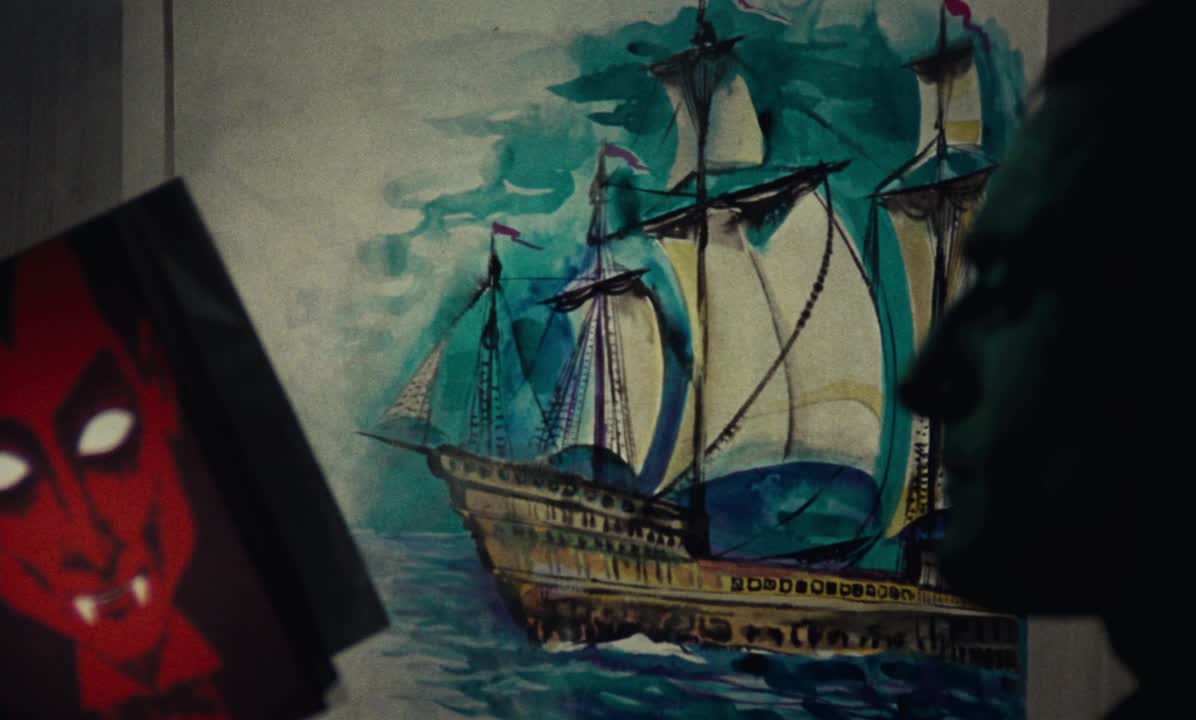Por Fernando Mendonça
“Meus olhos têm um brilho totalmente diverso.
Receio que eles façam buracos no céu.”
Nietzsche
Já não é tão fácil encontrar a solidão. Há quem pense ser a sociedade do séc. XXI prioritariamente solitária, preenchida por indivíduos que se perdem alheios ao movimento do próximo, que restringem seus atos aos desejos mais imediatos, como virtualidades e distopias ocupadas em contorcer o espaço, abandonando suas identidades a uma condição de real obtusa, simulada. Mas é questionável a verdadeira qualidade deste estar só, num mundo que já não ‘progride’ sem a perpétua distração dos sentidos, sem multiplicar os anseios de um Eu que se perceba presente e seja alguém numa multidão de máscaras. Já não conseguimos tão fácil a fuga destas distrações, a apreciação de se satisfazer com ausências, com faltas que também importam para que existamos completos. Roubam-nos de nós mesmos. Distraem-nos do que vai na alma.
Até que um filme como Noites Brancas no Píer surge, revolvendo o espírito de um tempo, escavando a procura de uma dimensão que supere a aparência das formas, que restitua o prazer e a saúde do bom isolamento. Obra que não tem medo de se erguer sozinha num cenário que pouco tem a oferecer além do desamparo, pois bem sabe que nesta coragem encontrará seus pares e igualmente ecoará outros possíveis perdidos, outros estranhos não encaixados. Solidão é coisa que melhor se vive a dois, que na força de uma conversa sincera esvazia os resíduos de uma civilização.
É impossível não considerar a companhia que Paul Vecchiali vem prestar aquele que talvez seja o cineasta mais solitário da atualidade. Ao Jean-Marie Straub de Diálogo de Sombras (2013), as novas Noites contrapõem a mais bela troca de confidências que dois artistas travaram nos últimos anos, claramente, através da expressão que conosco também partilham. Eis aí dois filmes que se correspondem com a intimidade de amigos, que juntos provocam uma plenitude pouco encontrada, acentuando a maneira como se isolam do cinema restante. Pois são eles que restam. Na extrema contramão, são eles que nos prestam o favor de recordar a essência.
Respondem-se como num jogo: Straub filma o dia para nos dar as sombras, Vecchiali filma a noite para nos dar a luz. Se desde L’Étrangleur (1970), a condição noturna não importava tão visceralmente para o seu universo, em Noites Brancas no Píer vemos a inauguração de uma nova ordem temporal para Vecchiali. O que não surpreende nada, já que tratamos aqui de um artista que parece recomeçar suas pesquisas do zero a cada nova experiência, desafiando a capacidade rasteira de observação a que nos acostumamos, especialmente diante de carreira longas, profícuas. Outro exemplo: não é porque Noites Brancas alicerça boa parte de seus efeitos no uso da palavra, que poderemos evocar as inesquecíveis verborragias de Femmes Femmes (1974) ou Le Café des Jules (1989). Naqueles casos, digladiavam-se personagens que para falar, existiam; hoje, nos deparamos com seres que para existir, falam.
No domínio da palavra, justamente, é que se aliançam Vecchiali e Straub. O espanto é o mesmo nos dois filmes: diálogos que aproximam as vozes pela certeza da separação, verbos que constroem pontes sobre abismos intransponíveis, ou seja, verbos falhos, falidos em seu intento nobre (daí ter a palavra um tratamento diverso de outros realizadores importantes que também a estão operando com ênfase – Bressane, Linklater, Green –, aqui, a palavra cresce pela sua impotência, pelo que não pode consumar e a torna, com toda intensidade, um elemento humano, finito). Num e noutro, casais que só podem ser uma carne por aquilo que dizem, que confessam, seja pela lembrança ou pela invenção (toda memória é criada).
Ao luto que recobre o filme de 2013, Vecchiali responde com vozes que também não podem ser mais do que fantasmas. Píer que é teatro, mas também cemitério, eis o cenário perfeito de uma fronteira: entre o céu, a terra e as águas, eclodem as forças de toda tragédia. Aos cortes que Straub assina como mecanismos de singularidade, pois são eles que definem os limites de um corpo-plano, Vecchiali contrasta o forjar da iluminação, a farsa que somente o ângulo exato de um holofote pode narrar. Assim que, na conversa de seu casal, são as luzes que convidam as palavras para o baile, clareando ou obscurecendo a sonoridade, definindo o alcance de cada sentimento. E se Godard já foi um dos que fizeram questão de confirmar Vecchiali como herdeiro direto de Minnelli, agora não há dúvidas de que toda boa música também é uma questão de luz.
Não adianta falar muito sobre esta cena rompante de Noites Brancas, o momento mais Fred Astaire que o cinema deste século poderia gerar. A pausa que os atores fazem nas vozes para que o diálogo prossiga dentro da inquietante coreografia-surpresa é o que nos permite sentir mais totalmente a melancolia que até ali tínhamos por sugestão de texto. Por incrível que pareça, esta é a sequência que melhor representa a origem literária de Dostoievski, um dos escritores que da maneira mais refinada nos ensinou a desconfiar do verbo, a entender que as vozes também se manifestam no pormenor das entrelinhas, que elas também nos revelam por aquilo que escolhem calar.
Se pela palavra o casal de Noites Brancas, livro e filme, pode se irmanar e almejar a esperança de um amor concreto, também é por aquilo que não cabe no discurso que vemos se construir a tristeza de uma abstração. Dançamos quando já não temos outro meio de sentir o outro na pele, quando não temos mais confiança nos minutos seguintes e entendemos que tudo consiste em manter a presença, em perdurar o que já nasce como um fim. Balé mais solitário que se poderia traçar, Vecchiali encerra com esta cena a sua leitura de um desencontro humano, como num rito fúnebre, pois toda música e toda palavra (e por que não a imagem) só pode terminar em silêncio.