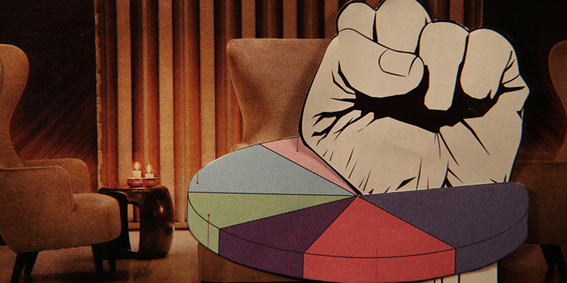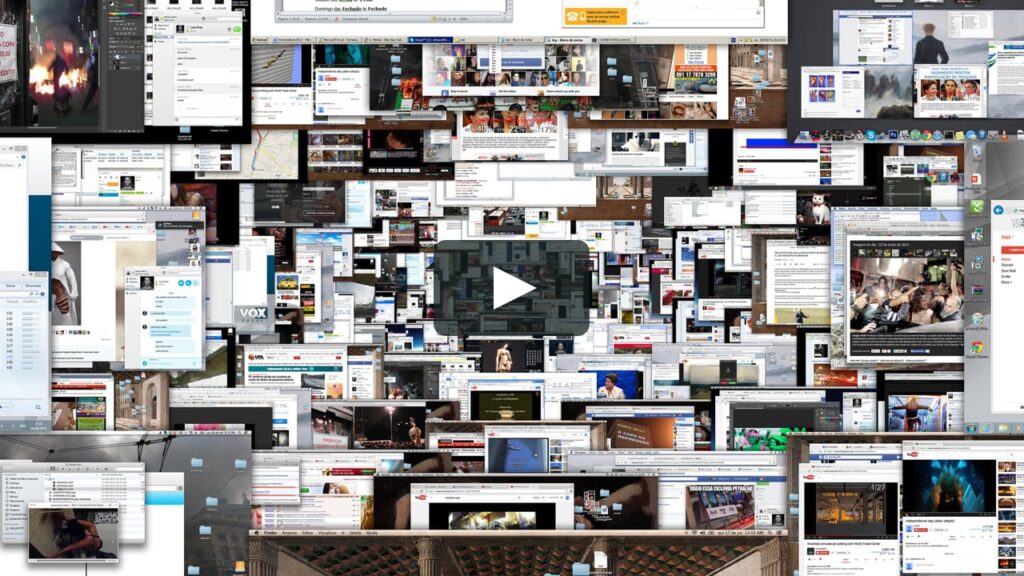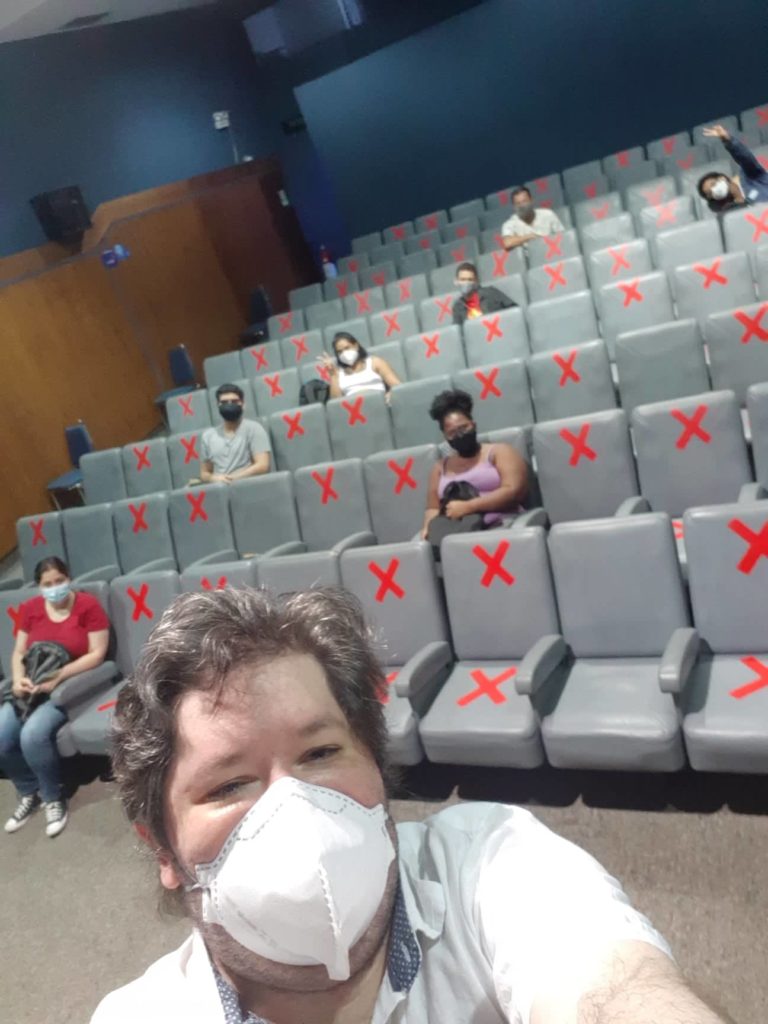Por Pedro Tavares
Desde a década de 70 o prolífico realizador americano Lewis Klahr une técnicas de animação ao cinema vanguardista que através dos últimos anos ajudou a recontar e reler a história americana moderna. Dono de um trabalho único, Klahr passeia por pilares da cultura pop americana como os quadrinhos, pulp fiction, o film noir e tem uma relação estreita com o som – ou a falta dele. Conversei um pouco com Lewis sobre o seu trabalho de modo geral, e, principalmente, sobre sua relação com o silêncio, a dessincronia, a ausência, o ruído, trilhas etc.
Oi Lewis, obrigado por aceitar o nosso convite. Esta edição da revista é sobre cinema e silêncio.
Hmmm…Acho que o silêncio no filme ainda é um som altamente específico. Por exemplo, recentemente completei a trilha sonora de um novo filme intitulado Thin Rain. Inspirado no Film Noir, Thin Rain conta a história de um protagonista amnésico que perde a memória após ser atingido na nuca pelo cabo de uma arma. Antes desse ataque, a trilha sonora tem música sinfônica. Uma vez que o protagonista perde a memória a música acaba e é substituída pelo ruído branco de um faixa óptica analógica de 16 mm em branco. Chamamos isso de “branco” óptico, mas está cheio de som: estalos, arranhões e assobios!
O silêncio foi algo que me chamou a atenção quando vi um de seus filmes pela primeira vez em um cinema. Acho que foi Sixty-Six.
Eu uso principalmente o silêncio em Sixty-Six como um separador convencional do filmes individuais, um limpador de palato de curta duração (5-10 segundos). Mas o curta Ambrosia, que ocorre na última parte de Sixty-Six, é mudo e exigia um sequenciamento cuidadoso para posicioná-lo efetivamente porque obter um filme mudo seguir efetivamente um filme sonoro é um desafio estético. Os filmes em Sixty-Six que precedem diretamente Ambrosia precisavam gradualmente acalmar para ter algum sucesso. Considerando que, o filme que se seguiu Ambrosia e voltou a ter som, teve uma flexibilidade muito maior em termos de o que sua trilha sonora poderia conter.
Eu gostaria, se possível, que você falasse um pouco sobre a relação de duplicidade imagem-som, já que suas imagens envolvem um caminho que sinto que é de emancipação justamente pelo uso do som.
Eu não descreveria minha relação com som e imagem como “dúplice”, mas esse é um pensamento interessante. Eu não estou muito claro sobre o que você descreve, mas tentando adivinhar o que eu suspeito que você queira dizer, eu raramente estou interessado em criar uma paisagem sonora “realista” ou completa. Muitas vezes minha abordagem resulta em um uso limitado ou focado de som em que apenas algumas partes do som que uma imagem pode sugerir são representadas auditivamente. Partes da imagem que não são representadas permanecem silenciosas e visuais.
Nos seus filmes costuma haver uma quebra de silêncio muito consistente, como o seu filme mais recente A Rosa Azul do Esquecimento, que me lembra um musical e logo se encontra na confluência do silêncio e de uma narrativa em signos fortíssimos.
Em A Rosa Azul do Esquecimento (The Blue Rose of Forgetfulness, 2022) acho que o exemplo mais claro do que você está perguntando sobre ocorre no quarto filme da série – Blue Sun. Este filme utiliza como material de origem imagens de uma história em quadrinhos do Agente Secreto da final dos anos 1960. Usei uma caixa de luz para iluminar os dois lados da história em quadrinhos e revelar sobreposições. Em minhas filmagens, procuro então colher o mais interessante dessas sobreposições. A trilha sonora de Blue Sun tem 3 seções diferentes, sendo a primeira a tocando ao contrário de O cisne de Tuonella, de Sibelius. Após 8 minutos a peça termina e esta exuberante música orquestral dá lugar a um ultra mundano som de paisagem urbana que registrei de pássaros cantando e carros passando que dura por aproximadamente 5 minutos. Depois disso, apenas nos últimos 30 segundos de imagens, há um silêncio que cria uma espécie de vazio, ou uma ausência, como o ar a escapar de um balão. A atenção total do espectador agora é brevemente dada às imagens. Todas as 3 abordagens ao som alteram significativamente à forma como o espectador experimenta a imagem. Essa mudança de envolvimento do espectador ao longo de toda a minha filmografia é uma parte importante de seu envolvimento e estruturação estética para mim. Concordo que posso ser descrito como fazendo “musicais”. No nível mais óbvio quando uso músicas pop como trilhas sonoras, as letras geralmente contam uma história e muitas vezes agem da mesma forma que o diálogo ou a narração de voz em um filme narrativo. Mas, assim como no cinema narrativo, em que o roteiro não é o filme, as letras também não são o filme aqui. Minhas imagens alteram, contradizem e também apoiam as letras. Por exemplo, em meu filme de 2010, Nimbus Smile, eu uso a icônica música do Velvet Underground, Pale Blue Eyes, como trilha sonora. No entanto, a mulher dos quadrinhos que estou usando como protagonista claramente tem olhos negros, não olhos azuis. Isso levanta questões sobre se ela é a mulher sendo cantada sobre. Simultaneamente a encenação é preenchida com imagens que contêm diferentes tons de azul. Espero que o público perceba e pergunte por que esse deslocamento de cor do azul dos olhos da protagonista feminina na letra está ocorrendo e o que ela pode expressar.
Em Prazeres Circunstanciais (Circumstantial Pleasures, 2020) não é uma mudança para o silêncio que acontece, mas uma grande mudança que ocorre de forma diferente através de uma viagem de trem com os sons de avisos e do próprio motor. Como você pensa sobre esse tipo de composição?
Prazeres Circunstanciais difere da maioria dos meus outros filmes porque é preocupado em descrever o mundo contemporâneo e apenas o muito recente passado. High Rise, o filme de trem que você mencionou acima, é o único filme da série inteira que não usa música para sua trilha sonora. É uma ação ao vivo, filmado no meu telefone na China durante o verão de 2016 em alta velocidade no trem viajando para Pequim. Filmado em um plano contínuo de quase dois minutos são as torres de passagem de um enorme complexo de apartamentos que está sob construção. Este complexo de apartamentos não tem som audível. O som de sincronização ouvido em High Rise é do espaço fora da tela dos trilhos do trem e do vagão de trem interior em que estou viajando. Este filme fornece uma forte contraste com os outros filmes que o precederam na série, já que nenhum deles são de ação ao vivo e todos usam imagens de colagem de quadro único. Mas uma coisa engraçada acontece – os prédios em construção são tão caricaturais como em aparência que vários membros da audiência me perguntaram o que exatamente eles estão vendo – se High Rise também é uma animação e não um filme de live-action.
O que me fascina nos seus filmes é que existe esse tipo de deslocamento, mas ao mesmo tempo há uma ligação muito forte com um período de tempo específico, como o Film Noir. Suas trilhas sonoras reforçam uma jornada no passado, mas o que você faz com o silêncio é um trabalho que se baseia na contemporaneidade a meu ver, principalmente quando falamos de cineastas experimentais. Você acha que há algum sentido nisso?
Sim, é uma percepção interessante. Ser um pensador associativo e montagista – pretendo muito criar experiências que possam ser compreendidas simultaneamente de várias maneiras diferentes, mesmo que pareçam contraditóras ou paradoxais. Eu também incluo anomalias visuais em meus filmes de imagens atuais para deixar claro que meus filmes apesar de serem historicamente descritivos estão sendo feitas no presente.
O som do cinema experimental tem alguma influência no seu trabalho?
Sim, claro. A influência mais óbvia é o meu uso da música, tanto pop e clássicos. Sou especialmente grato aos filmes de Kenneth Anger, Bruce Conner, Jack Smith, Ken Jacobs e Harry Smith. A maneira como todos eles usaram a música como fonte de material de colagem e também como elemento essencial de sua montagem foi seminal para mim como desenvolvimento para ser um cineasta. No entanto, acho que vale a pena notar que quando decidi as trilhas sonoras tão centradas na música como têm sido nos últimos 30 anos, isso foi considerado uma escolha muito inaceitável pelo mundo do cinema experimental. Lá era essa ideia (menos predominante agora, mas ainda existente) que ser music-centric estava fora de moda e era uma abordagem muito fácil – como se estivesse trapaceando (risos). Que ser centrado na música era algo que o filme experimental havia superado e deixado para trás, ao invés de ser uma escolha de gênero com um rica e fértil tradição e história própria com altíssimos padrões de eficácia assim como qualquer outro gênero.
E logicamente, seus filmes são intrínsecos à experiência de leitura de histórias em quadrinhos junto com a projeção que pode ser composta por trilha sonora ou não.
Meus personagens costumam falar na palavra balões das histórias em quadrinhos. às vezes o que eles falam não é para ser entendido e é por isso que as palavras são riscadas ou as frases são interrompidas. Esses balões de fala servem apenas para indicar que a fala está ocorrendo – há muitos momentos semelhantes em filmes narrativos onde o diálogo é inaudível. Além disso, às vezes eu corto um personagem de quadrinhos e deixo em anexo algumas palavras que eles estão falando na história de onde foram tiradas. Essas palavras raramente se relacionam com a história meu filme está dizendo. No entanto, essas palavras sugerem claramente a história dos meus personagens apropriados. Eu quero que o público pense sobre esta história do contexto original em que meus personagens existiram. Meus personagens falando em balões de palavras em quadrinhos raramente falam em voz alta. Eu realmente gosto desse tipo de deslocamento de ter o som aparecendo visualmente. A especificidade desta visualização que tento fazer como algo preciso e possível. Por exemplo, há um momento em Alceste, outro filme de A Rosa Azul do Esquecimento, onde a personagem-título tem um orgasmo e ela diz “Oh, Oh, Oh”. Isso é escrito à mão em caneta, enquanto normalmente, quando Alceste fala, aparece como palavras digitadas em balões de fala. A caligrafia transmite tanto a intimidade quanto a individualidade desse momento.
O quanto você quer controlar a interpretação do significado do seu filme e se isso é uma consideração para você durante o processo de criação?
Sim, considero a recepção do espectador ao fazer meus filmes. Por exemplo, a descrição do diálogo em Alceste que acabei de falar pode ou não ser compreendido por um público. Muitas vezes estou dizendo a mim mesmo uma história em minhas escolhas estéticas que sei que serão apenas parcialmente compreendidas pela maioria dos meus espectadores. Através de uma longa experiência de trabalho desta forma, eu tenho aprendido que cada espectador irá montar as imagens para especificidades idiossincráticas de seus interesses, experiências e subjetividades. Em efeito, muitas vezes inventam sua própria versão da história que tem pouco a fazer com o que estou tentando transmitir. Estou confortável com esta abertura de interpretação e considero isso um ponto forte da minha narrativa.
Falando especificamente da A Rosa Azul do Esquecimento, como você criou a trilha sonora do filme e como foi trabalhar com essas músicas como dispositivo dramático? Há um uso muito interessante de dessincronização [de-sync] nele.
Ao criar a sequência [de filmes] para A Rosa Azul do Esquecimento, encontrar o fluxo da música e do som tornou-se a prioridade de como os filmes me permitiriam sequenciá-los. Fiquei chocado com a especificidade desse fluxo. É provavelmente o sequenciamento mais forte dos meus filmes sonoramente que eu já criei. Eu sou especialmente satisfeito com o fluxo dos primeiros 4 filmes – Monogram, Swollen Kisses, Capitulations Promise e Blue Sun. Isso não é algo que eu intencionalmente defino para realizar, mas descubro como uma essência/aspecto desses filmes enquanto eu tentava sequenciá-los. Foi muito surpreendente para mim – eu nunca teria pensado em sequenciá-los do jeito que eu fiz. Por exemplo, eu imaginei que Capitulations Promise, o filme com a música da Lana Del Rey, nunca poderia seguir o filme Swollen Kisses com as canções de Julie London. Eu pensei que precisariam ser separados por causa de sua semelhança de sentimento e humor. Em vez disso, descobri a eficácia de sua proximidade intuitivamente através de um árduo processo de tentativa e erro que exigia múltiplas visualizações de diferentes sequências de teste. houve uma grande crueldade e honestidade necessárias para acertar. Trabalho muito duro! Quanto ao que você está chamando de “de-sync”, nunca ouvi esse termo antes e gostei muito! Eu mantenho a exigência muito alta em termos de ter motivos para usar uma determinada peça de música, especialmente canções pop. Muitas vezes é importante que a imagem entra e saia de sincronia com a batida da música para criar um contraste e contraponto ritmicamente. Como já disse, estou muito interessado em mudar o envolvimento do espectador com a imagem à medida que o filme avança – então passando da música para o silêncio ou efeitos sonoros, muitas vezes produz uma significativa mudança que altera a forma como as imagens são absorvidas e compreendidas por um espectador. Eu também costumo editar imagens para serem muito ativas e rápidas em uma breve pausa silenciosa na própria música. Minhas edições estão continuando o ritmo e também criando um som silencioso que preenche visualmente essa lacuna auditiva.
Falando mais em de-sync, como você torna isso uma opção em seus filmes?
Swollen Kisses é um bom exemplo de como trabalho com o que você chama de de-sync. Criei um mash-up de músicas da Julie London onde ela é literalmente cantando consigo mesma. Tive a ideia de fazer isso porque estava atento ao fraseado de Julie London e o tempo claramente excessivo que ela pausas nas entrelinhas da letra. Esta pausa silenciosa foi longa o suficiente para permitir que outra letra de uma música diferente de London fosse cantada. A justaposição resultante das letras de 2 baladas românticas cria uma nova versão alternativa de ambas as músicas. Há uma abertura narrativa, poética oferecida por esta abordagem que encoraja a interpretação do espectador – um novo e terceiro fluxo que contém continuidades e descontinuidades assim como minhas imagens.