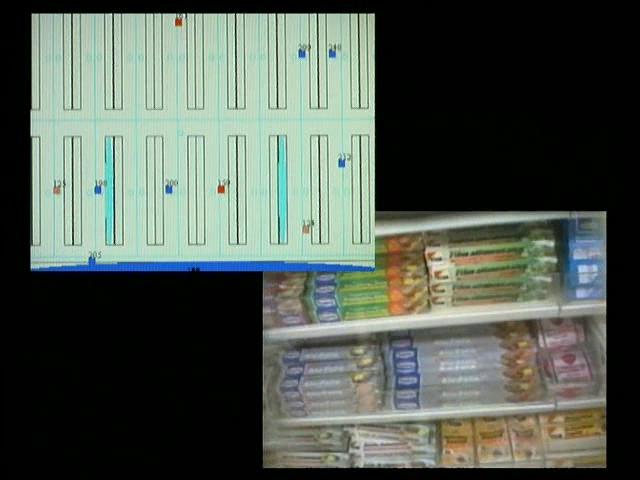Por Camila Vieira

O primeiro plano de Medo do escuro (2015), de Ivo Lopes Araújo, apresenta em contra plongée dois prédios abandonados. Entre eles, é possível avistar o céu ser invadido por imensas nuvens brancas que estão a passar e que ocupam completamente o azul com uma grande e densa névoa. É uma atmosfera de um lamento fúnebre, uma figura ameaçadora como uma luz gigantesca e destruidora. Um holofote de um tempo de aniquilação das vidas. Aqui me amparo em Sobrevivência dos Vagalumes (2011), de Georges Didi-Huberman (2011), quando alerta para a luz feroz dos projetores que levarão ao desaparecimento dos vagalumes. Por meio do ofuscamento dessa luz branca, reina o fascismo triunfante.
Como seria possível para um corpo resistir ao fascismo que vai se disseminando pela paisagem de Medo do escuro? Antes de arriscar uma resposta, será preciso entender como o filme articula duas vontades singulares. O primeiro gesto é do levante, convocado pelas próprias palavras de Ivo Lopes Araújo sobre o filme. Um levante que se desdobra na própria feitura do filme. É toda uma cena artística de Fortaleza que é convocada como força coletiva dentro do filme: poetas, performers, músicos. O ator principal é Jonnata Doll, cantor e performer. A trilha musical do filme era executada ao vivo por um quarteto de músicos – Ivo Lopes Araújo, Vitor Colares, Uirá dos Reis e Thaís de Campos. Exibir o filme era uma aventura de viajar junto com um grupo. Cada exibição tinha o caráter de uma experiência única. Medo do escuro é um filme em processo, um work in progress. É até difícil exibir em uma sala de aula, porque sua experiência parece ser da ordem do provisório.
O provisório leva ao segundo gesto. Um filme rodado em 16mm, com película vencida, em que se tinha três horas de material bruto para resultar em um filme de 55 minutos. Cada take filmado era um take único. Seria preciso confiar na performance dos atores para que o filme acontecesse. Confiar na potencialidade do fragmento como estratégia para uma dramaturgia possível. Performance e fragmento compõem diferentes modos de articulação do que se encena, em uma vontade de instaurar um cenário pós-apocalíptico. Medo do escuro aposta no artifício como experimentação estética a partir da construção de imagens alegóricas, na tentativa de estremecer as relações contíguas com um real previamente conhecido.
Abrir caminhos para sentidos múltiplos e provisórios é fazer também uso da alegoria como contraponto ao simbólico. Enquanto as metáforas e os símbolos apontam para unívocas interpretações de mundo, a alegoria possibilita uma proliferação de sentidos, que sempre mudam a cada olhar e criam momentos de interrupção no solo petrificado da significação. Tomo aqui o conceito de alegoria em Walter Benjamin (1984) para quem a alegoria configura-se como resistência ao símbolo. Diz Benjamin na Origem do Drama Barroco (1984): “alegoria não é frívola técnica de ilustração por imagens”. Nada na alegoria é definitivo.
O pesquisador Rainer Rochlitz dedica um trecho de seu livro O desencantamento da arte (2003) para compreender de que maneira a alegoria é elemento importante para construção de uma teoria da arte para Benjamin: “A alegoria não é aqui simplesmente um tropo, uma figura de estilo substituindo uma ideia por outra que lhe é análoga (…) a alegoria é não somente o princípio formal de um certo tipo de arte – desse ponto de vista, ela se opõe ao ‘símbolo’ ou a uma arte definida como ‘simbólica’ – mas ainda, mais que um conceito retórico ou mesmo poético, um conceito estético que remete à coerência de uma visão de mundo”.
Não se trata de compreender a alegoria como “uma técnica lúdica de figuração metaforizada”, como explica Rochlitz, mas como expressão, um conceito estético. Na alegoria, a face hipocrática da história se oferece ao olhar do espectador como paisagem primitiva petrificada. É “a história, naquilo que ela tem de intempestivo, de doloroso, de malogrado”, afirma Benjamin. A alegoria benjaminiana é uma recusa radical de qualquer reconciliação simbólica. Está mais próxima de uma experiência da história com um olhar profundo que, segundo Benjamin, “transforma, de um só golpe, as coisas e as obras”.
Se preferirmos enfrentar a força da alegoria nas imagens de Medo do escuro, parece ser preciso sempre retornar ao filme e, a cada nova exibição, pensar de forma diferente em relação ao que está sendo colocado em jogo. Ainda segundo Rochlitz, “a alegoria faz aparecer a fragilidade do símbolo, sua vitória sempre provisória e momentânea sobre a ‘arbitrariedade do signo’. A escritura expressiva da alegoria é destrutiva”. Ao lançar mão de imagens alegóricas, Medo do escuro provoca determinadas rupturas no olhar. Penso não apenas naquilo que conseguimos ver dentro de um campo limitado de uma tautologia das imagens, mas como o filme opera buracos, rachaduras, ausências em uma certa platitude da visibilidade, que a nós parece já estar acomodada e domesticada. Em outras palavras, seria possível pensar junto com Didi-Huberman que aquilo que vemos também nos olha.
Considero gestos de operações de figuras cinematográficas em que a imagem acaba por rachar, cindir, ser perturbada por rastros, marcada por vestígios que colocam em questão ou em suspensão regimes de visibilidade do contemporâneo que podem conduzir às tiranias de uma mirada realista naturalista ou de uma interpretação simbólica. Na alegoria, uma imagem não está a serviço de um modo de ilustração ou simbologia de algo dado no mundo, mas como potencial dialético que intercepta o símbolo ao convocar o provisório, o fragmento, o vestígio. De acordo com o pensamento benjaminiano, “na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, ruína. Sua beleza simbólica se evapora. O falso brilho da totalidade se extingue”. A imagem como fragmento e ruína dentro do cinema abre uma conexão com o artifício.
Ângela Prysthon (2015) argumenta que o realismo preponderante da década de 2000 vai cedendo lugar a ambiguidade do que ela chama de “realismo sob rasura” em que o artifício dilacera o real. “Choque deliberado entre o realismo e o artifício excessivo que desarticula e desestabiliza os efeitos de real pressupostos em plots mais banais”. Para a pesquisadora, a transfiguração ou desfiguração do real em filmes que apostam no elogio do artifício acabam por inventar mundos alternativos com o cinema. “Os filmes propõem potentes heterotopias fílmicas, exercícios de resistência ao real ou premonições sombrias, e se revelam extremamente pertinentes para pensar o contemporâneo”.
A alegoria pode ser pensada como conceito estético que, no cinema, vincula-se a uma estratégia do artifício. Para Benjamin, a alegoria é “um objeto de saber, aninhado em ruínas artificiais, cuidadosamente premeditadas”. Em Medo do escuro, tais ruínas artificiais engendram volumes de corpos e superfícies de paisagens entregues ao esvaziamento, às forças sensíveis dos vestígios em que o ver nada mais é que uma experiência dos rastros. Figurar a história como catástrofe, como acúmulo de ruínas, é o que mobiliza Medo do escuro. Um jovem sobe os andaimes de um prédio abandonado e cata papeis em meio a escombros para fazer uma fogueira e se aquecer. Ele deambula por uma cidade desolada, tomada por entulhos, em ruínas.

As ruínas em Medo do Escuro não são apenas a constituição aparente da paisagem. Elas são imagens do provisório e do fragmento que a alegoria evoca e, de algum modo, roçam a fragilidade e o desamparo de uma cidade como Fortaleza, povoada por edifícios e ruas abandonadas. Lugares de memória, destruídos ou largados à própria sorte, pairam em meio à dinâmica predatória de ocupação dos espaços da cidade. Como ainda é possível habitar uma cidade em ruínas? Como criar bolsões de resistência neste cenário pós-apocalíptico? Contentar-se com o pouco, com o frágil, construindo diferenças com os resquícios que ficam, pode ser uma estratégia. O gesto é o mesmo do protagonista que constantemente arrisca voltar às ruas para coletar restos.
Medo do escuro projeta cenários de paisagens em ruínas em que personagens encontram novas formas de sobrevivência. O filme é entulhado por escombros de prédios, em ruas esfumaçadas, com personagens em meio a fragmentos de espelhos e lixo. Prysthon compreende que “essas imagens de ruínas e de desolação parecem desfigurações ou transfigurações da Fortaleza real”. Mas é justamente a transfiguração que está em jogo nas imagens de Medo do escuro que faz com que a paisagem possa reverberar a sensação de ocupar qualquer grande centro urbano, que privilegia a construção de grandes empreendimentos e ordena remoções constantes da população. A ruptura se dá neste lugar em que já não é possível reconhecer imediatamente a cidade de Fortaleza como lugar de representação, mas a construção de um espaço alegórico em que tudo parece ruir.
Se o levante se dá na práxis do filme, há um gesto iconoclasta em relação à imagem simbólica já desgastada do levante: jogar o coquetel molotov com o rosto coberto por uma máscara. Não há em quem atirar a garrafa incendiária – a cidade está vazia – e a máscara não é uma forma de esconder a identidade de um rosto – o ar está tóxico. É uma ação para o nada, que termina com a sensação de cansaço, muito comum ao que parte de nós vive no corpo. Um trio de agressores observa e ataca. Os corpos dos poucos sobreviventes entram em convulsão ou desencanto. São constantemente agredidos e abatidos. Há o gesto de acolhimento de uma garota em abrigar o corpo do jovem para um intervalo de cura. É preciso acolher em momento de necessidade de ajuda.

Os lampejos intermitentes de Medo do escuro – espelhos reluzentes, reflexos do sol e o brilho nos corpos dos personagens – parecem vislumbres de um possível que permitem aos corpos continuar, a dar mais um passo, a não ceder diante das ameaças. Nos momentos mais críticos, há sempre a queda, mas algo impulsiona os personagens a recomeçar. Em uma morada hostil, talvez não haja força suficiente para combater os poderes. Quem sabe tais instâncias de soberania sejam apenas imagens a impor o medo, a tentar nos imobilizar e arrefecer nossos ânimos? O que esse filme pode convocar em meio a uma nova barbárie?

A imagem narcísica do agressor irá se desfazer como um espelho quebrado e o céu voltará a ficar azul. O impulso de resistência parece estar guardado no corpo: ele extravasa em um movimento de dança, como os vagalumes que dançam na alegoria lançada por Didi-Huberman. “Nós podemos experimentá-la a cada dia – a dança dos vagalumes, esse momento de graça que resiste ao mundo do terror, é o momento mais fugaz, de mais frágil”. Enquanto houver força para se tornar vagalume, o corpo resistirá como ser luminescente, dançante, errático, intocável. Eis que a questão em jogo é política e histórica.
Referências
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
________________. As passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998.
______________________. Sobrevivência dos vagalumes. Belo Horizonte: UFMG, 2011.
PRYSTHON, Ângela. “Furiosas frivolidades: artifício, heterotopias e temporalidades estranhas no cinema brasileiro contemporâneo”. Revista Eco-Pós, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 66-74, 2015.
ROCHLITZ, Rainer. O desencantamento da arte. Bauru: Edusc, 2003.