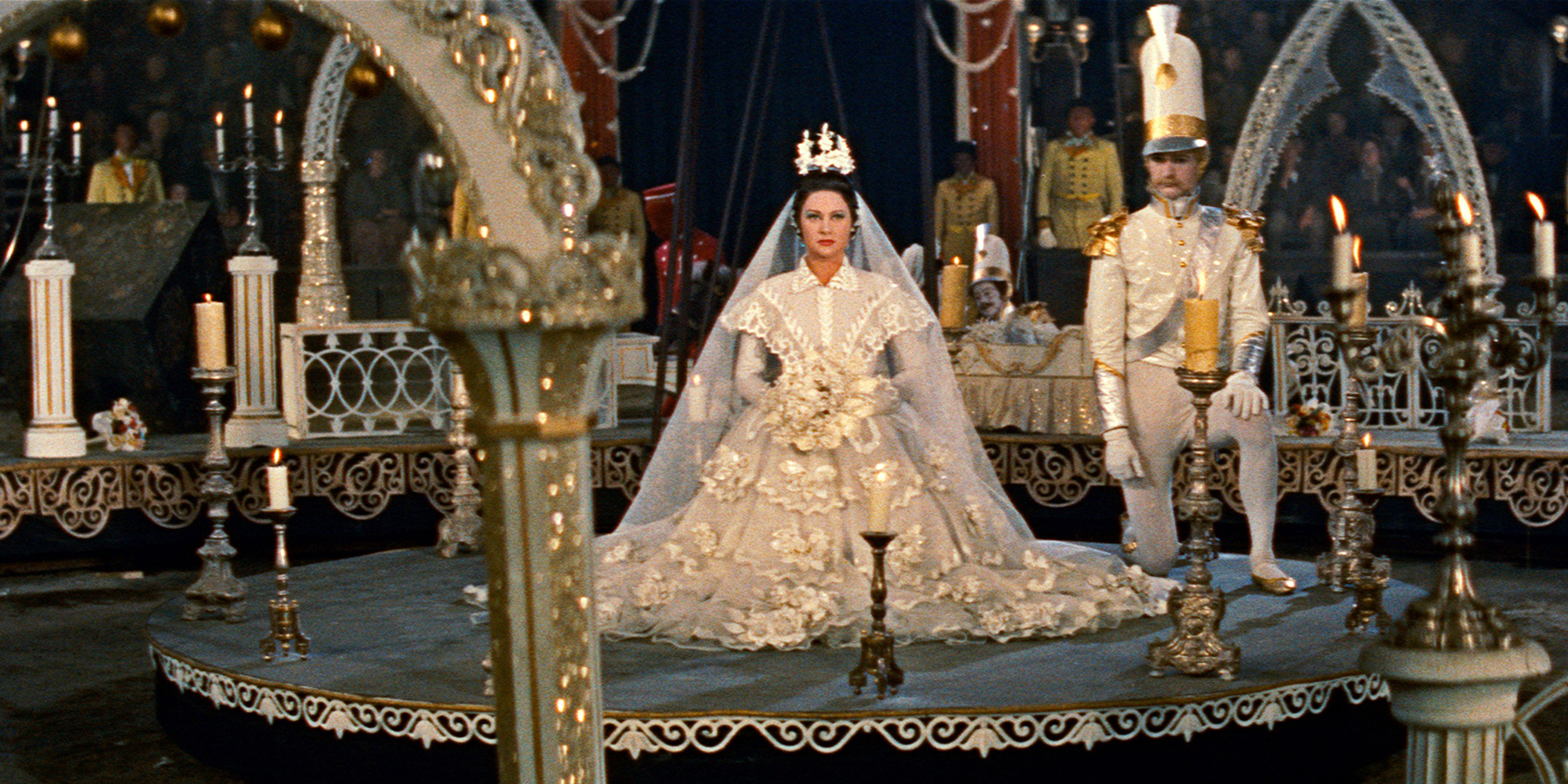As retrospectivas de final de ano nos ajudam a fazer uma leitura geral do circuito cinematográfico no Brasil — tanto para pontuarmos as obras mais interessantes que passaram por aqui quanto para detectarmos os equívocos de distribuição de nosso limitado circuito. Para esta seleção de 10 grandes destaques entre os filmes exibidos no país em 2011, optamos por validar apenas obras que tiveram sua estreia comercial oficial este ano, o que impossibilitou a presença de filmes que participaram da programações de festivais e mostras de cinema e também os que aportaram por aqui direto para as prateleiras das locadoras. A lista está em ordem alfabética.
Além da Vida (Clint Eastwood, 2010)
Há muito firmado e reconhecido como um autor, Clint Eastwood segue ainda assim com filmes mal vistos ou incompreendidos. Encerradas as suas atividades como intérprete e a trajetória de sua persona cinematográfica de durão com a bela retirada de cena que tivemos em Gran Torino, Clint continua na entrega do que há anos vem fazendo de melhor: dirigir. O Clint cineasta que pega questões importantes pelo mundo para fazer não filmes de teses ou didáticos, mas fábulas humanas com uma sensibilidade e olhar cinematográfico cada vez mais escasso em seu métier: a superação da segregação racial no belo e tão discutido Invictus, e agora esse Hereafter, um filme não sobre os mortos, mas sobre o apego dos vivos a eles (como um dos irmãos preservando em si próprio o antigo chapéu de sua metade que partiu). Bem possível que tenha sido encarado com a expectativa errada, a de filme espírita e sobre o além, quando em realidade o seu maior trunfo é se manter o tempo todo no plano terreno e materialista, com os seus eixos girando mais em torno da vida antes da morte, e da relação dos personagens com ela. Um grande filme sobre encontros, perdas, procuras e reencontros. Sobre a vida. (Vlademir Lazo)
As Canções (Eduardo Coutinho, 2011)
Todo artista tenta se expressar no limite de suas capacidades, sendo que os melhores, vez ou outra, chegam em um ponto tão extremo de seus limites que acabam inventando uma linguagem. O que dizer então de alguém como Eduardo Coutinho, que desafiou paradigmas em Jogo de Cena, depois de anos em estudos variados no documentário nacional, formando a mais diversificada carreira de um cineasta brasileiro? Que levou a um patamar ainda mais radical o dispositivo de construção de uma obra artística em Moscou? O que dizer sobre Eduardo Coutinho, que volta à base de tudo em As Canções, um filme que ao mesmo tempo é síntese e testamento de sua obra tão contundente? As Canções, que simplesmente nos convida a ouvir anônimos cantarolando músicas que são caras às suas trajetórias individuais, montando um painel sentimental sobre a entrega dos seres humanos, é a prova catártica e definitiva de que os grandes artistas são aqueles que, acima de qualquer coisa, sabem que a maturidade pode significar, também, simplicidade. (Thiago Macêdo Correia)
As Praias de Agnès (Agnès Varda, 2008)
O apanhado geral de uma vida de imagens: da fotografia à nouvelle vague, dos documentários às instalações, da infância a um último filme. Esse é o projeto ambicioso, e ainda assim muito divertido, de Agnès Varda em suas praias. Mais do que um documentário autobiográfico comum, Varda parece pegar emprestado o gesto compulsivo de colecionar dos seus Catadores e tornar-se, assim, ela também uma acumuladora de imagens, de pessoas, de lugares que atravessaram sua trajetória. Varda e suas imagens se indiscernem a ponto de não haver acanhamento para a diretora em se fantasiar como uma enorme batata ou para o seu filme esconder Chris Marker atrás da animação de um grande gato laranja. Em um filme que flerta em muitos momentos com a pieguice e o ridículo, a bricolagem quase caduca desses momentos é um ato de coragem — e puro cinema. (Kênia Freitas)
Caminho Para o Nada (Monte Hellman, 2010)
Neste retorno de Monte Hellman após 20 anos longe das câmeras, acompanhamos um jogo metalinguístico fascinante em torno de uma equipe de cinema que produz um filme de uma história real, sobre um crime real. Mas não é tão simples assim: há o passado, há o presente e há o futuro do fato, e as três camadas narrativas se diluem umas nas outras até chegarmos a um nível de abstração tão feérico que só nos resta aceitar Caminho Para o Nada como um exercício visceral sobre sua própria encenação. A imagem aqui é recebida não como produto final, mas como um processo das informações ali contidas; uma extensa via a ser percorrida pelo olhar para chegarmos a uma possível veracidade daquilo que é filmado — e que pode não estar na imagem, ou, no caso do cinema, sequer existir. Confrontamos uma verdade particular pertencente a cada uma das cenas; uma verdade que é somente delas, e que na tela, enquanto processo de si mesma, é suficiente para que o filme nos fascine. (Daniel Dalpizzolo)
Cópia Fiel (Abbas Kiarostami, 2010)
Ponto culminante não só para a carreira de seu diretor, que há um bom número de anos vem assinando uma sucessão ininterrupta de obras-primas, Cópia Fiel ergue-se como a redefinição de toda uma necessidade dramática para a contemporaneidade. Representar para viver, interpretar para que se chegue ao essencial, temos neste filme uma das operações estéticas mais significativas do presente século, de importância que ultrapassa o interesse cinematográfico para alcançar um domínio comum a toda expressão humana. Na implosão do romance gozado pelo casal de protagonistas, o nascer e o morrer de um impulso narrativo, o abismo entre a realidade e a ficção, tudo aquilo que alimenta o relacionamento de dois amantes, mas também o que motiva o contato entre o homem e a arte. Filme que justifica o cinema. (Fernando Mendonça)
O Garoto da Bicicleta (Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2011)
O garoto do título do filme mais recente dos irmãos Dardenne é um corpo arredio, lutando contra um mundo que não lhe acolhe. Na verdade, mesmo quando as coisas passam a aparentemente seguir um caminho de redenção para este personagem, o garoto permanece incontrolável. Não é somente o mundo que não lhe cabe, mas sua essência que não permite que ele ceda ao universo que o rodeia. Ele luta contra a mulher que lhe dá a mão, luta contra a porta de um carro, luta contra a ideia do pai, para posteriormente acatar que a idealização do pai é justamente o que não corresponde à realidade. O corpo que não para de se debater, em determinado momento, se torna imóvel. É então acontece algo que pode ser tido como divino, quando a vida prevalece diante da morte. Para além de um discurso cinematográfico, a conclusão de O Garoto da Bicicleta é uma declaração de amor dos Dardenne à vida, à continuidade e, principalmente, à mudança. Neste filme, um corpo arredio pode encontrar a paz. E isso só pode ser visto como um verdadeiro milagre. (Thiago Macêdo Correia)
Singularidades de uma Rapariga Loura (Manoel de Oliveira, 2009)
A paixão é um sentimento engraçado à medida que se cria consciência de que aquilo que se sente não é exatamente por uma pessoa, mas por uma falsa imagem gerada a partir dela. Com este espírito, temos em Singularidades de uma Rapariga Loura uma obra concisa e eficiente em que o centenário Manoel de Oliveira adapta um conto de Eça de Queirós para tratar justamente da tolice na qual um homem se afunda a partir de uma imagem equivocada criada sobre uma mulher. Ricardo Trêpa observa Catarina Wallenstein emoldurada pela janela e parcialmente tapada por seu leque (e posteriormente pelo véu da cortina) e é esta cena emblemática e bela que sustentará para ele uma mentira que acobertará momentaneamente o pequeno desvio moral da moça. Quando descobrimos onde enfim o filme vai chegar, próximo ao final dos pouco mais de 60 minutos, tudo desaba sobre os ombros — nos de Trêpa e nos nossos. Oliveira prega uma peça tão deliciosa e encantadora que se torna impossível resistir ao filme. (Daniel Dalpizzolo)
Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (Apichatpong Weerasethakul, 2010)
Conhecemos Apichatpong Weerasethakul por filmes que se sustentam em quebras narrativas embasbacantes (como Síndromes e um Século e, especialmente, Mal dos Trópicos), e o que torna Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas ainda mais impressionante é como este aguardado choque surge logo nos primeiros planos e se mantém não na narrativa, mas dentro de cada uma das imagens subsequentes. Situações cotidianas banais dividem espaço organicamente nos planos com elementos sobrenaturais, e na diluição de camadas existenciais, da realidade e do imaginário, o diretor cria um universo exímio em que explora o potencial fantástico das lendas e crenças da Tailândia para filmar um belo conto sobre a morte, com situações que nos conduzem constamentemente ao sublime. Pode parecer de difícil assimilação a quem não está habituado à linguagem de Apichatpong, mas não encontramos em qualquer filme ocidental lançado no Brasil em 2011 um conjunto de cenas tão poderosas. (Daniel Dalpizzolo)
Trabalhar Cansa (Marco Dutra e Juliana Rojas, 2011)
Trabalhar Cansa é um filme tecido em uma operação delicada: conjugar na mesma obra uma crítica social e de costumes com uma fábula sobrenatural sobre o mal-estar contemporâneo. Nos perguntamos durante quase todo o filme do que se trata: das relações de trabalho/poder que perpassam as familiares/afetivas? Ou da necessidade de enfrentar o monstro que se esconde dentro de cada um? Alívio podermos sair do filme sem saber, com um final que filmando uma dinâmica de grupo das mais clichês de uma agência de empregos consegue trazer o grito e a libertação mais engasgados. Os diretores, Marco Dutra e Juliana Rojas, nos mostram que filmar as relações sociais no Brasil não é fazer apenas um drama ou uma sátira, mas também um filme de horror. (Kênia Freitas)
Um Lugar Qualquer (Sofia Coppola, 2010)
Assim como seu colega Jim Jarmusch (a quem já homenageou em Encontros e Desencontros), Sofia Coppola gosta de extrair do tédio o desenvolvimento do caráter de suas personagens. Não é um comentário jocoso: Um Lugar Qualquer é bastante exemplar nesse sentido, pois extrai do vazio todo o conjunto de motivações e peculiaridades que movem as personagens e as fazem se relacionar entre si. No caso, um pai e uma filha passam um tempo juntos e vão com isso se conhecendo e se aproximando; nada faz sentido fora desse quadro, e é portanto por esses momentos de interação que pulsa o sentido da obra, ela respira e é fresca e calorosamente humana. Aos poucos vamos compreendendo que o “lugar qualquer” é onde estão nossos sentimentos. (Filipe Chamy)