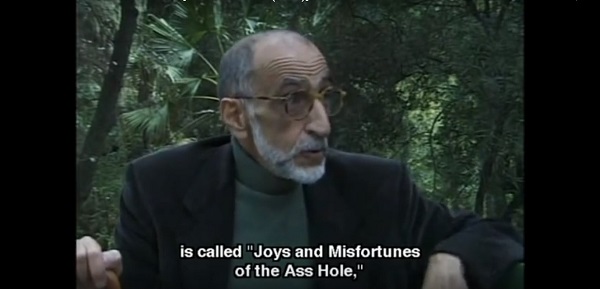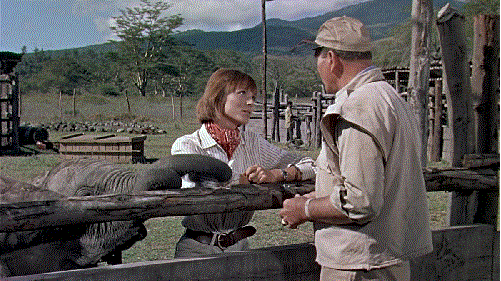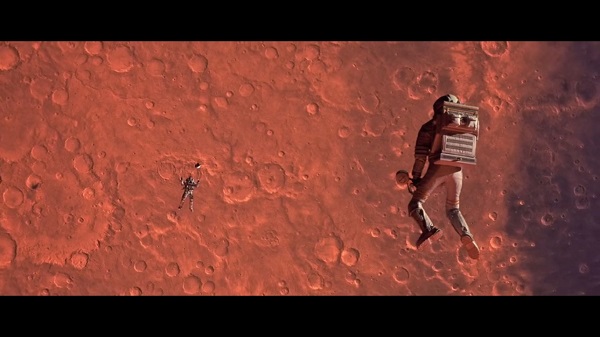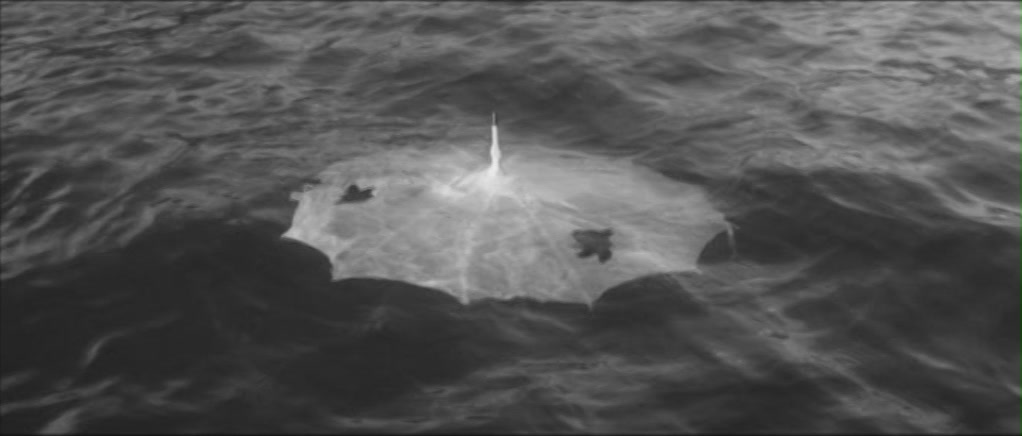Por Jean-Louis Comolli
(Cahiers Du Cinéma – Abril de 1966)
Traduzido por Felipe Leal
Um dos objetos da filmografia tanto quanto da ciência é o de alcançar um conhecimento científico das qualidades (acuidade, penetração, finura) da visão de um filme. Para fazê-lo, não há outro caminho que não o da submissão da existência mesma destas qualidades (coisas abstratas) às condições (que imaginamos como sendo as mais tangíveis) desta visão.
Mas se, para a maioria, esses fatores materiais são eles mesmos suscetíveis a todas as variações e adaptações (nada de mais frágil, no fundo, do que as normas técnicas), há pelo menos um que encontramos sempre e constantemente, ao ponto de assemelhar-se à uma necessidade, uma condição indispensável à toda visão, e até mesmo, ademais, ao ponto de se passar por algo natural, por ordem normativa, ontológica: é a obscuridade da sala. Eu gostaria que houvesse um número de razões técnicas para justificar e impor a visão dos filmes em salas escuras: talvez, de fato, a luz do ecrã sofresse com a luz do dia. Mas não chego a crer que, até aqui, a escuridão tenha sido regra absoluta, que motivos ópticos tenham sido suficientes para fazer do escuro o hábitat natural do cinema. Com efeito, todos os outros espetáculos – teatro, circo, ópera, concertos – se acomodam, em graus diferentes, à meia-luz (quanto isto não se faz, ao exemplo do teatro antigo, em plena luz solar). O cinema sozinho, nascido, entretanto, nas relativas penumbras dos cafés, se desenvolveu e se constituiu rigorosamente às lacunas do dia, não sofrendo de outra luz que não aquela que ele mesmo projeta. Os sociólogos e psicólogos já o remarcaram suficientemente: a escuridão da sala tem outras funções e outros efeitos que ultrapassam a facilitação de uma melhor visão do filme… se ela é feita de imperativos técnicos, ela é o lugar de fenômenos de outro modo complexos, que colocam em jogo, através e para além do filme e sua visão, dentro do espectador e através dele, o homem e a sociedade – ou seja: de uma certa maneira, a função sociológica e psicológica do cinema.
Aqui, um parêntese: que fique bem entendido que o cinema, se é arte, é também linguagem, sistema de signos que, por si sós metáforas mais ou menos amplas, significam. E precisamente aquilo que é mais marcante nele – como na literatura, ligada às palavras, linguagem das linguagens; expressão, portanto, mas talvez, nele, mais absolutamente que nela, na medida em que a imagem retorna mais brutalmente ao mundo como espírito do que as palavras, instrumentos do espírito enquanto mundo – o notável é que a arte a ele se encontra tão ligada, confundida com a vida: as imagens ao mundo, a beleza à significação. Não é, portanto, vão, considerar o cinema sobretudo sob o ângulo de suas significações e funções (fica subentendido que ambos só se elaboram e se distinguem por e através da escritura de cada cineasta – nós o chamamos de “mise-en-scène”), ou seja, mais sob o ângulo de suas formas e questões formais que aqui se colocam que sob aquele de seus temas (os temas, ao menos, que as obras propõem).
A sala escura é, então, o teatro dos mitos, ao mesmo tempo suscitados e suscitantes daqueles que a tela carrega. Nós conhecemos suficientemente os fenômenos de fascinação, de transferência, de êxtase, as projeções dos espectadores que entram em transe junto com o filme. E o cinema que nós chamamos de cinema de entretenimento (até o dia de hoje, o mais óbvio do cinema, qualquer que seja seu valor estético) não faz mais que responder a essas necessidades, que as entreter. Fazendo assim, ele continua a entreter, como também torna mais indispensável ainda, se é possível, a escuridão da ambiência. Há, portanto, entre o cinema de entretenimento e a sala escura um contrato firme e antigo, permanentemente reconduzido, um sendo para o outro, e reciprocamente, o meio de sobrevivência. E teríamos vergonha de decidir qual dos dois mais contribuiu para manutenção das convenções sobre as quais o outro se funda. Porque, nisto que chamamos de produção corrente, se é verdade que ali encontramos constantes, estereótipos, histórias, morais e personagens convencionais, se essas convenções passam mesmo aos olhos de um sem-número de espectadores como leis imutáveis, a escuridão da sala, nisto, guarda quase que inteiramente a pesada culpa. Há um condicionamento da sombra, que joga às claras, como um reflexo, dentro do espectador que entra numa sala, pendente, vê o desejo, formas por ele já reconhecidas, esquemas experimentados, de todo uma parafernália perfeitamente homologada.
Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, o sentimento de sair do mundo dos vivos; de adentrar, numa escuridão próxima àquela do confessionário ou dos aposentos de dormir, as bordas costeiras dos sonhos. A sombra das salas incita o espectador a não considerar o cinema senão como uma maquinaria engenhosa de sonhos, mas estes, aqui, infelizmente, quase sempre os mais vulgares e fúteis; quer dizer, como se por uma negação do vivo, por uma colocação do mundo entre parênteses (mesmo se se trata de um mundo também ele grosseiro e fútil). Quaisquer que sejam para o espectador as vantagens medicinais (catarse, encarnação de frustrações, etc.) que resultem dessa utilização “negante” ou “sublimante” do cinema, ele conduz invariavelmente a um equilíbrio, a uma estabilização das necessidades e ofertas, das perguntas e respostas – as mesmas curas (posto que suas evidências estão dadas) trazidas às mesmas mazelas renascendo das mesmas e tantas feridas falsas – equilíbrio, ou talvez melhor dizendo: anulação dos efeitos às causas, estagnação total. Tal é o esquema de funcionamento da indústria cinematográfica, quando ela marcha em pleno rendimento. E se o cinema não fosse nada além dessa indústria de leis simples – dito de outro modo: se ele não tinha grandes cineastas, artistas para driblar o jogo e falsear as cartas, para desestabilizar tudo aquilo que a osmose produtor-consumidor tem de tranqüilizante para um e para o outro (tratando as convenções à maneira avessa, desapontando as ilusões primárias pela intervenção de ilusões outras), não há dúvidas de que ele se desenrolaria em circuito fechado, que repetiria ad infinitum as mesmas fórmulas (porque elas produzem os mesmos efeitos), recomeçando invariavelmente as mesmas séries, como um velho vira-lata cujos truques valeram-lhe a fama.
Em todo caso, o cinema hollywoodiano (os filmes B como “ambiciosos”, mas sempre excetuando-se os filmes de Hawks, Hitchcock, Lang, Ford, Fuller, DeMille, Sternberg, Preminger, Ray, Mankiewicz, etc., brevemente colocando os autores lado a lado porque também foram os seus esforços os de margear Hollywood, traí-la), o cinema hollywoodiano tem apresentado durante mais de 30 anos o protótipo do circuito fechado (onde a oferta e a demanda parecem perfeitas uma para a outra): uma era de ouro não do cinema, mas da indústria, era de ouro real, posto que suas necessidades são imediatamente satisfeitas, tal como um parêntese no Tempo, que se exclui da História, que permanece uma zona de sombra na história do cinema ela mesma, o volante de sua evolução. E compreendemos melhor, agora, que os nostálgicos do cinema americano assim o são, no fundo, não pela era de ouro de uma arte – todo período da arte sendo uma tragédia e se inscrevendo, desta maneira, não somente na história das artes, mas na dos homens –, mas protetores da nostalgia, como um paraíso perdido, desse estado que é de qualquer maneira pré-natal, dessas relações de ordem fetal entre o espectador-filho e a indústria-mãe: isto que os partidários absolutos do cinema americano amam no cinema não é, nem jamais foi, as belezas, as audácias ou novas formas que dispensassem os grandes franco-atiradores de Hollywood; foi, ao contrário, e ainda o é, tristemente, uma satisfação automática e despreocupada de seus desejos (se podemos chamar esses impulsos de desejos).
Que não reiteremos à exaustão a grandeza do cinema americano, se isso que podemos chamar de ‘sua grandeza’ é a perpetuação de um estado e de rapports larvais, em que todo o perigo é banido, todo acidente impossível, breve; se é esta colocação do cinema e do espectador enquanto excluídos do mundo e excêntricos ao tempo. Não há grandeza alguma nesse mecanismo perfeito. Eu vejo a força do cinema americano mais concentrada em cineastas que são irredutíveis e que, longe de se satisfazerem sem complexos desta maravilhosa bolsa sem flutuações, tentaram (penso no Lang de Fúria (1936) e Suplício de Uma Alma (1956); no Ford de As Vinhas da Ira (1940), A Longa Viagem de Volta (1940) e Legião Invencível (1949)) deter as engrenagens por dentro. E este é um fato tão considerável que pode ser bem o sucesso de seus filmes, o espectador ali sempre tratado como adulto e como homem, e não uma besta que não cessa de delirar acordada.
O único progresso que conheceu o cinema em circuito fechado que se exclui ele mesmo do movimento das formas cinematográficas é um progresso ainda de tipo industrial, feito de excessos visando o aumento da demanda e do consumo por exagero publicitário das necessidades e pela inflação das seduções (é o caso das superproduções, esforço último de ampliar um mercado supersaturado e bocejando de êxtase). Quanto às inovações estéticas, ousadias e invenções estilísticas, elas são bem entendidamente o feito desses rebeldes do sistema que foram em maiores e menores graus de consciência os autores; e eles se fizeram não para as salas escuras, mas, cada vez, precisamente, contra elas.
Tanto a existência quanto a novidade ampla disso que podemos chamar de “mal-entendido” não têm, elas, nada de surpreendente. Entrando no cinema, o espectador é de imediato prisioneiro da sala escura: condicionado a ela para receber certas impressões, para esperar certas séries bem tipificadas de emoções, ele deve galgar num verdadeiro esforço de resistência, empreender a decolagem, apreciar o menor filme de autor, filme que, por definição, não se conforma às normas fixadas pela tradição da sala escura. Uma vez no escuro, é preciso que o espectador permaneça acordado para compreender qualquer coisa no filme que se recuse a considerá-lo como um vigilante adormecido. (O condicionamento, o hábito, exercem, aqui, um grande papel: o espectador médio, por menos que tenha freqüentado as salas escuras, só terá curiosamente retido, de suas experiências ao estado de semi-adormecido, isso que nelas foi pura repetição, uma identidade, um conformismo: sua cultura cinematográfica apaga o extraordinário e só retém os clichês, as convenções, que passam então aos seus olhos como tendências naturais do cinema, tudo aquilo que o contraria passando, a contragolpe, por monstruoso ou por falho; e nós sabemos também que as crianças “mergulham” com rapidez nas narrativas mais complexas e menos taxadas, não se assustam diante das mais febris e breves elipses, manifestam uma abertura de espírito que uma longa prática do cinema como “diversão” tem, por efeito, de nunca encerrar.
É por isto que, sem dúvidas, o cinema de autor se limita a ser tolerado, e ainda de muito mau humor, pelo espectador. É que há um hiato entre a condição do espectador na sala escura e a condição de receptividade ou de participação lúcida que o exige todo o filme que não é de “consumação”. Por quê? Ou o filme constituiu o prolongamento natural da sala obscura, anti-câmara dos sonhos, e então o espectador, estando excluído do mundo, nega os outros e se nega a si mesmo tanto quanto o outro; ele está sozinho, segue o fio confortável e doce de um sonho que o envolve como num casulo; o mundo que ele tem sob os olhos desfila suas figuras com a bonança de um sonho; há uma hipnose, uma simpatia que tanto a infração às formas prévias quanto aos temas prometidos estilhaçaria dolorosamente – ou isto, ou bem o filme se vê, apesar e além da sala escura, prolongamento e comentário do mundo de fora; então o espectador está perdido: por um lado, ele permanece sujeito ao condicionamento da sala e se torna carregado, por ela, em direção à satisfação de suas expectativas – que o filme não pode oferecer –; por outro, ele se vê confrontado pelo filme ele mesmo (indivíduo) e os outros, incansavelmente transportado das imagens para o mundo, processo de retenção da consciência que a sala escura, por sua vez, contraria.
Podemos, então, adiantar que há uma antinomia entre o cinema responsável (que de Griffith a Renoir e de Lang a Godard nós pensamos ser o cinema moderno) e o lugar de seu exercício. O mal-entendido nasce de que o cinema moderno (que é uma afronta do mundo enquanto arte: ver Godard) deve sempre passar pelo escuro das salas. É necessário ao cinema moderno salas às claras, que não absorvem ou aniquilam, como o faz a escuridão à clareza vinda da tela; que a façam irradiar ao contrário, que coloquem um a face do outro, bem como a igualdade do personagem e do espectador, saídos todos os dois das sombras.
O que caracteriza o cinema moderno é precisamente o fato de que o herói do filme é o espectador; que o filme constitui, para o espectador, a aprendizagem de seu papel ingrato e central. Como compreender um cinema que nos coloca em cena se não podemos saber onde estamos e quem somos? O cinéma-vérité, a enquete filmada, o testemunho, a entrevista, tudo isto em que os grandes cineastas do passado foram precursores e que teve tantas influências, diretamente ou não, nos de hoje, é a mais afiada ilustração desta necessidade de clareza, desse ato de consciência, necessário hoje ao novo cinema tanto quanto ao novo espectador. O intenso uso, por parte da televisão, dos métodos do cinéma-vérité não é acidental: o pequeno quadro é o único (se) que abre com freqüência à “sala clara”; ademais, rever na televisão grandes mestres do cinema o confirma: se não somos maníacos pela sala obscura e se não nos higienizamos ao ponto de recriar mais ou menos suficientemente as condições de visão obscura na sala de cinema; se, portanto, nós revemos estes filmes numa semi-clareza propícia à atenção, creio que os assistiríamos de outras e melhores maneiras que em sala, sobre um plano de confiança e igualdade como o são as receitas que não sustentam mais a ilusão e as belezas que não carregam mais sentido.
Pensando bem, esta sala clara é também um sonho: mas não mais o sonho de um cinema que foge: o sonho de um cinema que participaria da vida e seria, enfim, verdadeiramente nossa reflexão sobre ela (é nesse sentido que nós podemos, hoje, “viver um filme”). Como disse meu precursor Mourlet falando de seu Brigitte e Brigitte (1966): “é um filme onde entramos para reencontrar a realidade, e do qual saímos para perder o retiro e adentrar na ficção da rua”. Ninguém duvida que por muito tempo, então, o cinema novo (e, como tal, entende-se: o cinema que nos importa) suscitará esse novo espectador que virá julgar o mundo e se conhecer a ele mesmo, posto que em sua verdade o ecrã manifestará todos os dois. Este novo espectador, retomando as palavras de Sternberg, não deixará de demandar para si “mais luz”.