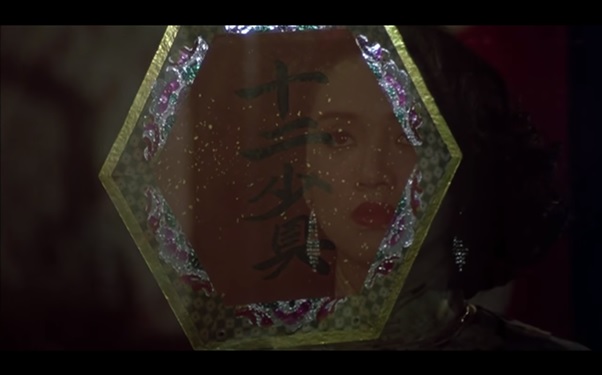Por Carla Oliveira

India: Matri Bhumi (1959), inédita no Brasil até ser apresentada na mostra 6x Rossellini: Uma Homenagem à Cineteca de Bologna (no Festival do Rio de 2014), é uma obra única na filmografia de Roberto Rossellini. Exaltada por Godard, que comparou seu formato documental enriquecido com segmentos ficcionais que abordam mitos e costumes do país retratado a obras-primas do gênero como Tabu (Tabu: a story of the south seas, 1931), de Murnau, Que viva México! (¡Que Viva Mexico! — Da zdravstvuyet Meksika!, 1979), de Eisenstein, e É tudo verdade (It’s all true, 1993), de Orson Welles, é ainda pouco vista e discutida.
Depois de ter realizado filmes — Alemanha, ano zero (Germania anno zero, 1948), Stromboli (Stromboli, terra di Dio, 1950) e Viagem à Itália (Viaggio in Italia, 1954) — nos quais seus protagonistas se deslocam para países (Alemanha e Itália) que haviam sido devastados pela Segunda Guerra, deparando-se com o fantasma da violência, a força da natureza e sua própria humanidade, Rossellini decide empreender uma jornada própria para um país rico em narrativas, bastante distintas das europeias. O roteiro de India: Matri Bhumi, que contempla a faceta poética da Índia, sem deixar de lado as preocupações éticas e sociais que sempre assolaram a obra neorrealista de Rossellini, foi escrito por ele, junto à escritora Sonali Senroy Das Gupta (que se tornará sua esposa) e ao diplomata iraniano Fereydoun Hoveyda. Formado na Sorbonne, o cinéfilo Hoveyda escreveu para a Cahiers du Cinema, entre 1955 e 1965. Era um apreciador do cinema do calcutaense Satyajit Ray e, na sua lista de melhores filmes elaborada para a mítica revista, destacou O tigre da Índia (Der tiger von Eschnapur, 1959), de Fritz Lang, como o melhor filme desse mesmo ano em que India: Matri Bhumi concorreu ao prêmio máximo no Festival Internacional de Cinema de Moscou.
Fritz Lang e Rossellini foram dois dentre vários cineastas europeus que lançaram seus olhares para a Índia no período posterior à sua independência em relação à Inglaterra (a qual se deu em 1947, como decorrência da segunda grande guerra). O tigre da Índia, de Lang, teve uma sequência: O sepulcro indiano (Das indische grabmal), lançada no mesmo ano. Ambos foram baseados em um livro de sua ex-esposa, Thea von Harbou, e narram o encontro e o espanto de um europeu com o exotismo da Índia, em uma história repleta de romance e aventuras. Lang fez várias viagens para a Índia, mas a realização dos filmes se deu na Alemanha. O pioneiro dentre esses cineastas, contudo, foi Jean Renoir, por quem Rossellini nutria grande admiração. O rio (The river, 1950), adaptado da obra da escritora Rumer Godden, é uma obra ficcional, que aborda temas humanistas igualmente caros a Rossellini e contém traços documentais, principalmente no retrato feito por Renoir das festas e cultos religiosos. Fiel a seus preceitos realistas, filmou em Bengala, às margens do Ganges. Pasolini, em 1961, empreendeu uma viagem à Índia na boa companhia de Alberto Moravia e Elsa Morante que resultou no livro O cheiro da Índia, não propriamente documental, e no filme sobre um filme: Appunti per un film sull’India (1968), no qual discute mitologia, costumes e realidade social. Louis Malle filmou um extenso documentário para a TV, L’Inde fantôme (1969), onde se destaca o segmento Calcutta, focado nas crises políticas e sociais pelas quais o país passava. Marguerite Duras, na França, realizou India Song (1975), obra-prima experimental que retrata a decadência de europeus abastados que compunham a Índia branca colonial nos anos 30. Conflitos morais dos europeus na época colonial também foram abordados por David Lean em Passagem para a Índia (A passage to India, 1984), baseado no livro homônimo de E. M. Forster. Peter Brook e Jean-Claude Carrière fizeram numerosas viagens à Índia na preparação da peça Mahabharata, posteriormente adaptada para a série de televisão The Mahabharata (1989-1990).
O Mahabharata e o Ramayana, que alimentam o imaginário ocidental, são os principais poemas épicos da Índia antiga. Junto aos Vedas, transmitem ensinamentos morais e são a base da mitologia hindu. Foram, inicialmente, transmitidos oralmente. Ainda hoje estão onipresentes entre os indianos, que desenvolveram ao longo de sua história apreço pela arte de contar. A música e o teatro indianos também muitas vezes se aproximam do mito e do sagrado, assim como o cinema, que já impressionava o ocidente desde que Raj Kapoor apresentou O vagabundo (Awaara, 1951), no Festival de Cannes de 1953, e Satyajit Ray, A canção da estrada (Pather Panchali, 1955) — primeiro filme da Trilogia de Apu — , no mesmo festival, em 1956. O cinema de Kapoor estabelece o estilo de Bollywood: é romântico, tem temática social e utiliza canto e dança como elementos narrativos. Já o cinema de Ray é de cunho realista. Seus temas são também sociais e sua abordagem é bastante humanista.

Em India: Matri Bhumi, Rossellini filma em cenários naturais e se vale da fábula e da poesia para oferecer uma contemplação sobre a Índia. Nos créditos iniciais, vemos imagens de deuses esculpidas na pedra: Shiva, com suas três faces, como um deus que pode assumir todas as formas; e Ganesha, um deus híbrido: tem corpo de homem e cabeça de elefante. Sons de instrumentos musicais indianos ajudam a dar significado às imagens mitológicas.
A seguir, cenas de Mumbai (antiga Bombaim): o porto à beira do mar arábico e a multidão. Um narrador bem humorado e generoso nos fala do cosmopolitismo da cidade, uma das principais portas de entrada para a Índia. Dentre os que caminham por suas ruas, em meio a vacas e variados meios de transporte, há pessoas de várias religiões, de grupos étnicos distintos, descendentes de todas as castas. O narrador as vê como um grupo pacificado e tolerante, em constante deslocamento rumo ao trabalho, ao descanso e ao divertimento. Rossellini não procura (ou explora) a miséria e a doença. Cartazes de filmes de Bollywood são vistos em toda parte.
Mudam o ritmo da música e a paisagem. O narrador parte em busca da Índia profunda e tradicional. Sua fala, antes frenética, se torna pausada. Passamos a ouvir os sons da natureza. Planos longos acompanham o movimento dos animais e de um rio. Imergimos em uma jornada visual e sonora, como se a mudança do espaço nos levasse a uma viagem no tempo: um caminho ficcional, poético, fabular pelo qual Rossellini nos faz enveredar. Vemos paisagens do sul da Índia: templos, rios, lagos e florestas. Nessa localização, naquele momento, os elefantes eram utilizados como força de trabalho. A relação entre os condutores de elefantes e os animais é mostrada. Suas jornadas de trabalho comparadas. Então, acontece a transmutação do narrador: ele passa a ser um dos condutores de elefante. Passamos indiscutivelmente do documentário para uma fábula, que fala de trabalho, amor, costumes de família, casamento, gestação e nascimento. Isso porque ambos se enamoram simultaneamente, o elefante e o gentil condutor. Uma jovem cantora participante de um grupo de titereiros encanta o nosso narrador. Ele precisará de pausas na sua rotina extenuante de trabalho para viver esse amor. O elefante, também.

Fim da primeira fábula, serão quatro. Volta o nosso primeiro narrador, admirando imagens do Himalaia, onde nasce o Ganges: rio que purifica, que significa a vida. Ele fala do karma, do peso dos nossos atos, discutido no Mahabharata. Passamos para imagens de uma construção de uma barragem em um rio paralelo ao Ganges. A narração passa a ser assumida pela voz de um dos trabalhadores, um migrante que precisou sair de Bengala Ocidental depois da partilha que deu origem ao Paquistão. Ele é um entusiasta da modernização e do progresso. Finda a obra, ele precisa partir para encontrar outro emprego, o que aborrece sua esposa que quer continuar vivendo na mesma terra onde teve seu filho. Ele sente orgulho por ter construído a represa. Acha que é uma construção muito mais grandiosa que um pequeno templo que terá que desaparecer. Toma banho no lago artificial da represa ao invés de purificar sua alma em um rio sagrado. Corpos de trabalhadores mortos são cremados às margens desse mesmo lago. É uma fábula que fala da interferência do homem na natureza e do desafio ao mito e às tradições.
A terceira fábula aborda a velhice. Em um povoado junto a uma antiga fortaleza muçulmana, o narrador, que agora é um senhor de 80 anos, se vê incapaz para o trabalho. Vivendo junto à família, próximo a uma floresta onde se escuta o canto de amor dos tigres, ele sente necessidade de uma vida contemplativa. A harmonia da paisagem e o cotidiano da família são abalados pela chegada de um grupo explorador de minérios. Com a mudança do ecossistema, um dos tigres ataca um homem, algo que nosso narrador nunca tinha visto em toda a sua longa vida. Ele fica ao lado do tigre, pois sempre viveu integrado à natureza.
Em uma região muito quente, um homem e sua macaca amestrada se dirigem a uma festa religiosa. Ele, que poderia ser o narrador desta quarta fábula, morre de calor. A macaquinha consegue se soltar do corpo morto de seu dono e vai só à feira, carregando um pedaço de sua corrente. O condutor principal da história, o narrador viajante, seguirá nos relatando os infortúnios do animal. Na feira, ela fará seus truques e recolherá moedas que não sabe para que servem. Ficará só. Ao tentar interagir com macacos selvagens, será repelida. Eles sentem o cheiro do homem nela. Sua única saída será encontrar um novo dono. Não escapará da domesticação e das correntes.
Rossellini documenta, em India: Matri Bhumi, a realidade contemporânea da Índia: suas questões sociais e morais, a modernização, a interferência do homem na natureza. Os fragmentos de vida relatados nas fábulas mostram o quanto havia de passado naquele presente. Os animais mais emblemáticos da Índia – as vacas, os elefantes, os tigres, os macacos – foram usados como partícipes da narrativa. Uma outra forma de relato, menos poética, não nos causaria o mesmo efeito.