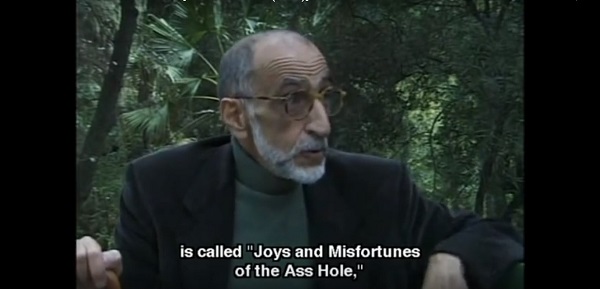Por Bernardo Moraes Chacur
Devemos deixar o cinema morrer ou já seria um avanço matar a cinefilia, tal como a conhecemos e praticamos? Caso estejamos diante de uma crise, ela se concentra na indústria cinematográfica ou se instala igualmente em nossa cultura de valorização? Nas próximas linhas, tentaremos refletir sobre essa questão a partir das relações variáveis entre essa cultura e os filmes de gênero. Mas convém evitar o discurso decadentista: discussões semelhantes circulam, no mínimo, desde a década de 50.
O cinema foi, desde o começo, um empreendimento comercial. Como tal, incorporou-se aos gêneros populares entre o fim do século XIX e começo do XX: melodrama, faroeste, terror, ficção científica. Os dois últimos tinham o apelo adicional do ilusionismo permitido pela nova tecnologia: a combinação entre realismo fotográfico a capacidade para trucagens, que atraiu diretores como Murnau, Lang e Dreyer. Como resultado, obras como Nosferatu (1922), Metropolis (1927) e Vampyr (1930) não puderam ser negligenciadas nas discussões sobre um cânone daquelas primeiras décadas. A contradição entre arte, comércio e entretenimento não era, portanto, absoluta.
A ânsia por respeitabilidade surgiu igualmente cedo. Adaptação de um best-seller, O Nascimento de uma Nação (Griffith, 1915) pretendia-se reconstituição de guerra e panorama histórico-social (elementos que ainda hoje angariam indicações ao Oscar). Protótipo do prestige picture, pôde cobrar ingressos a preços exorbitantes e ser exibido na Casa Branca. De acordo com essa mentalidade, a arte deve exceder o ‘simples entretenimento’, abordando Temas Importantes, de preferência. Para atender a essa expectativa, o “cinema de qualidade” não pode ser sutil: a obra relevante precisa se anunciar claramente como tal.
O principal produto oferecido pela Hollywood clássica, no entanto, era o entretenimento. A produção média dos estúdios equilibrava-se entre imperativos comerciais, o moralismo sintetizado no código Hayes e a paranoia ideológica que culminou no macarthismo. Apesar desse cerceamento, artistas conseguiam abordar, de forma implícita, assuntos inaceitáveis em discussões abertas. Gêneros que não eram levados a sério, como o horror, a ficção científica e os women pictures, eram espaços privilegiados para essa subversão.
No caso do terror, com sua ênfase no poder da sugestão e atmosfera de incerteza, havia um reforço mútuo entre convenções de gênero e a criação de um subtexto, com ambos os aspectos se beneficiando dos mesmos recursos expressivos. Em várias instâncias, não há chaves de interpretação inequívocas: Vampiros de Almas (Siegel, 1956) é uma parábola sobre o medo da infiltração comunista ou sobre a homogeneização da sociedade? Essa ambiguidade não constitui um defeito. Demonstra, pelo contrário, a força da arte e da linguagem, capazes de renovar seus significados ao longo do tempo, extrapolando contextos e intenções de origem (termo, aliás, de aplicabilidade discutível).
Não devemos esquecer tampouco que o filme dirigido por Siegel é primeiramente um suspense bem urdido e uma trama sobre monstros vegetais do espaço. Se valorizarmos as obras de arte somente em função de uma suposta dimensão alegórica, cairemos na mesma armadilha que criticamos acima, quando falávamos dos prestige pictures: se interessar mais pelo tema do que pela própria obra. As tensões mais interessantes costumam estar justamente na articulação entre narrativa, estilo e como ambos são mobilizados para expressar algo sobre o mundo.
Os sentidos de um filme não precisam se limitar às intenções declaradas pelo marketing dos estúdios. A crítica francesa do pós-guerra apontou superficialismo na tradição de qualidade e densidade insuspeita no cinema de entretenimento, rompendo com a inércia que condicionava cada interpretação a uma hierarquia de prestígio. O processo se repetiu várias vezes, com um gradual deslocamento de ênfase. Antes, defendia-se George Romero destacando o comentário social contido em suas cenas de canibalismo. Com o tempo, consolida-se um lugar-comum de que a profundidade do terror é obtida apesar de seus componentes genéricos. O que nos leva ao rótulo do Pós-Horror.
***
Torna-se necessário, neste ponto, evitar alguns clichês, lembrando que:
- O terror nem sempre é mal recebido pela crítica e reabilitado a posteriori. Vide a boa acolhida das produções de Val Lewton, como Sangue de Pantera (Torneur, 1942), A Morta-Viva (Halperin, 1943) e tantos outros exemplos em décadas subsequentes;
- O subtexto não é intrinsecamente superior à articulação clara de uma mensagem;
- A aderência ou afastamento das convenções de um gênero não definem, por si só, o mérito da obra.
As três questões são bem demonstradas em Corra! (Peele, 2017), que traz uma temática racial em primeiríssimo plano, não segue à risca uma cartilha de horror e foi incluído em diversas listas de melhores do ano (1º colocado na enquete da Sight & Sound, 4º lugar na lista da Cahiers du Cinéma) – e que nem por isso deixa de ser um filme contundente.
O gênero em busca de transcendência também não é novidade. Já em 1955, André Bazin falava de metawesterns (sur-westerns, no original), aos quais atribuía as seguintes características:
“Digamos que o “metawestern” é um western que teria vergonha de ser apenas ele próprio e procuraria justificar sua existência por um interesse suplementar: de ordem estética, sociológica, moral, psicológica, política, erótica…, em suma, por algum valor extrínseco ao gênero e que supostamente o enriqueceria”.
BAZIN, André. Evolução do Western. In O Cinema – Ensaios (Brasiliense, 1991)
Como o próprio Bazin admite no artigo, essa separação não era absoluta. Faroestes tradicionais já continham traços autoreflexivos e vários dos exemplos utilizados – como O Preço de um Homem (Mann, 53) e Johnny Guitar (Ray, 54) – hoje fazem parte do cânone do western, sem necessidade de prefixos. Dessa forma, os antecedentes sugerem que os gêneros sempre foram dinâmicos e capazes de incorporar complexidade estilística e temática, seja em iterações clássicas ou revisionistas.
Uma opinião bem diferente é expressada em matéria publicada pelo Guardian em julho de 2017: ‘How post-horror movies are taking over cinema’, escrita por Steve Rose e compartilhada quase 18 mil vezes. De acordo com o texto, o pós-horror se posicionaria contra um mercado composto de “variações de temas bem-estabelecidos: possessões sobrenaturais, casas assombradas, psicopatas, zumbis”. Rose não fornece qualquer exemplo relativo a esse mercado, mas menciona em linhas anteriores dois sucessos da Blumhouse – Corra! (já citado) e Fragmentado (Shyamalan, 2017) – ao elencar a rentabilidade desse tipo de filme.
Como alternativa a esse terror comercial, o autor oferece alguns títulos da A24 Films, como Ao Cair da Noite (Shults, 2017) e A Ghost Story (Lowery, 2017). São escolhas reveladoras: o último é um drama com elementos sobrenaturais enquanto o primeiro é um acúmulo pretensamente evocativo de silêncios, má-iluminação e conflitos mal esboçados. O filme de Shults demonstra vividamente que o problema não reside na ambição de transcender um gênero, mas na crença de que essa pretensão é garantia de qualidade.
As virtudes que Rose credita ao subgênero sempre estiveram presentes no Horror, como atestam os pesadelos políticos, existenciais e cósmicos conjurados por autores como Lucio Fulci (O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos, 1972), Larry Cohen (Foi Deus quem Mandou, 1976) e John Carpenter (O Enigma de Outro Mundo, 1982). A retórica do Pós-Horror propõe desconsiderar o poder subversivo desse cinema, privilegiando, em seu lugar, as noções mais restritas e antiquadas de respeitabilidade.
Ainda assim, parte expressiva da crítica e da cinefilia insiste nesses velhíssimos preconceitos, depreciando as convenções do terror sem jamais questionar os seus próprios clichês. Ignorando deliberadamente o passado, são como fantasmas à espera de um plot twist: mortos, sem saber, desde o início da trama.
***
O Massacre da Serra Elétrica 2 (Hooper, 1986) acompanha o empreendimento da família Sawyer uma década mais tarde: com ganhos de escala e profissionalismo, servindo carne humana para um público ávido pelo tradicionalismo sulista e que ignora convenientemente a proveniência daquele alimento, bem como o sofrimento necessário para a sua obtenção.
O esconderijo do clã é um parque de diversões abandonado chamado Texas Battle Land, onde a montanha de ossos acumulada pelos assassinos deposita-se sobre a pilha histórica de cadáveres. A final girl salva-se arrancando uma arma das mãos cadavéricas das gerações anteriores (parafraseando Charlton Heston em discurso pró-NRA, from cold, dead hands) e repetindo o mesmo gesto de Leatherface no final do filme de 74, manifestação de um ciclo de violência sem perspectiva de término.
Execrada por uns, celebrada por outros (como a maior parte da filmografia de Hooper), é uma obra com vários potenciais de significação, alguns ainda mais pertinentes em 2017 do que na ocasião de seu lançamento. Visualmente vibrante, deliberadamente excessiva, é uma excelente demonstração da riqueza a ser encontrada no cinema de gênero ao longo de toda sua história, mesmo em suas encarnações menos prestigiadas – e sem necessidade de rótulos ou prefixos.
Agradecimentos a Guilherme Gaspar, Juliana Fausto, Marcus Martins e Pedro Lovallo.













 Garota Exemplar (2014) – David Fincher
Garota Exemplar (2014) – David Fincher