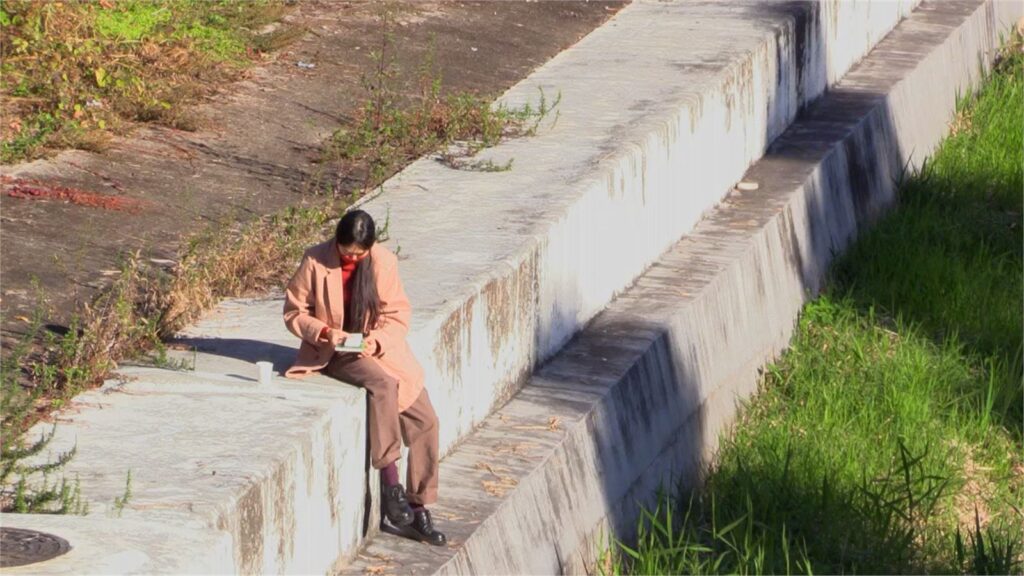por Gabriel Papaléo
”E então, tudo é loucura – a loucura de uma memória que se ocupa de coisas proibidas.”
Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo
Adaptados diretamente para o cinema por diretores como Jean Epstein, Edgar Ulmer, Dario Argento, George A. Romero e Lucio Fulci, os contos de Edgar Allan Poe também inspiraram diversos outros cineastas que trabalham com o imaginário do horror gótico dos mistérios sobrenaturais, cuja obsessão com fantasmas e maldições mantém sua influência no terror até hoje. Entre 1960 e 1964, o diretor Roger Corman realizou algumas das mais famosas adaptações do escritor, oito longas-metragens baseados nos contos do americano no que ficou conhecido como o “Ciclo Poe”, da American International Pictures. Para essa edição da Multiplot!, focada no diálogo e nas interseções entre cinema e palavra, pensei imediatamente em dois dos filmes desse ciclo: O Poço e o Pêndulo, de 1960, e A Orgia da Morte, de 1964 – duas adaptações particulares por suas sintonias finas entre a adaptação das tramas e de suas viradas, incorporando a essência do medo que atravessa os escritos de Poe para além de suas intrigas. Como o cinema de Roger Corman, que ao lidar com o fantástico buscava entender o desconhecido, sentir o mistério, descobrir a distância entre o palpável e o etéreo, lida com um escritor cujas imagens de horror perduram por mais de um século no imaginário cinematográfico?
A morte contra o tempo
No conto O Poço e o Pêndulo, a morte em Poe é vista por fragmentos: o narrador enxerga chamas que aos olhos se confundem, alguém cujos algozes desconhecemos, que sabe apenas por imagens imprecisas que caiu num poço cuja armadilha pende de cima, e se aproxima a cada instante. A descrição minuciosa do espaço ao redor mapeia diretamente o olhar do narrador que tateia, no completo breu, essas paredes, intuindo seu cárcere apenas pelas medidas dos seus pés e mãos – uma imagem hipnotizante, mas bastante complicada de se transpor para o cinema. Diante dessa escuridão de base, Corman toma outros caminhos, e junto do roteiro do grande Richard Mathieson, capta o que Poe oferece de essencial em espírito para a sua atmosfera de opressão, e principalmente de contexto histórico: a complexa cela, palco dos sadismos de homens invisíveis, era instrumento de tortura da Inquisição Espanhola. É através dessa pista, a princípio apenas contextual, que Corman encontra a danação da alma que quer filmar.
As cores abstratas do início do filme, escorrendo pela tela, apresentam um contraponto ao escuro apavorante que Poe descreve no conto: o que era indistinção de luz no breu literário vira indistinção das formas nas imagens cinematográficas; são imagens que preparam terreno para o prólogo que, sem diálogos, já antecipa a chegada a um lugar sombrio sem recorrer ao desespero inicial de desorientação de Poe. É justamente porque o interesse de Corman é mais num mal-estar construído aos poucos, não da clausura forçada da cela, mas a clausura consentida da conveniência do castelo; menos uma prisão espacial e mais uma prisão temporal.
Esse é um dos mecanismos narrativos que explicitam como a transposição do texto de Poe para o filme é mais detalhada nos seus comos e porquês: o roteiro é focado nas intrigas familiares que disparam o contexto para a armadilha do título ser filmada – uma cerimônia em torno daquela armadilha que não causa o mesmo choque proposto por Poe, mas adere à violência física e simbólica que, tanto pela forma de narração quanto pelo contexto histórico de opressão institucionalizada, já estava no texto.
A ambientação da inquisição espanhola do conto original é colocada em perspectiva pelas lembranças familiares do protagonista: filho de um inquisidor que mantinha no castelo as máquinas de tortura como troféus, Nicholas precisa lidar com um espaço que teme e odeia por mera letargia cerimoniosa com seus deveres familiares. A violência se torna uma herança histórica maldita, um pesadelo formado no sangue do personagem de Vincent Price, cuja casa é amaldiçoada justamente pelos crimes do passado de seus familiares. O tormento de sua esposa morta, que sentia medo do que aquele castelo guardava, permanece entre os corredores como uma assombração, uma rara presença extracorpórea que percorre o filme.
Para discutir esse fantasma que ronda o castelo, Corman usa de demais imaginários da escrita de Poe. Outra das imagens que atormentam o protagonista, os retratos de sua esposa morta, vem como mais uma herança de Poe, especialmente no conto O Retrato Oval, que também falava sobre quadros pintados em homenagem a almas tão perturbadas que permanecem vagando como fantasmas. Ao pintar o rosto de sua esposa, Nicholas simbolicamente a mantém viva, vigilante por uma casa que não suporta sua perda, cujas criptas escondidas revelam os segredos que psicologicamente a consumiram. À medida que vemos flashbacks do passado de ambos, e conforme o irmão da falecida descobre mais sobre o castelo e seus habitantes, vai se construindo um mal-estar que mantém no seu centro um crime do passado que projeta sua sombra pelas paredes do lugar.
Quando a grande revelação acontece, não por acaso, os doppelgängers se enfileiram, porque a intriga do presente se torna a do passado, com seus adultérios provocados quase que pelos espíritos violentos da casa. Um histórico de horror é tornado concreto pelo salto entre o simbólico e o literal: Nicholas, o homem apaixonado e traumatizado que passou uma vida a negar a herança maldita de seu pai homicida, abre seus olhos diante da traição de sua esposa e de seu amigo para ser legitimamente possuído pelo espírito do pai inquisidor. Essa mudança, magistralmente conduzida por Corman ao encenar a queda da escada – para que nos lembremos que quanto mais profunda a viagem para o subsolo, mais descobrimos o horror desse passado – é trágica pelo seu peso do inevitável, um legítimo sentimento gótico herdado de Poe sem nem ao menos estar no conto original.
A armadilha do poço e do pêndulo, que no texto de Poe evoca a leitura dos dois acertos de contas com o destino, o inevitável manifestado ao norte e ao sul do narrador, aqui é a ferramenta de tortura contextualizada de um homem cuja vingança tem os laços sanguíneos que buscou recusar uma vida inteira. O que em Poe eram dois abismos de existência – cujo resultado só podia ser a morte exemplificados pelo pêndulo cortante e o poço escuro e infinito – aqui é lido sob uma ótica de fatalidade histórica: os dois abismos têm suas origens no que a família conjurou para sua linhagem, instrumentos de tortura institucional que se espalham pela História como ferramentas também de vinganças pessoais, passionais, conjugais. É um dos muitos trunfos do roteiro de Mathieson: para mantermos nas referências literárias, se adapta não a Júlio César, mas sim ao espírito de Roma.
A morte contra Deus e o diabo
Em O Baile da Morte Vermelha, a extravagância do príncipe Próspero, o anfitrião do baile do título, é sentida principalmente pelo seu apreço pelos rituais da festa: há um badalar constante que arrepia a espinha dos convidados, a forma que organiza as cores variadas de cada espaço no conto, salões declaradamente caracterizados pelo narrador pelo seu potencial de horror, há uma sensação de movimento constante entre os convidados, e um espectro de controle, de poder sobre seus vassalos, que ronda o castelo muito antes da Morte Vermelha dar as caras; uma obra in loco, friamente calculada por um anfitrião que pensa como Deus. Em A Orgia da Morte, sua contraparte cinematográfica, o príncipe Próspero, vivido também por Vincent Price, pode até pensar como Deus, mas sua fé é enquanto servo devoto de Satã.
A Orgia da Morte logo apresenta muitos dos lugares conhecidos do conto, como as câmaras coloridas e o relógio cujos badalos suspendem as almas alheias por um momento. Mas também se estrutura como uma conversão do rigor de Poe para uma narrativa novelística, condensando as ações e as intrigas mais em volta do espírito e da poética da prosa de Poe, e menos em sua trama. Aqui, o diretor é bem mais fiel ao conto original que em O Poço e o Pêndulo, mas não deixa de tomar suas liberdades tanto narrativas quanto analíticas. Em Poe, o papel da morte é onipresente por sua implacabilidade quase científica, uma peste que arrasa um castelo como forma tanto de demonstração de seu poder absoluto – que não conhece marcações de território –, quanto de vingança moral contra um homem que julgava controlar o destino de si e dos que tiraniza. Aqui, esse julgamento moral é mantido em foco sob uma constante disputa de fé, entre Próspero e Francesca, entre Deus e Satã, entre Satã e a Morte. Interessa a Corman os iconográficos variados do inevitável, e para isso filma outras formas de misticismo, do tarô ao ritual de sacrifício, passando também pela religião.
Desde o prólogo, o filme de Corman vai numa raiz religiosa punitiva da peste, como o início de A Maldição do Demônio, de Mario Bava – não por acaso um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, que foi trazido ao país pela mesma AIP. O príncipe de Vincent Price condena o pequeno vilarejo ao fogo sem pensar duas vezes, e a destruição daquela gente humilde assombrada pela tirania humana e da peste permanece um espectro que consome A Orgia da Morte. Como Bava, Corman filma formas de encarar imagens amaldiçoadas pela disparidade social, por quem os poderosos marcavam como hereges e dispensáveis, desde os sacrifícios religiosos até as humilhações às quais os convidados são constantemente submetidos. Nesse sentido, é marcante a sequência dos camponeses que pedem pela clemência de Próspero para que ele os deixe entrar no castelo e se proteger da peste: ao recusar, o conde ordena a morte de todos (menos de uma criança), e os seus guardas sacam as bestas e disparam flechas sem cerimônia, sem piedade ou hesitação – mortes brutais filmadas de forma ríspida, seca. O corte a seguir soa ainda mais cru, porque exemplifica bem a indignação social de Corman: imediatamente depois das mortes, vemos o banquete que acontece no castelo, dos visitantes que estão entre reféns da crueldade mística do rei e felizes súditos de uma terra arrasada.
O badalar do relógio do conto aparece no início, um marcador momentâneo do horror, que relembra aos presentes a sua efemeridade e, principalmente, a sua clausura – mas são pequenos toques estilísticos de ambientação cuja importância no conto é consideravelmente maior. Não deixam de ser bons motifs visuais na construção estética do filme, mas estão lá por outros motivos narrativos, da mesma forma que os salões de luzes coloridas, aqui adaptados para uma cripta que esconde os desejos mais ritualísticos do conde e de sua esposa. Convém mais à batalha espiritual do filme que essas criptas sejam menos esboços de um esforço intelectual de construção de terror por parte do príncipe, e mais locais pregressos de tortura, cuja oferenda é para seu mestre sobrenatural. A última cripta, preta com luz vermelha, é o local principal das cerimônias, a igreja de Satã cujo uso diário de repouso dos seus vassalos reais está sempre pronta para ser usada como altar de sacrifícios e pactos.
Não por acaso, a Morte Vermelha confronta Próspero nessa sala. A morte surge como punição do culto a Satã, um acerto de contas que arrasa com um homem que pensava enganar a morte ao ser também súdito de uma autoridade maior, e que encontra na Morte Vermelha um oponente tão poderoso que usa de seu rosto para amaldiçoá-lo para sempre – mais um duplo na leitura de Corman aos textos de Poe, uma curiosa ideia que não está presente nos contos.
No conto de Poe, o confronto místico se dá enquanto plano estético: a peste personificada em um corpo que transita pelo baile, mas cujo alcance não deixa de ser científico, não religioso. Já no filme de Corman, como recompensa a todas as discussões teológicas no confronto de fé entre Francesca e Próspero, a representação se torna ainda mais etérea: no clímax, ao espalhar a doença por todos que se julgavam seguros dos horrores, Corman filma uma dança macabra como um ataque zumbi, da peste que se espalha pelo salão até a morte de todos, como um equalizador das castas – a Morte Vermelha mostrando aos humanos que seu alcance é vasto e oferece vidas como forma trágica de provar sua supremacia diante das deidades que cultuamos. Tragédia essa reconhecida pela Morte quando encontra seus pares, as outras responsáveis por pestes, trajadas com vestes que ecoam justamente as câmaras coloridas do castelo; entidades destinadas a continuar a espalhar o horror inexplicável e inapreensível da morte.
É nessa repetição da violência que Corman encontra Poe, uma linhagem de horror que se recusa a cessar diante da mudança dos tempos, cujas ideias aproximam muito os dois filmes. Em certo momento, Próspero diz que, nas criptas subterrâneas sua família, tortura pessoas há pelo menos uma centena de anos, como se Vincent Price aqui fosse uma continuação do inquisidor de O Poço e o Pêndulo e um oposto de seu filho, três personagens marcados por um histórico sanguinário. Esse mal-estar, essa contemplação estupefata do horror, atravessa as palavras de Poe nos dois contos originais e em muitos outros, e aqui ganha no corpo da História, explicações dolorosas para esse mal que paira sobre a Terra, e que o escritor americano nem sempre se interessava em mapear o porquê dele. Nessas duas brilhantes adaptações, as raízes da violência têm em seu coração as trevas do exercício apavorante de um poder que se julga ilimitado até encontrar autoridades mais fortes. Seja no destino inevitável da morte, seja na repetição terrível do tempo, sentimos a respiração de dois monstros invisíveis e metafísicos cujas concretudes ganham corpo, quadro e movimento com Roger Corman.