por Pedro Tavares
Uma gama considerável de estudiosos se debruçaram sobre a relação do discurso, poder e valor, indo de Foucault e Agamben até teóricos e curadores com ênfase no cinema como Tom Gunning e Henri Langlois. As definições que remetem aos casos que serão citados nas próximas páginas certamente são as de Foucault: “é uma produção coletiva e histórica, portanto anônima, que na maior parte do tempo trabalha em silêncio, dando sentido ao que dizemos e fazemos” e de Gunning e seu estudo de relações diretas com a imagem e espetáculo a partir do cinema de atrações. Em rápida apresentação, a Universidade de Chicago relaciona o trabalho de Gunning com “problemas de estilo e interpretação de filmes, história do cinema e cultura cinematográfica”. Portanto, partindo da ideia que toda prática social tem discurso – questão posteriormente refutada por Fairclough -, o anonimato e os “problemas de interpretação de filmes” têm seu apogeu no senso coletivo fantasmagórico das redes sociais ou da busca por aprovação de nicho a partir de um espetáculo simples quando o que se deteriora, na verdade, é a experiência individual com o filme em si.
Se voltarmos aos primórdios da relação filme-público, notaremos o enraizamento na submissão do público pelas reações viscerais indo do medo à violência quando falamos de um primeiro encontro com a estrutura de exibição. O mais emblemático exemplo é o do susto na chegada do trem em L’Arrivée du Train dos irmãos Lumière em 1896. Mais tarde, com variações destes sentidos e linguagens usados por Sergei Eisenstein que pavimentaram a montagem das atrações, junto à mudança para o cinema narrativo em D.W Griffith e a chegada do cinema sonoro mudam a relação do público e os filmes. Com o passar dos anos e mudanças radicais de comportamento através das guerras, da revolução industrial e o avanço tecnológico apontam para outras formas de consumo, da consolidação como indústria até ao VHS. Já a chegada da Internet beneficia a construção de uma cinefilia sem limites através das trocas de arquivo e informações em fóruns. Concomitantemente, câmeras digitais ganharam acesso democratizado – na medida do possível – e novos cineastas construíram filmografias que invariavelmente usam até hoje os meios digitais como melhor alternativa de divulgação. Se os fóruns ajudam na troca e proliferação de arquivos, as redes sociais ganharam contornos de poder que implodiram o real. É necessário lembrar que juízes e soldados não trabalham com a subjetividade e que discurso está enraizado em suas intenções.
Pulo para hoje, 2025, ao citar dois eventos muito importantes para o cinema brasileiro, cada um à sua forma e impacto particular: a 28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes e a indicação de Ainda Estou Aqui (Walter Salles, 2024) ao Oscar em três categorias – incluindo a de melhor filme. A começar pelo segundo evento pois este é o mais recente: Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz e ascendeu. Aparições nos programas de TV americanos foram frequentes na mesma medida que nas redes sociais todo tipo de meme era criado para enaltecer o filme e a performance de Torres. O clima otimista não foi o bastante. Era necessária uma atitude que chamasse para si (o usuário) o frenesi – talvez a epítome da função do Twitter (ou X) nos últimos anos.
O clima era de “Copa do Mundo” e funcionou de forma pragmática: o “motim” não era mais a favor do filme, mas sim para derrubar seus concorrentes. Aquele que se mostrou vulnerável para um ataque foi Emília Perez (Jacques Audiard, 2024) seja por escolhas profissionais questionáveis de Audiard e, posteriormente, pelas declarações preconceituosas de Karla Sofía Gascon, uma das estrelas do filme, encontradas em seu extinto perfil no Twitter. O filme logo caiu nas cotações ao prêmio. Gascon, primeira mulher trans indicada ao prêmio de melhor atriz neutralizou este grande feito e após a vitória do filme de Walter Salles ironizou o feito com um vídeo da comemoração do público brasileiro durante o carnaval em Curitiba.
Durante a transmissão, a onda do cancelamento ia e vinha enquanto o resultado mais esperado da noite não chegava – Adrien Brody, Sean Baker e Kieran Culkin não saíram incólumes de seus discursos de agradecimento. Enquanto estes três homens deram brecha para questionar algumas de suas falas, o mais pesado dos julgamentos estava destinado a uma mulher que simplesmente exerceu seu trabalho de atriz – e venceu. Mikey Madison, protagonista de Anora (Sean Baker, 2024) em questão de horas foi alvo de misoginia deliberada e não era mais atriz e sim uma prostituta segundo sua página no Wikipedia – posteriormente foi comprovado que tal alteração foi feita por um IP brasileiro. O comportamento é anacrônico e bélico, e, acima de tudo, fundamentalista, que aposta no triunfalismo de um avatar, um número em um aplicativo ou uma corrente comportamental semelhante às reuniões de condomínio. Ironicamente, um comportamento espelhado ao dos intolerantes.

Mikey Madison: página adulterada no Wikipedia.
Todos os discursos de defesa a Torres ou Demi Moore por A Substância (Coralie Fargeat, 2024) caíam num ponto cego: o da comparação entre personagens. Diminuir o trabalho de Madison, que viveu uma prostituta, sugerindo assim a impossibilidade de um aprofundamento maior que as personagens mais cotadas, transparecem ideias muito preocupantes de quem estava militando (vale reforçar a diferença entre “torcer”) há meses por um filme. Deste ponto saem acusações de etarismo, xenofobia enquanto um apedrejamento a Anora (e consequentemente a Madison, sem separar a pessoa de seu trabalho) acontecia. Enquanto você lê este texto provavelmente já esqueceu dos indicados a melhor filme no Oscar de 2025 e Madison não está mais no alvo. Os quadros são trocados rapidamente – não há tempo para discuti-los, há uma nova polêmica correndo agora para o uso de uma postura professoral em prol de uma verdade absoluta – a presença fantasmagórica de um veredito sobre o tema em discussão é de mais-valia que a extensão de um assunto em comunidade e que existam discordâncias, variantes e novas informações para construções e reconstruções de discursos e opiniões. O ódio é o espetáculo.
Cabe aqui uma observação a respeito à defesa popular do filme de Walter Salles: um apedrejamento virtual ao crítico Raul Arthuso que considerou o filme mediano – a julgar pela sua cotação na rede Letterboxd – diminuindo seu trabalho como crítico e professor, pois um “profissional que se preze é obrigado a gostar do filme que coloca o cinema brasileiro no holofote”, diz um deles. O holofote americano, vale frisar. Arthuso, que escreve para a Folha de São Paulo, recebeu um “texto resposta” de outro crítico. Apesar de uma tradição que envolve trocas de correspondências entre críticos, cineastas e filósofos, é importante mencionar que jornais têm por costume publicar um texto positivo e outro negativo a respeito de grandes lançamentos há muitos anos – em tempos digitais é ainda mais fácil que estes textos caminhem juntos, mas o direito de resposta está mais para uma colisão e reinvidicação pela defesa de algo que não foi feito por quem o escreveu.
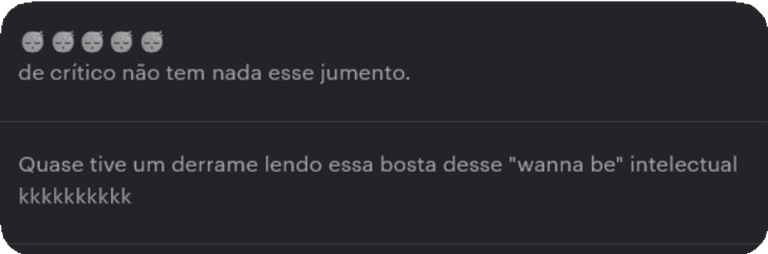
O carinho da torcida para quem não defendeu “Ainda Estou Aqui”. “My way or the highway”
A quem interessa encaixotar morais e sentidos sem considerar a subjetividade de um filme?
Não menos importante, a Mostra de Cinema de Tiradentes deixa mais explícita como a reflexão e percepção está embutida num calvinismo em troca de um senso de pertencimento e afirmação que invariavelmente criam certo prazer – e que sempre estará relacionado ao perigo da insuficiência. Considero uma grande aposta curatorial a lista de longas-metragens selecionados este ano para a mostra Aurora e Olhos Livres a partir da questão “Que cinema é esse?”.
Filmes como Um Minuto é uma eternidade para quem está sofrendo, (Fábio Rogério e Wesley Pereira Castro, 2025) Kickflip (Lucca Filippin, 2025) e As Muitas Mortes de Antônio Parreiras, (Lucas Parente, 2024) para citar alguns, andam numa linha de risco necessária para se fazer cinema no Brasil. De baixo orçamento, feito onde se dá, com suporte de amigos e familiares, reinventando o espaço filmado e criando signos a partir do que há por perto. Não falarei do meu filme que esteve no mesmo programa, ainda que ele entre no mesmo recorte de alta vulnerabilidade para um engessamento argumentativo. Volto a citar os três filmes acima como exemplo. Um Minuto…é uma penosa luta por algum tipo de alívio. O pênis de seu protagonista e diretor, Wesley, aparece diversas vezes. Para urinar, para gozar e se exibir. Alívio para borrar o que seus olhos veem senão filmes e livros. O argumento lido por alguns críticos nas redes sociais é de ser um filme fálico. Kickflip, um filme suicida e entediado, sujo, propositalmente jogado na sarjeta, feito por adolescentes que estão no exato momento de fazer o que é filmado é resumido por suas cenas mais extremas como a competição de ingestão de marshmellow que enoja aos mais conservadores. Já Antônio Parreiras virou um problema estético: o bichano-símbolo do filme não é de verdade. Seus personagens não são naturalistas; é um filme distante. Me pergunto o que há de errado nessas três abordagens. Goste ou não delas.

Um minuto é uma eternidade para quem está sofrendo (2025)
Abro um parêntese muito pessoal aqui: este tipo de comportamento/visão/julgamento lembra demais os tempos em que fui atendente de uma locadora. Boa parte dos clientes era mais velha e bem rica (arrisco dizer que hoje são bolsonaristas). Nesta função eu tinha que esclarecer, muitas vezes, sobre “o que era” o filme X ou Y. O capital nos coloca nesta posição de “explicar” e o escapismo e o prazer falam mais alto para muitos na hora de ver um filme. Na mesma medida o efeito manada fez certos filmes serem procurados nas prateleiras e hoje temos termômetros de qualidade a partir do tempo de aplausos ou “debandadas” do público em uma sessão. Enfim. O destino destas ações é a indulgência. O prazer de quem vê. Um identificação ou uma brecha para se reafirmar enquanto as camadas dos filmes são ignoradas.
De certo que estamos numa dicotomia preocupante quando falamos de visão e moral quando se vale somente da frontalidade pictórica e do próprio ego que aponta o que está na tela como reacionário, fálico, nojento, etc. O prazer de esmagar o que já é esmagado por toda sua história, indo da Cinédia ao fim do Ministério da Cultura por Jair Bolsonaro, é, no mínimo, assustador.
A proposta inicial é a do debate e que a organização da Mostra faz muito bem, mas se o detalhe que nenhuma trajetória será de acertos somente é esquecida e que a resposta é inquisitora, o que há para fazer? Não há diretor com filmografia irretocável, filmes perfeitos ou festivais sem filmes ruins – ainda que tudo isso, também, seja subjetivo. A pergunta é feita para identificar o cinema e não a quem ofende, tampouco quem o faz.
O que ganha o cinema brasileiro se o movimento institucional é o de debate sobre a produção, os meios, os destinos se a interdição externa suporta regras à obediência a um certo cinema que necessariamente precisa ser direto, naturalista, contemporâneo – ou melhor, “urgente”? Talvez nem mesmo estes adjetivos funcionem mais ao público que chega hoje. Se o cinema brasileiro precisar de ser emissor da autoindulgência por duas horas, sem usar a invenção, reinvenção, adaptação e, principalmente, as entranhas, chegaremos ao ponto de vermos a tela sem a necessidade de imersão. Aí sim chegaremos aos holofotes da indústria, pois voltaremos à submissão. Obrigado àqueles que escolheram provocar de alguma forma e aos que apostam no incômodo.
*
















