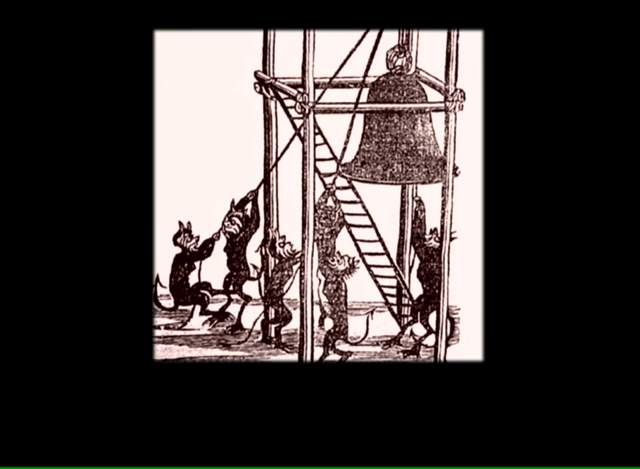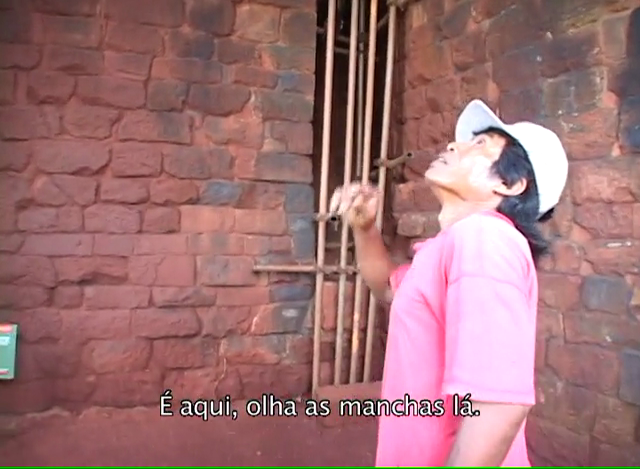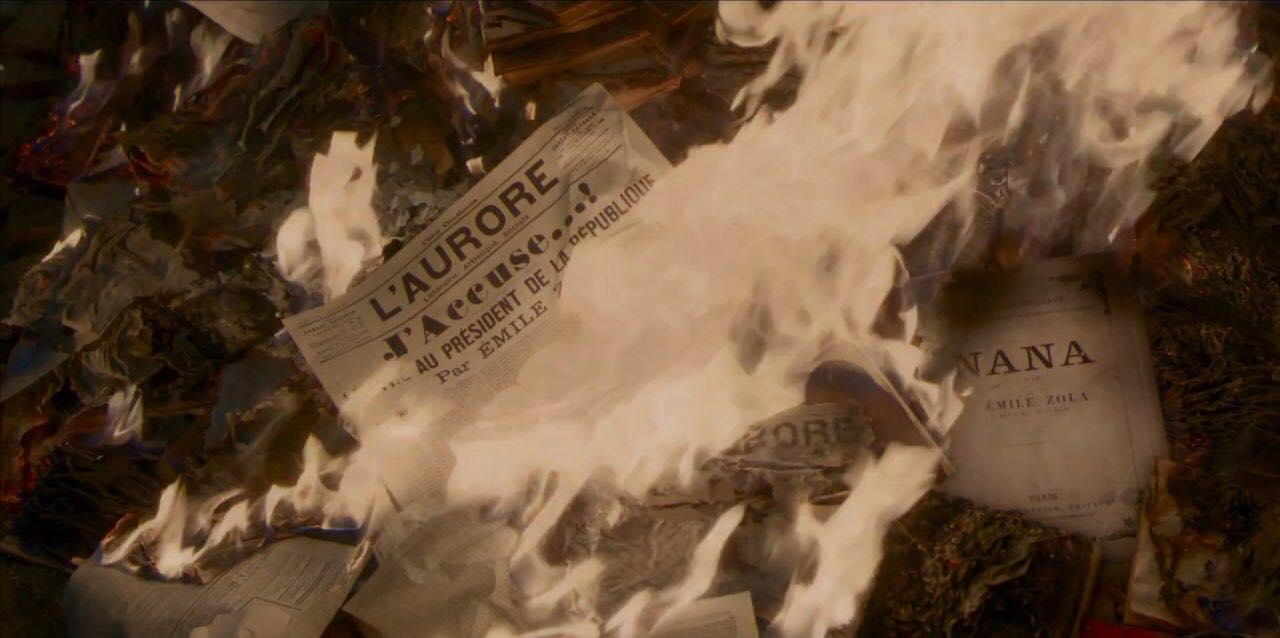Por Gabriel Papaléo
“Há uma batida de ritmo de selva embaixo de mim; o som de cassetetes batendo em escudos de choque, tradição da polícia quando a coisa fica feia. (…) Porque vai haver sangue de transientes derramado por todo esse lugar.”
Warren Ellis, Transmetropolitan 3
Como vivemos no totalitarismo da imagem? O cotidiano pode ser mediado pelo controle absoluto dos dispositivos digitais que nos cercam?
A repressão do governo nas ruas através do uso da força policial como contenção da ebulição de pensamento de descontentamentos é o contexto das ruas de Los Angeles nesse 1999 alternativo cyberpunk concebido por Kathryn Bigelow, em Estranhos Prazeres. A população inflamada apanha sem nem ao menos sabermos o porquê e a indiferença do protagonista Lenny Nero, ao passar pelas ruas na sua Mercedes, parece deixar claro que aquela paisagem há muito é palco de confrontos. Sua jornada é no contrabando de imagens, de um dispositivo chamado SQUID – criado para acessar memórias alheias em primeira pessoa, como um videogame em realidade virtual – e seu contato com a realidade é através dessas imagens alienantes da nostalgia, do gradual descarrilamento do presente como abrigo do pensamento. A televisão mostra o rapper morto misteriosamente, as ruas sangram sua insatisfação, mas, para Lenny, as imagens digitais e seus prazeres bastam nesse estado de letargia desacreditada com o mundo típico dos detetives de noir que o filme dialoga.
Na explosiva cena de abertura, sentimos de imediato o objeto de desejo de tantos personagens ao acompanhar a ação em primeira pessoa do dispositivo, numa perseguição atordoante que termina em morte das muitas pulsões que Lenny almeja aqui. Quando o ex-detetive busca as memórias de sua ex, fica claro que o passado atormentado é sobretudo uma relação desapaixonada com as instituições e é nesse sentimento que Bigelow concentra toda a primeira hora de filme, investindo no pano de fundo, nas interações entre os personagens, em como funciona a máquina cyberpunk do pré-apocalipse da virada do milênio. O conflito racial surge nesse setting como o grande preço que as pessoas pagam ao tentar lutar no tempo presente.
O estado policial de opressão sentido a cada interação, no abandono das interações sociais, nas vizinhanças sitiadas – devidamente ignorados pela nostalgia digital do protagonista, claro. Essas vizinhanças, por sua vez, só surgem de início em flashback, para apresentar o contato inicial entre ele e Mace, vivida por Angela Bassett. Que Bassett dê uma fisicalidade à Mace que expande cena por cena o papel da personagem é algo perceptível até no olhar da atriz e cabe a essa personagem, bem mais afinada com os dilemas sociais e com a resistência urbana direta diária, a quebra do feitiço digital de Lenny. Que Mace seja uma motorista de limusine dos ricaços, como no Cosmópolis, de Cronenberg, só evidencia seu papel mais íntimo com a cidade, de um conhecimento das ruas pelo dever direto que exerce e observa pela janela.
O conceito de explosão sensorial via realidade virtual é algo que Cronenberg viria a trabalhar diretamente em Existenz, um dos seus melhores filmes, e o título brasileiro do filme de Bigelow chega até a ser o mesmo do Crash do diretor canadense. As perversões da alma sexual do cinema do canadense aqui se tornam ponte para um discurso de privilégios, com foco outro além das inquietudes psicológicas – e aí a comparação mais afinada me parece com o já citado Cosmópolis, um filme que ocorre na pressão entre o ar condicionado da limusine de Robert Pattinson e o ar digital do lado de fora. Aqui em Estranhos Prazeres, o ar não é propriamente digital e as manifestações não exemplificam as virtualidades, as vulnerabilidades e as flutuações delirantes do mercado financeiro; o ar daqui é poluído como a geografia de Los Angeles, a segregação e suas vozes ativas diante das culturas alternativas. O embate do hip hop na televisão, atacado como símbolo político, nas tentativas de despolitizar a cultura de periferia. A motorista dos ricaços numa cidade sitiada e cosmopolita tenta sobreviver com o psicológico intacto à medida que dá, mas sem ignorar os problemas ao redor sob a égide do cinismo e da derrota. É sobretudo um ritual de disciplina, exemplificado na recusa da utilização do SQUID por parte de Mace, que exala da presença da personagem. É da dificuldade em balancear o desejo e o dever, o condicionamento da realidade sob pulsões duvidosas. Escapando de uma premissa reacionária de escapismo, Bigelow no entanto cria a virada da personagem ao fazê-la usar o dispositivo para algo que falaria com seu âmago sob a urgência do levante popular. Mace acessa as imagens, quase com medo, e tem sua realidade aumentada justamente pelo dispositivo que vemos ser anestesiante para o resto dos personagens. É como usar a ferramenta, sobretudo, e sem a inocência de negar o peso rústico do que ela pode causar – e a verdade que Mace vê é filmada como o ataque agressivo aos sentidos que é.
Conforme a violência vai se tornando mais próxima, mais brutais ficam as cenas que as mostram – e há duas cenas de estupro fortíssimas no filme, em primeira pessoa, abordando diretamente uma questão sensorial da brutalidade superficial da imagem e da linguagem nela inserida. A visão em primeira pessoa nos faz quase cúmplices do crime, e Bigelow sabe disso, mas não na exposição de culpa, o que seria uma iniciativa cínica, e sim de exposição do ponto sem retorno sensorial causado pelo dispositivo. “A paranoia é apenas a realidade numa escala reduzida”, como um personagem diz no filme, e fica difícil estar a par das nuances da realidade quando as imagens obliteram suas córneas. A articulação da conspiração parte então da perversidade explosiva das imagens, do que a memória tornada viva expressa e, com isso, muito da miopia social de Lenny é explicada; é através de Mace, e do snuff da prostituta assassinada, que ele começa a ter relação com aqueles fatos – uma relação moral, de dever ético claro, mas que passa primeiro pelo campo do afeto pessoal, uma vez que é nele que a imagem mais ataca nesse universo.
Talvez por isso a trama de traição importa tão pouco – até mesmo para Bigelow, que encena o clímax no quarto de hotel com cortes bruscos e parecendo mais interessada em experimentar com aquele tempo que de fato resolver dramaticamente aqueles arcos -, porque no limite são atos de crueldade de pessoas ricas e brancas que estão paranoicas porque presenciaram a morte pela primeira vez. Philo Gant, personagem central vivido com a vilania dos gestos calculados e expansivos de Michael Wincott, já servira de bom grado ao papel de homem branco apropriador ao lidar com Jericho One sob o filtro das fortunas, mas é apenas quando se sente ameaçado pela primeira vez pela conspiração em curso que ele se torna não apenas paranóico com seu círculo de influência, como viciado ao extremo no uso das imagens digitais do SQUID. É quase como se a falta de tato ao lidar com situações de pressão e de cerceamento geográfico e social pelas castas mais ricas fosse diretamente culpada pelos grandes atos de destruição e pela proporção inesperada dos movimentos de mudança. Resta a autodestruição, seja na música, seja fritando o cérebro com vídeos.
Como em um presente de imagens inúmeras, de catalogação complexa e estufada, a paranoia se intensifica e as desconfianças aumentam – as relações perigosas e sexuais surgem exatamente no nível de overdose representativa proposto por Abel Ferrara em outro clássico cyberpunk, Enigma do Poder. Ferrara também lidava com a virada do milênio como dispositivo estrutural para dialogar com videoclipes e a imaterialidade das imagens, a fragilidade da plataforma, refletindo diretamente o psicológico em xeque do triângulo amoroso devido a paranoia de encarar cada representação como a faca de dois gumes da interpretação duvidosa. A espionagem virava intriga sexual, e a perdição nos ambientes exige o total isolamento para alguma organização de pensamento. A diferença central é que, enquanto aquela trama de noir tornava-se a própria overdose de imagens orquestradas por Ferrara na meia-hora final, no confinamento do hotel vertical concebido por William Gibson, aqui em Estranhos Prazeres as imagens nunca dominam inteiramente os heróis tortos. É sobretudo na figura de Mace, sensível ao contexto político que busca as ruas para propor uma mudança significativa, que há o embate contra o império das imagens, imagens a ruir nas manifestações, contra a brutalidade policial, em nada dialogando com intrigas do ego.
O comentário de ambientação da tensão racial e a trama principal andam sugeridos mas não interligados por mais da metade do filme e, quando eles se atravessam, é culminando todo o ponto de vista estético e emocional que Bigelow vinha conduzindo: a experiência em primeira pessoal da testemunha da brutalidade do Estado, da violência diretamente ligada a uma pulsão sexual do voyeurismo, da importância do combate. As imagens do assassinato de Jericho One surgem com o diálogo direto ao vídeo das agressões sofridas por Rodney King em 1992, que desencadearam nas manifestações pelas ruas de Los Angeles e mostraram o fascismo agindo sobre o homem comum no seu viés mais racista e segregatório. O assunto fora algo amplamente discutido por Bigelow na hora de construir sua distopia, ao aliar essa temática política à intriga romântica do roteiro original de James Cameron e Jay Cocks, e redimensiona de fato os acontecimentos daquele mundo, traz o peso do ambiente interferindo no psicológico de quem há muito luta. Toda representação a partir daí começa a contar e toda a virtualidade dos encontros com o passado de Lenny e seus clientes perdem a força diante do chamado das ruas das palavras de Jericho One, dos punhos cerrados de Mace ao enfrentar quem a persegue. Não por acaso Mace desconfia da integridade do comissário ao lhe entregar as imagens que provam o assassinato de Jericho; os algozes da lei trouxeram esse estado das coisas ao lidar com o presente sob o filtro do afastamento social.
Ao final, o comissário é inocente e Bigelow propõe que a resistência envolve algum tipo de diálogo, até mesmo de conciliação, e então o roteiro abraça soluções que envolvem a fé na lei e na manutenção das ideias em determinadas situações. No entanto, o que move o policial inocente, no limite, não é sua integridade; é o medo, como Lenny diz, porque a opressão das castas sociais também atinge os empregados mais poderosos do maquinário fascista. As diretrizes ameaçadoras agem no sistema que se deglute pelo estado de opressão e a desconfiança da vigilância. Essa ambiguidade, em uma tentativa de jogar com o medo a seu favor, evita Bigelow de impedir o foco na pulsão pelo revide, das pessoas que aprenderam a estar atentas ao tempo presente, sem esquecer que as resoluções até são possíveis, mas a violência policial é causada por estruturas e não pela galeria de perversos que causam as atrocidades muitas de gênero e raciais. A população se revolta na festa do milênio, enquanto ouve o Skunk Anansie gritar que “Eles estão vendendo Jesus”, porque a pulsão da violência racista dos dois policiais pode ter causado os assassinatos, mas não causou o espancamento de Mace diante da multidão.
A chegada do milênio surge como prenúncio do apocalipse, do grande evento. O principal privilégio cyberpunk é buscar realidades de memórias para fugir do momento à beira do colapso, da tensão das ruas, dos anos 2000 em uma cidade com ânsia pelo fim do mundo. Esse fim do mundo é desejado como um sinal da mudança dos tempos, de que talvez as lutas sejam fortes o suficiente para desafiar e obliterar os sistemas presentes de governo e da economia, mas para as camadas privilegiadas com delírios de grandeza sobre seus problemas emocionais e suas intrigas afetivas, o apocalipse é apenas um desejo cínico de pulsão autodestrutiva de quem não tem o apreço pelo próprio corpo presente, e portanto parece o destino natural da violência, das pistas do crime, da paranoia. Mas como diz o personagem de Tom Sizemore no clímax: “não é nada; nunca é nada”. A grande conspiração megalomaníaca é apenas a forma delirante de auto importância que as camadas de cima veem para fugir da violência policial que os segregados sofrem diariamente.

![Strange Days 1995.mkv_snapshot_02.16.05_[2020.04.14_18.39.47]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_02.16.05_2020.04.14_18.39.47.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.13.40_[2020.04.14_18.35.46]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.13.40_2020.04.14_18.35.46.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.52_[2020.04.14_18.38.50]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.52_2020.04.14_18.38.50.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.11_[2020.04.14_18.36.51]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.11_2020.04.14_18.36.51.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.31_[2020.04.14_18.36.39]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.31_2020.04.14_18.36.39.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.28.51_[2020.04.14_18.37.34]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.28.51_2020.04.14_18.37.34.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.56_[2020.04.14_18.38.55]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.56_2020.04.14_18.38.55.jpg)