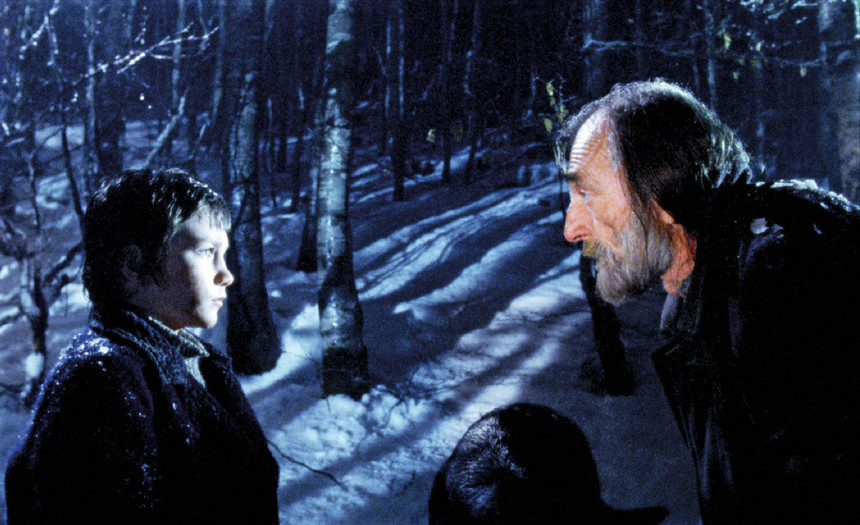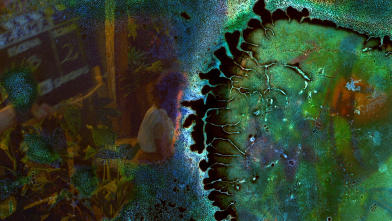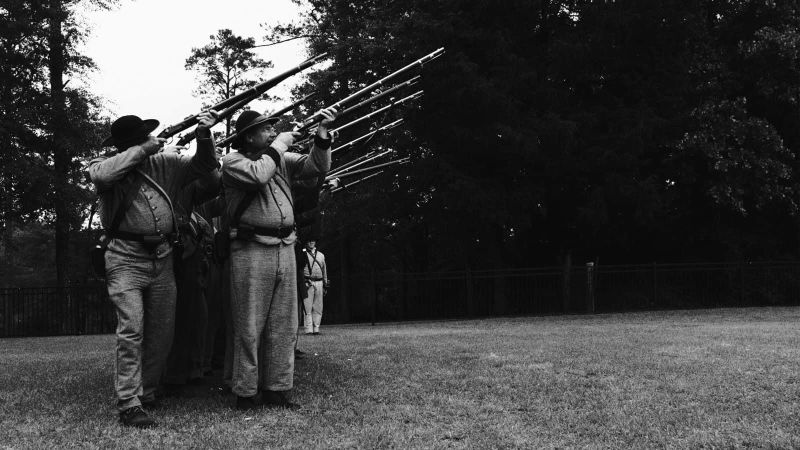O Lamento
Por Pedro Tavares
Em abril de 2001, durante a 1ª Conferencial Internacional do Documentário, em conversa com alunos e professores sobre produção de documentários, o diretor, editor e autor Michael Rabiger disse: “(…) Vocês percebem que continuo a usar a palavra ‘dramático’? É por que acredito que todas as histórias – ficcionais ou documentais – envolvem um drama”. A afirmação de Rabiger cabe muito bem como cisão entre Excelentíssimos e seu filme-irmão, O Processo, de Maria Augusta Ramos. O filme de Maria é focado no transcurso enquanto registra um lado da história, aquele que invariavelmente responderá e se defenderá de acusações e que desemboca no impeachment de Dilma Rousseff. Já Excelentíssimos, dirigido por Douglas Duarte, é a construção dramática do mesmo lado observado por Maria Augusta Ramos enquanto constata o teatro da banda oposta.
Como a polarização é inevitável, Excelentíssimos não se priva de ir de uma banda a outra, ainda que seu foco seja na causa e efeito – ou ação e reação. Douglas usa de diversos artifícios formais e é bem sucedido em todos, e seu grande impacto está, como em seu filme-irmão, no caráter observacional. O picadeiro está pronto e os artistas em ação. O registro do que parece inconcebível – de cultos no senado às ameaças de morte e propaganda pessoal com auxílio de selfies são armas de operação política e também atuação do que se julga correto. Estas ações que fogem ao bom gosto reafirmam o que já é sabido: a alteração generalizada de interesses e como a corruptela está estabelecida no planalto e factoides serão eixos importantíssimos para cada jogada política.
Excelentíssimos obedece à cartilha do drama, com a construção da vilania, mesmo que espaçada. A julgar que a figura de Jair Bolsonaro se apresenta pela metade do filme e Aécio Neves é mais um fantasma que sócio daqueles que, segundo o filme, tramaram para a queda de Dilma Rousseff. Na medida em que o encadeamento de fatos é mostrado, o filme se encoraja em ser folclórico, afinal, as ações são mais agudas e os interesses mais explícitos, a exemplo da sessão de votação que sacramentou o afastamento da presidenta, no qual a montagem do filme é muito eficiente em exibir a “festa” da democracia. Com aspas, pois os interesses são políticos e não de justiça conforme afirmações vistas no filme.
A somar com O Processo, temos recortes da mesma cerimonia por vieses distintos e formalismos que se assemelham por boa parte do tempo. São recortes longos e árduos, porém muito necessários para a compreensão do estado em que vivemos. Logicamente ambos passarão por questões de ética a pensar que são filmes que podem, com a presença da câmera, modificar a noção do real até mesmo para aqueles que são filmados – a mudança de comportamento, palavras, etc. No caso de Excelentíssimos, Douglas Duarte tem o respaldo das imagens de arquivo na construção deste mosaico pessimista do Brasil. Sua câmera invade e justifica o porquê. E quando o faz, raramente tira alguma palavra de seus personagens; ela é mais uma ferramenta na divisão filmagem-montagem, no qual Douglas dá funções distintas a elas. Observação e investigação justificam o filme, mas chegam a uma única e aguda conclusão sobre o nosso futuro de trevas.
Visto no 51º Festival de Brasília