


Ao longo dos filmes de Anthony Mann tem-se a certeza muito clara de que as coisas que importam ao diretor fazem parte de um mundo muito neutro ou muito técnico (ou, mais ainda, de uma técnica muito neutra). Isso se resume na seguinte pergunta: como filmar tecnicamente uma avalanche de movimentos, ações e sentimentos e, ainda assim, dentro da máquina hollywoodiana (no caso, da máquina ligeira do filme B), extrair a sensação desses substantivos na imagem resultante da fotografia gerada na posição da câmera? O grande espanto ao entrar em contato com os filmes de Mann, especificamente com Entre Dois Fogos, é a capacidade da frieza da técnica ao retratar determinadas situações bastante cruas e humanas. Fundamentalmente é tudo o que acontece neste filme, em termos.
Primeiro, trata-se de um filme que talvez não seja tão noir na trama, mas que é completamente expressivo na forma. Acontece que a luz e a sombra são as responsáveis diretas pelo delírio de imagens volumosas e cheias de uma emoção brutalmente cinemática e inventiva – a escuridão exagerada, a nebulosidade extremamente turva de uma sequência já perto do final. Depois, há o tratamento do roteiro, a clássica neutralidade de Mann que, só pela técnica apurada, simples e engenhosa (numa cena, a câmera acompanha a queda de um homem por uma janela em chamas e ainda aí é tudo questão de luz e sombra), deixa de parecer ser neutro para se colocar no centro da ação, mas de modo a fotografá-la melhor, com uma vida de cinema pulsante e ciente da construção de atmosfera. Não é o caso, por exemplo, de alguns filmes subsequentes, como E o Sangue Semeou a Terra, em que os personagens sobrevivem num mundo nada diegético, e onde esta diegese faz parte deles mesmos, como personagens responsáveis por construir uma ação – o que é o contrário de Entre Dois Fogos: os personagens fazem parte da fotografia, da luz, e são esses elementos que transformam o filme e suas sequências em momentos realmente proveitosos para Mann e para o público.
O caso é que Entre Dois Fogos está situado num limite ainda hoje difícil de definir em se tratando de Anthony Mann. Serge Daney dizia que a marca de Howard Hawks era não ter marcas. Em certo sentido, isso se aplica a Mann e a Entre Dois Fogos pois o filme, quando visto através dos anos, é uma verdadeira cicatriz na carreira do diretor. Não se fala em autoria, mas sim em domínio da técnica, em expansão ensaística do que viria a ser o cinema de Mann nos anos 60, aquele da suntuosidade da carne – da câmera – em A Queda do Império Romano e El Cid. Por falar em carne, toda a questão do filme me parece ser aquela de filmar um esqueleto. Esqueleto de roteiro que, numa primeira olhada, diz muito sobre o modo de filmar de Mann aqui e nos outros filmes. Um modo técnico que ainda assim carrega a emoção de contar uma história que mesmo acontecendo num tempo e num mundo presente – narrada, vez por outra, pela personagem da Claire Trevor em offs realmente tocantes, porque são, na verdade, primeiras impressões de alguém que convive com a ação da qual está virtual ou esqueleticamente de fora, visto que o romance em Mann é para um mundo a dois, não a três – já traz enraizada a situação completa, exposta simplesmente por uma cena em que Rick (Raymond Burr) revela que a fuga de Joe (Dennis O’Keefe), o protagonista da história, é um caso pensado e calculado para destruí-lo. Por si, isso dá na Implicação de uma única certeza: no filme, claro, o final será a dose do erro desse personagem ter revelado esta intenção. Essa fala é o que o aproxima de sua morte, desde o começo do filme.
Entretanto, o mais interessante de Entre Dois Fogos é um ensaio de personagem. Assim como aqueles que Mann mostraria nos westerns com James Stewart, aqui temos Claire Trevor como uma figura sem lugar na narrativa. Se os personagens de Stewart brigavam ferrenhamente contra certos laços dúbios ( o irmão de Winchester 73) ou com o passado de crime e o presente de regeneração (renegada pelo pai da moça em E o Sangue Semeou a Terra) que pertenciam a ele e às noções preconceituosas do outro, Pat, a personagem de Trevor é quem está, de fato, “entre dois fogos”. Ela ama Joe, que ama Ann, que o ama. Resta à ela assumir, em alguns momentos, a parcialidade da narração, da condução e da explanação sobre o que ela sente, provavelmente porque os outros personagens não estão interessados nisso. Nestes momentos, a neutralidade de Mann parece não encontrar um local técnico onde posicionar estas reflexões. Então, elas são jogadas por cima da imagem e tomam conta da percepção do filme, comentando-o no interesse particular, a partir de um outro olhar que não o alucinantemente técnico que Mann adota. O filme está todo aí. Uma cicatriz do tamanho da morte que caberá a Pat registrar pelos olhos que brilham inacreditavelmente nos primeiros minutos de Entre Dois Fogos e pela palavra. E esta é a combinação essencial deste filme. Amortecer a técnica com os lampejos de genialidade da técnica. Ou melhor, da técnica como palavra necessária para o registro quase impossível de imagens de imagens impossíveis.
4/4
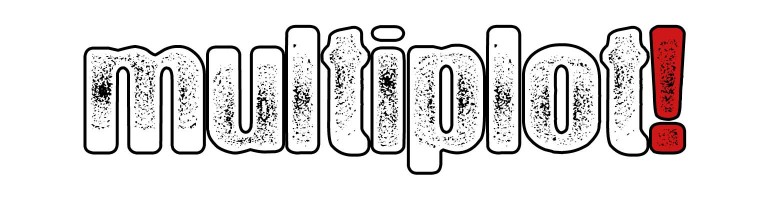






































![[image]](http://i539.photobucket.com/albums/ff358/danfou/tirinha1.jpg)
![[image]](http://i539.photobucket.com/albums/ff358/danfou/tirinha2.jpg)
![[image]](http://i539.photobucket.com/albums/ff358/danfou/tirinha3-1.jpg)