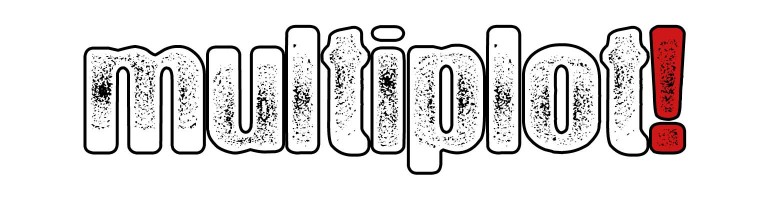É em O Pequeno Rincão de Deus que as obsessões formais e temáticas de Mann encontram todas uma espécie de ponto de convergência que ao mesmo tempo sintetiza, expande e extravasa [/Claudia Leite mode off] a noção de cinema que se construiu ao longo de sua brilhante carreira. Na cara-de-pau mesmo vou dizer que esta adaptação de um best-seller da época é seu projeto mais pessoal e a suposição provavelmente deveria explicar o que levou este filme a ser tão rechaçado pela crítica e pelo público à época do lançamento.
Primeiro por estar todo estruturado sobre um dos temas favoritos de Mann, a instituição familiar, que neste caso é liderada por um agricultor (um absolutamente ensandecido Robert Ryan na atuação de sua carreira, o que quer dizer muita coisa) que ao invés de cuidar de sua plantação perde os dias cavando buracos em sua extensa propriedade para encontrar um tesouro que poderia ter sido enterrado ali há anos pelo seu avô.
Em sua terra mantém uma cruz que é homenagem ao senhor Jesus Cristo, ou a Deus (não lembro, mas enfim, não que faça muita diferença no momento), que marca um pedaço de terra destinado à sua homenagem. Bem, claro que dependendo do quanto já foi cavado no restante do lugar a cruz vai de lá pra cá trocando o pedaço de terra santa, numa sacada que parece ter saído de algum filme perdido de Buñuel. Enquanto faz isso, também chega ao ponto de seqüestrar um moleque albino e obrigá-lo a cavar o dia todo por acreditar que albinos tem alguma facilidade para encontrar tesouros.
Existe neste personagem de Ryan um filme muito forte sobre a crença, sobre a loucura, sobre o homem em um estado de desnudamento completo de qualquer sombreamento das suas peculiaridades (falei bonito, diz aí). O homem no caso é um anormal completo, excêntrico até o talo, e é claro que tudo o que está em sua órbita não pode ficar muito aquém. E é aí que o domínio completo de tempo/espaço/temas/caralhinhos voadores de Mann entra em cena e esta premissa de homem louco se destroça em duzentas e vinte e sete subtramas envolvendo outros membros de sua família, fragmentos que guardam a mesma coragem e a mesma subversão deste insano esqueleto narrativo e por vezes amplificam estas características em cenas que em 1958 somente poderiam ser filmadas por alguém com muito crédito ou com muita droga na cabeça – ou com os dois, o que é mais estimulante ainda.
Do material para um novelão a la E O Vento Levou Mann acaba fazendo um filme doido, engraçado e pertinente e subversivo e polêmico, que conta com seu preciosismo estético sobre-humano (comentar composição visual de Mann já deixou de ser novidade por aqui, então etc) e alguns momentos de fazer sair pulando e batendo a cabeça nas coisas de tanta empolgação. E enfim, essa porra de filme tem de tudo, de insinuações sinuosas de sexo a putaria entre parentes a desfile de vagabundas a rebeliões a parentada falando verdades na cara dos outros – vai dizer, é uma delícia – a gente morrendo de formas bizarras a yada yada. É um dos filmes mais prazerosos de se ver em toda carreira do diretor, se mantendo muito forte na memória mesmo depois de anos. Sim, escrevo utilizando única e exclusivamente as minhas recordações longínquas dessa obra-prima, porque eu pretendia rever e fazer um texto bonitinho sobre este que é um dos meus filmes favoritos, mas como eu não consigo fugir dessa camisa de força que sou eu mesmo próprio estou novamente digitando tudo isso alucinadamente de um ônibus fedido numa auto-estrada mais esburacada que a coxa da Mulher Melancia sem Photoshop pra poder postar nessa merda de especial.
Mann merecia coisa melhor, sinceramente.
4/4