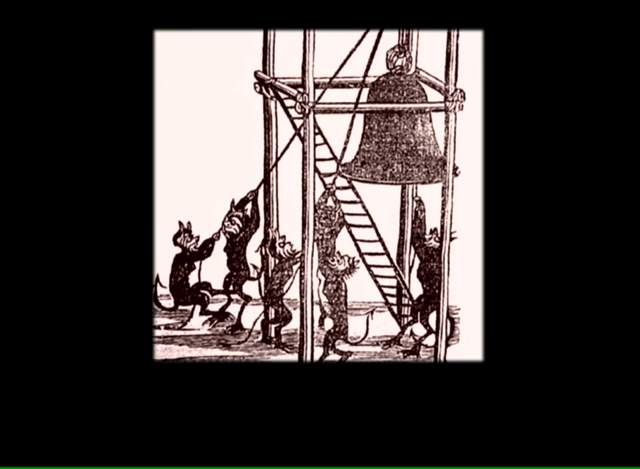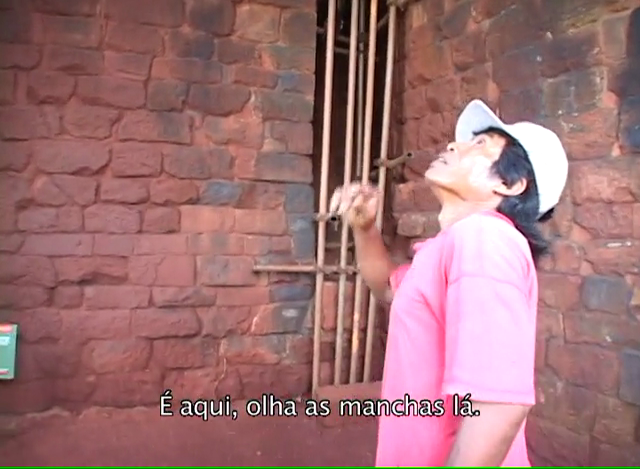Por Fabian Cantieri[1] e Thiago Brito[2]

Mais uma vez, eu e Thiago fomos encontrar o Hernani, conservador chefe da cinemateca do MAM, para conversar sobre preservação cinematográfica. O assunto virou mais que corriqueiro entre nós – temos alguns projetos/séries/filmes em desenvolvimento sobre isso – mas da última vez que efetivamente registramos e publicamos um debate sobre o tema foi em julho de 2013, pela Revista Cinética. Lá, como agora, estávamos diante de um período político não só turbulento, mas paradigmático – lá, as ruas que transformariam o reinado democrático institucional num eterno fracasso de governabilidade; agora, uma pandemia mundial que, nacionalmente, começa a naturalizar dezenas de milhares de mortes e conflagra a necropolítica como status quo. Nesse ínterim, a Cinemateca Brasileira e todo o setor viviam um processo de possível reestruturação.
Em 2013, após anos de luta, os profissionais da área de preservação, via Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA), finalmente conseguiram estabelecer um canal de diálogo com o Ministério da Cultura, abrindo a perspectiva para a criação real, e efetiva, de uma Política Nacional de Preservação Audiovisual.
Havia ali um aparente “corte histórico”: seguindo um modelo político desenvolvido para a produção de cinema no Brasil que se espraiava fora do eixo Rio-São Paulo, os arquivos menores espalhados pelo país pareciam finalmente ganhar consideração pública. A Cinemateca Brasileira poderia manter sua grandeza, mas a ideia de descentralização – começada pelo ex-ministro Gilberto Gil e fortalecida pela criação da ABPA – parecia ganhar terrenos sólidos.
No entanto, os anos seguintes à nossa entrevista evidenciaram que, muito embora todas as lutas e conquistas obtidas àquela altura, de uma hora para outra, tudo pode se esfacelar ou desmanchar-se no ar. A crise eterna em que o país mergulhou pós-golpe refletiu num descaso evidente em relação às questões culturais e de preservação do país, sendo o incêndio do Museu Nacional certamente o grande símbolo-consequência deste tipo de política do descaso e distanciamento.
Hoje, a Cinemateca Brasileira tem um orçamento anual de R$12 milhões, mas não recebe esse repasse do governo desde o final do ano passado. Os funcionários, que não recebem desde abril deste ano, entraram em greve. Existe um dado material muito elementar em relação a natureza da preservação de filmes: o nitrato de celulose, usado pela indústria até os anos 1950 é um material altamente inflamável e sujeito à autocombustão. A partir do momento em que a conta de energia não é paga e, assim cortada, cada dia sem um incêndio de altas proporções torna-se um pequeno milagre.
Devido à pandemia que nos assola, o encontro dessa vez se deu de forma virtual. Foram quase três horas de um domingo, dia 31 de maio de 2020. Ela será publicada aqui na Multiplot em três partes impressas e em vídeo. Falamos sobre essa situação emergencial específica da cinemateca, sua relação com a história, mas também sobre o século XXI que se reorganiza diante de nossos olhos, além, é claro, do problema da memória, do direito ao passado e de um horizonte amnésico. (Fabian Cantieri)
I – O estado das coisas
Fabian: A ideia de ter essa conversa partiu de uma imagem que me veio há umas semanas e que eu acho que não é só minha: a Cinemateca Brasileira em chamas. Isto se deu por conta da verba anual que não foi repassada à instituição. Ao mesmo tempo, a ideia de crise é algo que permeia a história da Cinemateca. Se não vem desde sua criação, pelo menos desde o incêndio de 57, com um Paulo Emílio Salles Gomes, um dos seus fundadores, já um tanto desanimado, tentando reerguer aquilo de novo até chegar, mais recentemente, em uma entrevista contigo para a Contracampo em julho de 2000, onde você abria com a frase “a cinemateca vive hoje um período delicado”. Queria entender com você qual o grau de possibilidade de um Museu Nacional 2 na Cinemateca Brasileira e a diferença de hoje.
Thiago: Queria apenas complementar que a entrevista que fizemos em 2013 com você, Hernani, se, por um lado, ela marca o início de uma crise dentro da Cinemateca Brasileira que persiste até hoje, do outro, ela apontava para um horizonte até relativamente otimista de uma aproximação da ABPA – e o conjunto de profissionais de preservação – junto ao MinC, terminando até com uma certa ideia de que finalmente teríamos uma Política Pública de Preservação Audiovisual. Então, se de um lado gostaríamos de entender essa história cíclica das crises da Cinemateca, também queríamos entender o que aconteceu de 2013 para cá.
Hernani: Não é pouca coisa que vocês estão colocando já de início. É um assunto que para ser compreendido de uma forma mais adequada precisa ser esmiuçado, tanto historicamente, quanto em termos estruturais, quanto em relação a existência ou ausência de políticas públicas relacionadas com a área de preservação audiovisual, eventualmente com o caso específico da Cinemateca Brasileira. Existe aí um componente chave para se entender tudo isso que é natureza do trabalho de preservação audiovisual e suas implicações, que num primeiro momento aparentemente são meramente técnicas, ou seja, se trata de um trabalho de conservação física de um conjunto de documentos. Este conjunto de documentos, com o tempo, adquire o status de patrimônio histórico, artístico e cultural. Estamos falando aqui do patrimônio audiovisual brasileiro, já que, não só a Cinemateca Brasileira, mas o conjunto dos arquivos audiovisuais brasileiros conseguiram incorporar e conservar uma parcela significativa deste patrimônio. Este patrimônio teve perdas significativas, sobretudo na primeira metade do século XX. Mas conseguiu, em alguma medida, ser conservado – já na segunda metade do século XX – inicialmente, pelo menos, pelas duas cinematecas que apontaram ali, primeiro a Cinemateca Brasileira, surgida em 1946, depois a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, surgida em 1955. E, com o tempo, uma série de outras instituições museológicas, arquivísticas, uma série de outras instituições de guarda de materiais audiovisuais – sejam os próprios filmes, não importando aí o suporte que se esteja considerando, a película, o suporte videomagnético analógico, ou já o eletroeletrônico, que a gente conhece como digital, as mídias óticas. Além dos filmes, considerando que também há uma série enorme de outros materiais relacionados aos filmes e que também precisam ser conservados, por que fazem parte intrínseca deste patrimônio, desta memória, indo desde os roteiros até fotografias, documentos de produção, aos documentos relacionados aos artistas e técnicos, enfim, tudo isso forma um grande patrimônio que foi sendo organizado, acumulado, foi se assentando aí numa série de instituições e que tem, talvez, na Cinemateca Brasileira o maior símbolo, seu maior emblema, porque é a mais antiga, é a mais importante, é a que tem o acervo mais significativo. É aquela inclusive que foi atravessada em sua história por estes momentos delicados que o Fabian mencionou aí em relação à entrevista da Contracampo. Que significa muitas crises, momentos dramáticos e que chegam neste momento de maio passando a junho de 2020 em mais uma situação terrível porque há um conjunto de elementos que colocam em risco novamente a instituição, o acervo e a preservação do que está dentro da instituição.
Qual é a questão maior? Se num primeiro momento, a questão da preservação é uma questão técnica, ou seja, estes objetos precisam sobreviver fisicamente, e sobreviver por dezenas, centenas de anos, isso implica num investimento que não é pequeno, que não é simples, que é continuado e que, a rigor, se multiplica à medida que os acervos cresçam. São investimentos do ponto de vista da climatização, ou seja, do controle de temperatura e de umidade para que você estabeleça esses materiais, esses suportes, para dar longevidade a eles. Uma película cinematográfica, como era típica no século passado, você precisa às vezes de reservas técnicas que trabalhem próximas do zero grau, tenha uma umidade em torno de 20 a 40 por cento, que tenha toda uma localização geográfica, uma série de estruturas de prevenção, que também não são simples, não são fáceis, que não pode colocar este espaço pendendo para um incêndio ou um alagamento, ou terremoto, ou uma coisa que, enfim, possa colocá-lo em risco e ele ser afetado de forma muito profunda, por algum sinistro que aconteça em função de uma não previsão, de um não investimento correto na manutenção e na conservação de tudo isso.
Ora, a dimensão disso em si já é muito cara, porque são processos complexos, são processos que eventualmente demandam um tipo de intervenção e de escala muito grandes, as reservas técnicas são muito grandes, a estrutura que tem dentro delas, às vezes, pela vastidão, pelo caráter massivo do acervo são muito caras – coisa óbvia e boba, estantes: as vezes para você, enfim, mobiliar uma reserva técnica de 600 metros quadrados, com uma estanteria adequada que não sofra corrosão, você gasta em torno de 200, 300, 400 mil reais. De uma maneira muito pontual e de uma questão que parece anódina: “ah, estantes”. Mas não é uma estante qualquer, não é uma estante no mercado disponível a baixo custo. Isso para dar um exemplo bobo, na verdade, a estrutura em si é muito maior do que isso e ela acaba se tornando muito cara. E isso significa que, quando você constitui uma instituição desta natureza, você tem que prever aportes financeiros contínuos de grande porte e que tendem a sempre aumentar com o tempo, na medida em que o acervo aumenta, e eventualmente você tem novidades pelo meio do caminho com foi o caso da passagem, por exemplo, do suporte fotoquímico, em película, pro suporte digital. Como os materiais digitais da atualidade não tem uma capacidade intrínseca de durabilidade maior, eles não sobrevivem ao tempo como a película, isso significa ter toda uma outra estratégia de preservação igualmente custosa, que é igualmente complexa, cara, e isso sem falar em aspectos, como, por exemplo, o pessoal, os técnicos treinados, uma infraestrutura de catalogação e conhecimento destes acervos. Enfim, se tudo isso não caminhar junto, você tem um trabalho sempre abreviado, ou aquém, do próprio conhecimento do acervo que a constituição guarda. Dar conta disso num nível adequado é realmente cada vez mais caro. E isso, de uma maneira geral, levou a maior parte das instituições a se colocarem dentro do universo do Estado.
Estado é aquela instância que, de fato, possui capacidade financeira para sustentar um trabalho continuado em dezenas e dezenas de anos, e eventualmente, digamos assim, absorver melhor os impactos que este universo, que esta atividade tem e conseguir dar respostas mais adequadas e rápidas para isso. Aqui talvez a gente chegue no ponto chave em que as coisas não andam tão bem, apesar de todos os esforços que, sobretudo, as instituições em si e, principalmente seus corpos técnicos, fazem em prol deste trabalho, deste resultado, muitas vezes conquistando ações muito meritórias a despeito das deficiências que, enfim, o trabalho em si carrega, e às vezes até a despeito de investimentos financeiros mais significativos. O ponto chave, o ponto nodal, é esta relação Estado e a atividade, o campo da preservação audiovisual, e o quanto o Estado fez relativamente muito pouco pela atividade, começando pelo reconhecimento dela.
Você mencionou, Thiago, que em 2013, pela primeira vez chegávamos a uma situação de diálogo com o poder público federal no Brasil, a uma situação que criava ali a possibilidade de você apresentar – vindo da sociedade civil, dos profissionais de preservação audiovisual, através de uma entidade, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) – um Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Abria-se um diálogo neste sentido. E, inclusive, a pessoa que encarnou esta abertura faleceu semana passada, o Leopoldo Nunes. Então, ali, na gestão que o Leopoldo teve à frente da Secretaria do Audiovisual – que é uma gestão hoje muito criticada, sobretudo, pelos reflexos em torno da Cinemateca Brasileira – foi uma gestão muito importante para esta abertura de diálogos e para pensar a necessidade, por exemplo, de um instrumento como esse que é um instrumento legislativo a rigor. Quando você de fato incorpora na legislação o reconhecimento do campo, das instituições, dos profissionais, da atividade em si, você cria condições para, no momento seguinte, gerar ações concretas advindas do governo federal, para você, por exemplo, financiar projetos, até financiar as instituições, incorporá-las ao orçamento regular da União, e aí poder dar uma sustentação mais consistente para este trabalho.
Este contato que aconteceu em 2013, no bojo, inclusive, de um momento de grandes agitações e transformações, não só da preservação, mas da própria vida brasileira, da sociedade brasileira, a partir ali das famosas Jornadas de Junho, significaram em vez da concretização das expectativas que se tinha ali, uma mudança radical no sentido exatamente oposto: a grande maioria dos trabalhos, projetos, discussões, debates, que visavam encaminhar e aprofundar uma certa ideia de sociedade brasileira, uma certa ideia de cultura de patrimônio, uma certa ideia de preservação audiovisual no Brasil, foram caindo em uma espécie de limbo, e foram sendo continuamente colocadas de lado pelos novos donos do poder. A gente sabe que a história brasileira dos últimos cinco anos é uma história marcada por um golpe, no fundo legislativo, por um impeachment da presidente da república, a Dilma Rousseff, por um afastamento radical do Estado Brasileiro do universo da cultura, não só de um reconhecimento formal desse campo, mas de manutenção de instrumentos de fomento, de uma paralisação de uma série de atividades no campo, e a área do cinema foi particularmente muito atingida por isso. E aí nesse processo todo, você pode dizer que esta área – que já tem necessidades muito específicas, que precisa de grandes recursos financeiros, que têm comprometimentos técnicos muito fortes e muito dramáticos – enfrentou um novo contexto que era de simples esvaziamento. Um esvaziamento que às vezes é quase total da relação do Estado com o campo cultural de uma maneira geral e com o campo da preservação audiovisual de uma maneira mais específica.
Acho que um exemplo maior desta crise que se instaura entre o Estado brasileiro e o campo cultural, pode ser percebido na trajetória e no atual momento da Cinemateca Brasileira. Em que sentido? Em 2013, ela teve a sua direção alterada e nos momentos seguintes teve crescentemente esvaziado as suas condições de trabalho, em especial, o seu corpo de funcionários. Uma das medidas inclusive tomadas no ano passado foi esvaziar os funcionários de carreira, os funcionários concursados da instituição, que foram reenviados para seus órgãos de origem. Então, pessoas que estavam ali há vinte, trinta anos, de uma formação técnica muito específica e de grande experiência, simplesmente foram dispensadas a rigor, de um momento pro outro, sem nenhum tipo de preparação, justificativa. E você ampliou muito fortemente esse esvaziamento, por exemplo, do corpo técnico, que já se fazia sentir desde 2013.
Para além disso, quando você começa ou a congelar o orçamento de uma instituição desta natureza, ou a diminuir este orçamento de uma forma muito drástica, até pela própria natureza do trabalho, do tamanho que a instituição alcançou, pela dificuldade crescente de ter menos pessoas para fazer certos trabalhos, você vai comprometendo, seguidamente, setores internos, ações específicas, você vai na verdade criando condições para que haja problemas, para que haja estagnação, e, eventualmente, para que haja inclusive, sinistros como o que ocorreu em 2016, quando uma das casinhas de nitrato da Cinemateca acabou pegando fogo e destruindo mil rolos, ou seja, mil títulos, mil obras que desapareceram e, deste montante, relativamente pouco havia sido duplicado ao longo do tempo. Então, é uma perda real e definitiva, principalmente de cine-jornais, pelo que foi noticiado publicamente. Então não adianta fazer mais nada, não tem mais como recuperar esse material, porque ele não se encontrava mais em lugar algum a não ser ali, e isso tem como resultado concreto um apagamento definitivo da memória brasileira, da história brasileira, da expressão cinematográfica brasileira, e deste ponto não há o que fazer mais. Citando a gíria popular, perdeu, perdeu.
Isso é um espelho de como essas relações com o Estado, se elas entram numa dimensão muito complexa, muito atritada, em uma relação, inclusive, de rejeição por parte do estado desta tarefa, que lhe cabe inclusive constitucionalmente falando, as instituições sofrem de imediato. Elas vão tendo problemas crescentes, elas vão tendo perdas, elas vão tendo uma espécie de paralisia, que pode chegar nesse momento de colocá-las em cheque, ou até mesmo de botá-las a perder em definitivo – batendo na madeira três vezes – por que isso aconteceu recentemente com o caso do Museu Nacional.
Especificamente falando do caso da Cinemateca Brasileira, esse era um quadro que já existia há alguns anos atrás, a ação do Governo em 2018 foi de propor uma solução que a maior parte das pessoas não acreditava muito que fosse de fato uma solução, mas houve um gesto concreto neste sentido de colocar a instituições sob gerência de uma organização social, uma OS, ou seja, fazer uma parceria público/privada – o estado entra com recursos e uma entidade da sociedade civil entra com a gestão propriamente dita da instituição. Na prática isso é uma passagem de um órgão público à esfera privada. O que sempre foi muito criticado por que na quase totalidade dos casos, aqui no Brasil, isso não deu certo.
Thiago: Você tá falando da ACERP.
Hernani: Isso. Associação Cultural e Educacional Roquette Pinto. A ACERP assumiu a Cinemateca Brasileira dentro de um contrato com o governo federal. Esse contrato previa ali uma série de direitos e obrigações, e previa, sobretudo, um repasse do recurso financeiro específico pra dar conta do gerenciamento concreto da instituição. Com a passagem ao novo governo, esse contrato, a rigor, chegou ao fim em dezembro de 2019. Não foi renovado. Nunca ficou muito claro pra mim o porquê não foi renovado, qual era a questão para não ser renovado. Mas o que é concreto é que ele não foi renovado. E, a partir desta não renovação, você colocou a instituição novamente, de um lado, em um limbo jurídico enorme – por que ela não voltou de imediato à esfera federal, à esfera pública – e, por outro lado, não foi feito um novo contrato com uma nova organização social. Não foi feito nada.
Isso significou, nesses primeiros meses de 2020, com uma pandemia no meio disso tudo, um crescente estrangulamento da instituição, em termos de sua capacidade de gerenciamento interno, provocado pela falta de recursos, até que isso chegou à imprensa, chegou ao grande público, sob a forma de “não tem dinheiro pra pagar a conta de luz, os salários estão atrasados, e isso pode comprometer as unidades fundamentais de conservação do acervo que estão dentro da instituição. Esse momento acabou, ao longo dessa semana que acabou ontem (30/05/20), numa reunião na sexta feira, e nessa reunião, inclusive, a primeira notícia que veio a público já falava até em fechamento da instituição, por conta desse imbróglio – jurídico, político, econômico, etc. Mais pro final da noite, se falou simplesmente que a instituição finalmente voltaria para a esfera federal, para a esfera pública, e eventualmente isso seria uma resposta para essa crise.
Pra mim, na verdade, isso não é uma resposta, no sentido mais direto e claro, não se fala exatamente em que termos vai se dar essa volta, nem sei exatamente em que termos a Cinemateca saiu da esfera pública para um contrato com uma OS, para ir para uma parceria público/privado, e esse retorno não se sabe ainda em que termos, em que condições técnico/financeiras, e sobretudo em que condições gerenciais.
O que está anunciado aí, de uma forma muito tresloucada é a ideia que, uma atriz, , mas isso inclusive, enfim, dado as alterações jurídicas que a instituição sofreu nos últimos anos, não se tem nem clareza se isso é possível, e isso talvez seja o maior indicador do quanto você desfez todo um entendimento anterior do que era uma cinemateca, do que era um arquivo audiovisual, qual seu sentido, qual era a razão de ser de passá-lo – a Cinemateca Brasileira nasceu privado – mas passá-lo à esfera pública… justamente para garantir essa sustentabilidade.
Tudo isso ficou tão confuso, se perdeu em grande medida, que hoje isso talvez seja o maior indicativo do quanto a falta de interesse geral do Estado brasileiro, e quanto a maluquice total que é esse governo atual, isso tudo atinge diretamente a instituição. Colocou ela em uma situação muito difícil, muito confusa, muito perigosa inclusive, e o quanto até o momento você não tem clareza quais são as respostas que serão dadas concretamente, diretamente, para estabilizar novamente a instituição, dar a ela condições de trabalho, viabilizar de fato o que é a sua missão, que é a preservação dessa memória audiovisual.
E isso, se você estender para o campo da cultura ou mesmo o campo da preservação audiovisual, você vai ver que tem outros casos passando pela mesma situação. Por exemplo, a Cinemateca Capitólio, lá em Porto Alegre, embora não seja de dimensão federal, mas de dimensão municipal, ou tudo que perpassou, por exemplo, a Casa Rui Barbosa, que é um órgão federal de cultura e pesquisa, que também esteve aí sob um fogo-cruzado nestes últimos meses, na medida em que várias dessas instituições de cultura estão recebendo novos gestores que não tem a menor relação com o campo, a menor relação com este tipo de trabalho, e a partir de um entendimento que me parece muito equivocado. Que é aquilo que se concretizou também nas últimas semanas: a passagem deste universo todo que a gente chama de cultura para debaixo do guarda-chuva de um ministério que cuida de turismo[3].
Ou seja, que cuida na verdade, da aproximação de um tipo de cidadão, de um tipo de pessoa, no mais das vezes o seu momento de férias, dos aparelhos culturais, dos aparelhos de lazer, dos sítios naturais, né, para que ele possa ali ter momentos de lazer, de felicidade, disso e daquilo. E que nada tem a ver com instituições de conservação, de pesquisa, de memória, que podem ter uma interface, que podem ter um diálogo com o universo turístico, mas que não é a sua finalidade primeira. O turismo é quase que uma consequência e não uma premissa. Essas passagens de todo esse universo para dentro do Ministério do Turismo pode gerar uma incompreensão muito grande da natureza e da função destas instituições, como que levando o grande público, a sociedade, a crer, que tudo está ali já pronto, tudo está ali já bem conservado, tudo está ali já à disposição, é só chegar lá, pegar e usar. Um pouco um pensamento que o universo da internet, em geral, também tem. Que é só pegar as coisas aí e usar.
As pessoas não tem ideia que para usar tem todo um trabalho anterior e um trabalho que precisa ser qualificado em grande medida porque tem questões, às vezes, muito complexas dentro desse trabalho e, para além do uso imediato, o objeto precisa sobreviver, pra década e pro século seguinte. Então vira quase uma piada, né? Que tipo de turismo você vai fazer com uma biblioteca como a biblioteca nacional? Que tem essa função de ser uma biblioteca e preservação, que faz depósito legal, etc. Ou que tipo de turismo você vai fazer na Cinemateca, quando, por exemplo, ela não tem uma sala de exibição e basicamente faz conservação física dos filmes? Você não pode ali abrir a reserva técnica, para as pessoas entrarem dentro e verem como é que é. Isso não existe. É tecnicamente incorreto.
Então, há uma série de erros, há uma série de equívocos, e há algo mais profundo, que é a falta de admissão pela sociedade, pelo Estado brasileiro, da necessidade fundamental, a esta altura de você investir na conservação de acervos audiovisuais, de você chegar de fato a constituir uma memória que a sociedade vai poder, e deve, poder usar mais pra frente.
Fabian: Os gestos são simbólicos, e a implosão de um Ministério da Cultura – o governo dizer “acaba com isso”- isso já demonstrava uma leitura. E o que parecia, com o [Roberto] Alvim, o antigo secretário de cultura, é que existia uma clara veia de guerra cultural, onde eles estavam assumindo ali um lado. Inclusive, e isso saiu na imprensa, que existiam pessoas militares na cúpula da Cinemateca Brasileira, com uma mostra de Cinema Militar que eles pretendiam exibir. O que exemplifica este ataque – que vem de Olavo de Carvalho, vem do Orvil[4] – da teoria de uma esquerdização das instituições culturais e educativas do país. Agora, uma das encenações mais estapafúrdias recentes foi a de umas semanas atrás, aquele vídeo da Regina Duarte com o Bolsonaro, ela falando “não estou sendo fritada, estou indo para perto de minha família em São Paulo”. E que parece fazer uma coisa que eles sempre negaram, que é o fisiologismo. Que é pegar a pessoa e jogar lá na Cinemateca, tampar um buraco. Parece um pouco que não se importam. Se de um lado, eles estão cagando – então, pode queimar a porra toda – por outro, já demonstraram que a instituição pode se revelar um instrumento para eles. Como você enxerga isso?
Hernani: É difícil de enxergar de pronto, de imediato, em uma dimensão mais ampla. Porque quase sempre tudo que a gente fica sabendo vem via imprensa, mídia…
Fabian: Até por que o processo é meio esquizofrênico.
Hernani: Sim, cada hora é uma coisa, uma fala, uma desmentida. A própria situação de sexta-feira (29/05/20) da Cinemateca Brasileira foi louca, porque sai na imprensa que a opção é fechar. Aí, quatro, cinco horas depois sai uma outra indicação de que, não, ela vai voltar pro Estado. É uma esquizofrenia completa e absoluta. Mas olha, de um lado, em princípio, sobretudo esse governo que está aí, ele veio com essa ideologia de combate ao chamado “marxismo cultural”, “comunistas”, ou coisa que o valha. E elegeu o campo cultural para o espaço privilegiado para essa guerra. Quando há uma manifestação concreta, você fica meio em dúvida de qual é exatamente a natureza dessa guerra, quais são os referenciais que estão sendo postos à mesa, apresentados, etc., porque você vai lembrar no ano passado, do presidente falando mal de Bruna Surfistinha, como um exemplo nefasto do que se faz com dinheiro público no Brasil, e o quanto essas instituições que estariam aparelhadas pela esquerda ou coisa que o valha. Desconhecendo, inclusive, que a maior parte destes órgãos, destas agências, tinham renovado suas gestões aí durante o período do Temer, então, já não tinham nenhuma relação à rigor em termos de gestão com os governos de esquerda do PT. Então, por aí já tem um problema.
Segundo problema é: Bruna Surfistinha é um filme de esquerda? É um manifesto ideológico do marxismo cultural ou coisa que o valha? E, num terceiro momento, para além de um combate ao aparelhamento da estrutura do Estado no campo cultural, ele era muito dúbio ou muito pouco claro, na medida em que – sobretudo para as instituições de preservação, as instituições de memória – você não tinha um grande interesse de fato por um passado remoto, ou um imediato, porque esse governo trabalha sobretudo no campo digital, no campo das redes sociais, no campo de um presente imediato.
Ele tem um discurso em relação ao passado. Que é um discurso de resgate de valores ou coisa que o valha. Um discurso que mistura tudo, né? Do positivismo mais arraigado ao marxismo mais tresloucado. Então, é muito pouco clara essa dimensão estritamente ideológica neste novo governo. E não é clara não só no governo, mas em suas matrizes mais imediatas, você pensar no Olavo de Carvalho, e no quanto o pensamento dele é um pensamento estritamente católico. Não é nem cristão no sentido mais amplo, mas católico. E o governo Bolsonaro tem grande apoio no universo evangélico. Então, é um saco de gatos monumental. É difícil tentar entender isso, porque não parece ter muita lógica e a primeira impressão é que realmente são só malucos, esquizofrênicos.
Então, houve o discurso sim de combater o aparelhamento ideológico dentro das instituições de uma maneira geral. E você viu gestos mais lógicos neste sentido quando se trocou a direção da Casa Rui Barbosa. Mas por outro lado, o que me parece estar no horizonte real deste governo, é muito mais do que um combate ao aparelhamento, é um desprezo. No fundo, eles não sabem para que isso serve, não tem grande interesse em utilizar isso e, se num primeiro momento, ao chegar ao poder, eles distribuíram uma série de pessoas ligadas ao governo dentro dessas instituições, como foi o caso do militar que foi trabalhar na Cinemateca Brasileira, que chegou publicamente propor uma mostra de filmes militares como um símbolo dos novos tempos, da nova orientação, de uma agenda que seria uma agenda de fortalecimento ideológico.
Fabian: que não vingou, né…
Hernani: Não, não aconteceu. Por isso que, em parte, eu estou dizendo que se era uma agenda de combate, uma agenda de reaparelhamento, do Estado e de suas instituições, seus órgãos, a certa altura, foram percebendo que não só eles não tinham um projeto real que envolvesse o passado, como não tinham um interesse concreto por ele – já que o desprezo pelo campo cultural era amplo, geral e irrestrito. Era muito mais fácil encerrar certas coisas, suspender a Lei Rouanet, paralisar o Fundo Setorial, sugerir o fechamento desse ou daquele órgão, do que estabelecer uma agenda de trabalho no campo cultural. Essa agenda de trabalho no campo cultural, por mais ideologicamente perversa que ela pudesse ser, no meu olhar ela não existiu, ela não foi construída.
Fabian: Dá trabalho, né? Construir essa história paralela.
Thiago: E a maneira como você fala, Hernani, nos indica que há um corte. Especialmente quando se pensa essa relação entre memória, ou cultura, e turismo. Então, me parece que o caminho que está se dando é um caminho de amnésia. Talvez relativamente suicidário, para usar um termo que tomou fôlego nos últimos meses, um caminho de destruição e isto não me parece que é sem querer.
Hernani: Olha, eu acho que – e isso é uma impressão, falta tempo, falta distanciamento, falta base para uma reflexão maior – mas que esse corte, essa ruptura entre cultura e turismo, entre uma dimensão de formação e uma dimensão de mero uso, sobretudo, digamos assim, financeiro. O turismo é uma grande indústria econômica, mas ele não tem, a não ser de uma maneira muito acessória, um foco maior na formação do cidadão ou coisa que o valha. Então, eu acho que o que se percebe é que a antiga guerra ideológica, ela passava muito por uma instância, por um espaço, por uma instituição, que era a escola. Você tinha sempre muita discussão em torno do que você vai deixar a criança ler, o jovem ler, o universitário ler ou não. E você vai ter exemplo pontuais aí dessa guerra cultural passando por esse espaço. Por exemplo, a coisa do chamado “kit gay”, que seria distribuído pelas escolas, invencionice ali dos setores mais conservadores – você está dentro de uma dimensão clássica de discussão política-ideológica.
Mas com o tempo, e sobretudo a partir da eleição de 2018, onde a coisa das redes sociais e das fake news funcionaram, elegeram essa galera, eu acho que houve uma percepção que o canal de comunicação não passa mais por uma estrutura formal, por uma estrutura longa, como por exemplo, o trajeto escolar. Se passa agora por uma comunicação imediata.
Nesse sentido, porque você vai manter estruturas que serviam à escola? Manter documentos que tem que ser pesquisados, pensados e trabalhados num certo discurso publicados em livro e depois oferecer isso a professores e alunos como uma base pra reflexão e formação? Acho que a ruptura é muito mais ampla do que a gente imagina porque a própria ideia de memória no meio disso tudo talvez comece a ser percebida como dispensável por esses grupos, por esse universo conservador.
E você veja, o pouco empenho em tentar reconstituir alguma coisa que funcionasse de forma semelhante ao Museu Nacional, dispensar alguma preocupação com a perda histórica que ocorreu ali, que pode ter sido uma perda de objetos, mas não exatamente uma perda de informação porque parte da informação que estava lá já havia sido trabalhada, de alguma maneira colocada em outros suportes e lugares, mas a instituição funcionava como um símbolo dessa dimensão histórica brasileira que vinha lá do período colonial, atravessava o período imperial e chegava aqui no presente.
Tinha uma dimensão que voltava lá para o passado remoto do continente americano, das nações indígenas, com os animais, com todo o trabalho arqueológico que o Museu Nacional desenvolvia… houve algum esforço de você recolocar isso numa dimensão simbólica que mantenha a ideia da história, do passado, da memória pra população em geral? Não. Eu não vi nenhum esforço nesse sentido e quando surgem proposições como essas “não vamos mais fazer cinema no Brasil, pra que? Melhor fechar a Ancine” ou “não, não vamos mais levar uma instituição como a Cinemateca Brasileira adiante, talvez seja melhor fechar”, o simples fato que alguém pensou isso, que colocou isso numa reunião pra mim é indicativo do quanto isto está no horizonte dessa galera, o quanto eles tenham começado a perceber que “não precisa mais reunir o passado e dar uma releitura própria, mesmo que seja uma leitura muito enviesada e equivocada” para eventualmente ter aí um processo de construção de uma identidade nacional mais conservadora, o quanto essa guerra cultural que eles indicaram existir e resolveram fazer há alguns anos, não vem só da eleição pra cá, indica uma necessidade pouco clara de manter essas bases antigas.
Então se você não precisa das instituições de cultura, se elas são um estorvo, se elas são um antro de comunistas, são sorvedoras de dinheiro, se elas não tem sentido, bom é mais fácil acabar com elas ou o que é menos comprometedor do ponto de vista político, simplesmente deixá-las à própria sorte. Você não fecha a porta oficialmente mas você também não cuida mais dela, não manda os recursos necessários, empurra com a barriga e óbvio que aquilo vai morrendo por inanição ou por falta de ação. O risco que se corre no Brasil atual, não só em relação ao cinema, mas de forma geral é esse: desprezar o valor da cultura, da memória, ter uma política pública que é uma não-política, ou seja, “não vamos fazer nada” e aproveitar isso de uma forma anódina.
Aquele vídeo da Regina Duarte com o Bolsonaro tem algumas características que revelam aí essa falta de compromisso: primeiro que ele não é uma fala formal num espaço formal – não é dentro do Palácio da Alvorada, é ali na rua, na esquina, como se fosse uma conversa informal… quer dizer, você não está entronizado seu cargo na sua responsabilidade, você tá falando como um amigo, como um conhecido então a atriz pode perguntar: “você tá me fritando ou não?” e ele responder “claro que não, ainda vou te dar um presente – do lado do seu apartamento você vê a Cinemateca Brasileira então ó, é o órgão perfeito pra você ficar ali em São Paulo, na sua casa e não ter muito trabalho e tá tudo bem”. [5]
Em nenhum momento, se discute o que é cinemateca brasileira, o que implica esse trabalho, qual a responsabilidade envolvida e não se dá a dimensão de seriedade pública que é fazer isso dentro dos rituais e espaços tradicionais, dentro da compreensão de que aquilo ali é uma coisa pública, uma responsabilidade do funcionário público, o presidente e a secretária de cultura são funcionários públicos e, portanto, devem satisfações a sociedade brasileira, eles não podem fazer o que quiserem tirando da cachola se vão ou não cuidar.
Então o vídeo já é revelador da falta de compromisso. Não há compromisso ali com nada, nem com o país, nem com a memória do país, nem com o trabalho em si. O que rola é algo constrangedor, de alguém que quer desfazer uma imagem pública extremamente negativa mas é evidente que ela não só foi “fritada” como cuspida fora do governo e a partir desse episódio você tem uma apreensão do destino da cinemateca brasileira: se a tentativa de resolução começa dessa maneira, talvez a tentativa seja não resolver. E uma semana depois você chegar nesse comentário de “então fecha” parece o desfecho natural dessa falta de compromisso e do descalabro público que o país vem vivendo.
[1] Fabian Cantieri é crítico, diretor, roteirista, fotógrafo e curador de cinema.
[2] Thiago Brito é roteirista e diretor audiovisual.
[3] Na última sexta-feira (19 de junho de 2020), o ator Mário Frias foi nomeado para o cargo de Secretário Especial da Cultura, em substituição à atriz Regina Duarte que deixou o cargo há um mês. Com a extinção do Ministério da Cultura, a Secretaria Especial da Cultura atualmente encontra-se incluída dentro da pasta do Ministério do Turismo.
[4] O livro secreto do Exército é uma Doutrina de Segurança Nacional que conta o que seria “a verdade” sobre a luta armada promovida por organizações de esquerda, entre 1967 e 1974 e que traz a ideia interna de que o inimigo deve ser eliminado.
[5] Na saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação no dia 18/06/20, a encenação já pareceu mais protocolar, filmada dentro do Palácio da Alvorada, com um presidente aéreo provavelmente por conta da outra grande notícia do dia – a prisão de Fabrício Queiróz – e um outro cargo oferecido “de presente: depois da cinemateca, agora o Banco Mundial.



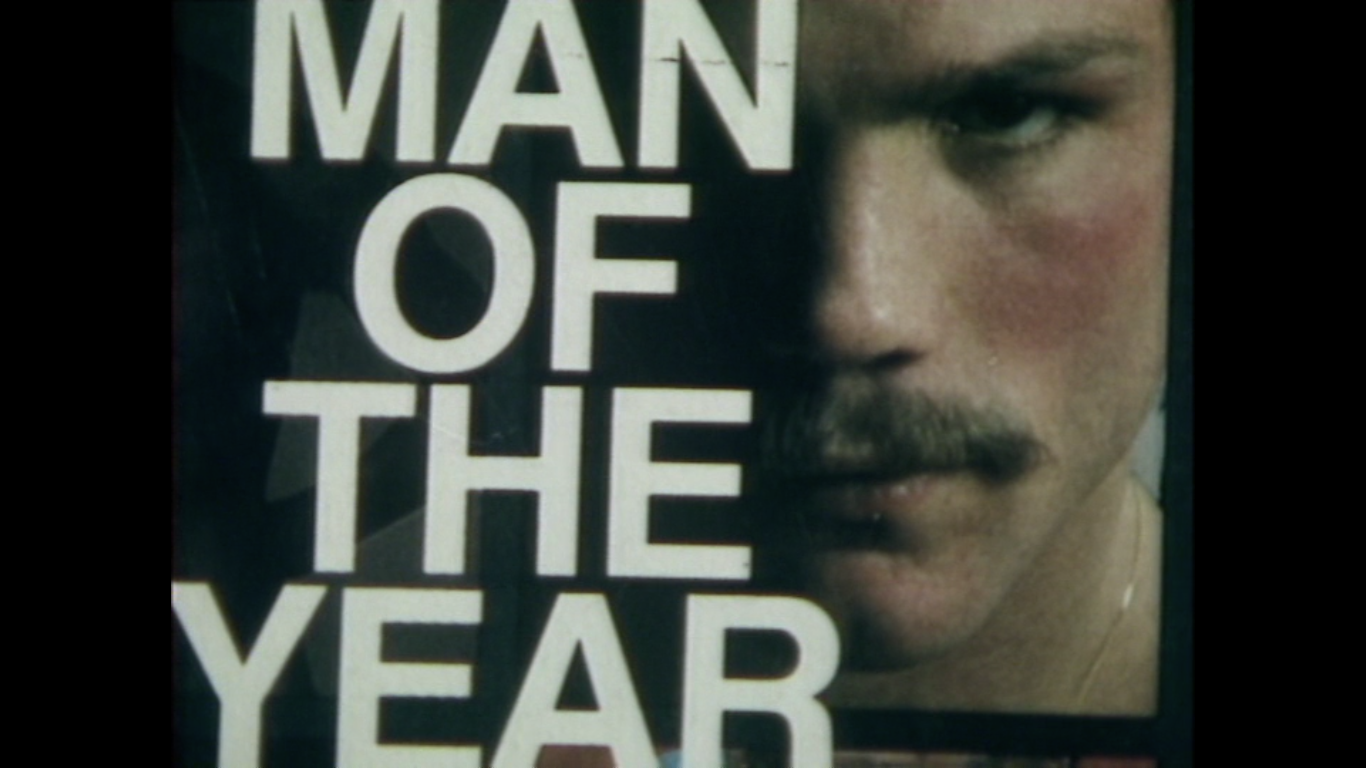









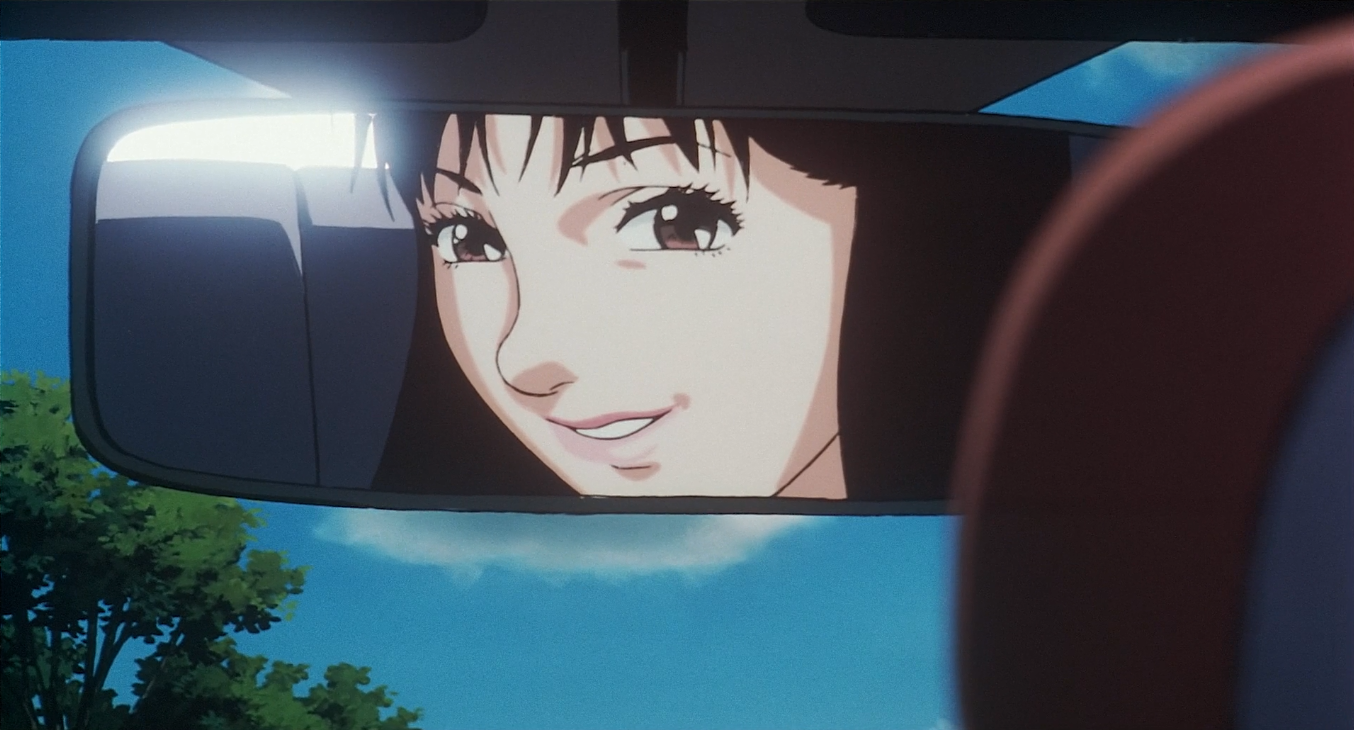












![Title: KHANE-YE DOUST KODJAST? / WHERE IS THE FRIEND'S HOME ¥ Pers: POOR, BABEK AHMED ¥ Year: 1987 ¥ Dir: KIAROSTAMI, ABBAS ¥ Ref: KHA004AB ¥ Credit: [ INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS / THE KOBAL COLLECTION ]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Onde-fica-a-casa-do-meu-amigo.jpg)











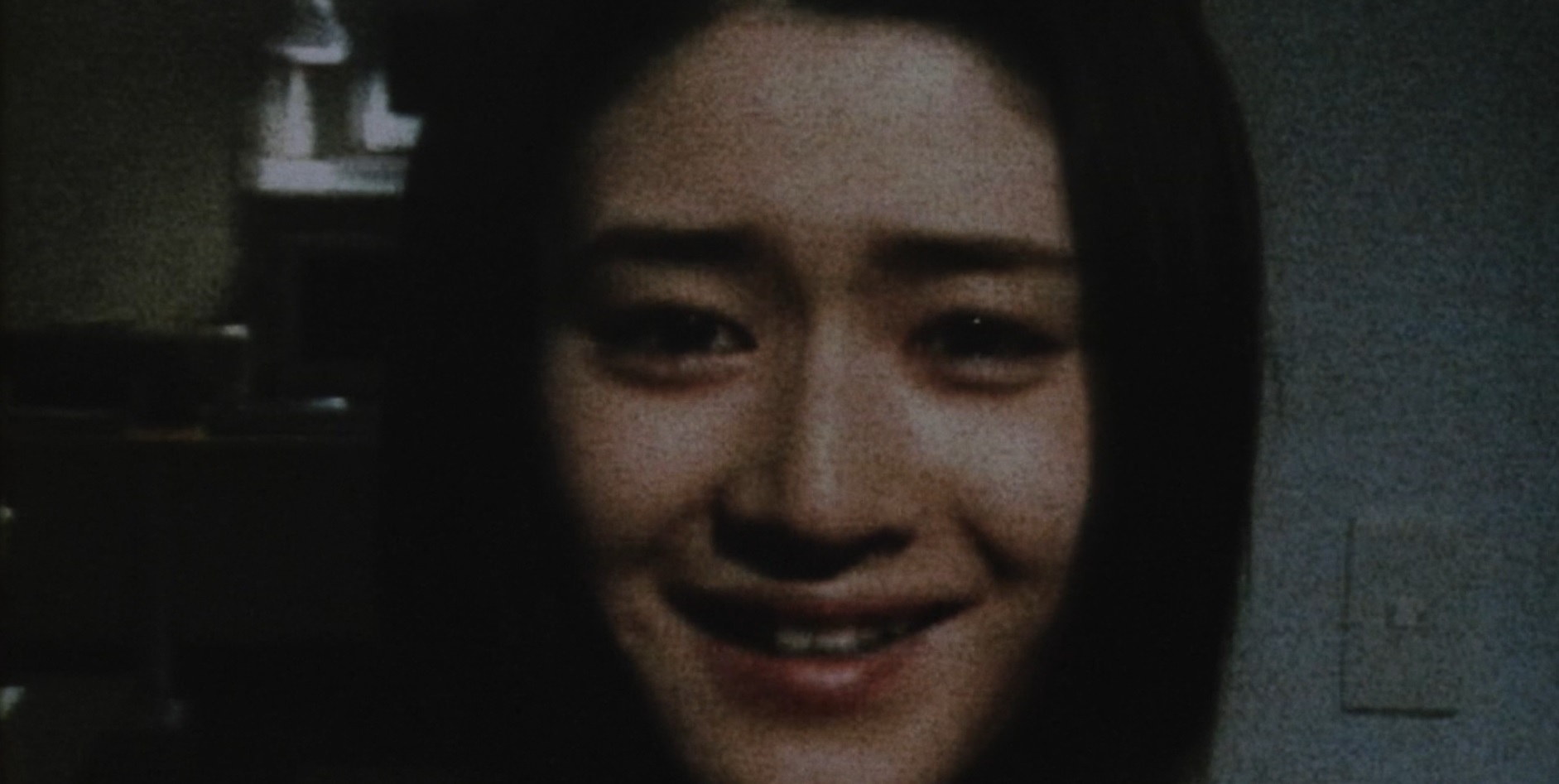









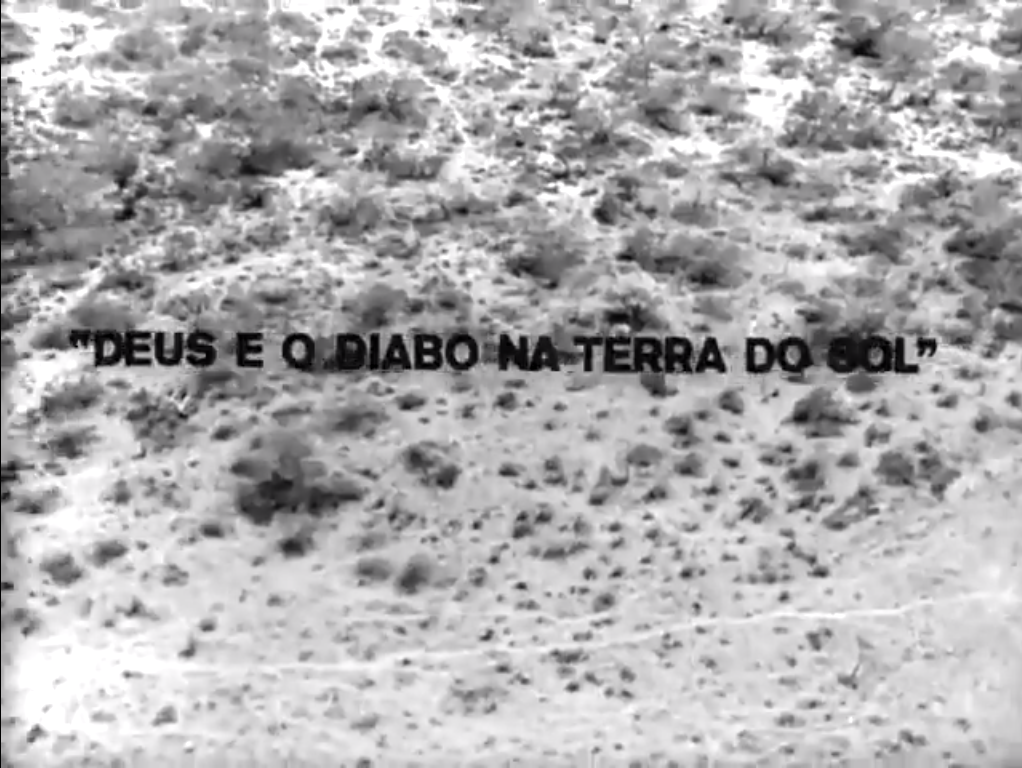











![Strange Days 1995.mkv_snapshot_02.16.05_[2020.04.14_18.39.47]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_02.16.05_2020.04.14_18.39.47.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.13.40_[2020.04.14_18.35.46]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.13.40_2020.04.14_18.35.46.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.52_[2020.04.14_18.38.50]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.52_2020.04.14_18.38.50.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.11_[2020.04.14_18.36.51]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.11_2020.04.14_18.36.51.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_00.45.31_[2020.04.14_18.36.39]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_00.45.31_2020.04.14_18.36.39.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.28.51_[2020.04.14_18.37.34]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.28.51_2020.04.14_18.37.34.jpg)
![Strange Days 1995.mkv_snapshot_01.25.56_[2020.04.14_18.38.55]](http://multiplotcinema.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Strange-Days-1995.mkv_snapshot_01.25.56_2020.04.14_18.38.55.jpg)