
“Gostaria de não amá-lo ou amá-lo muito mais”, afirma a personagem de Mônica Vitti desta emblemática apoteose de sensações catalisada por Michelangelo Antonioni, um dos maiores mestres do cinema. A sentença, proferida em um dos momentos-chave desta singular obra-prima que encerra a Trilogia da Incomunicabilidade, resume em prática todo o espírito e a estrutura da jornada espiritualmente opaca de dois personagens típicos de Antonioni, que repetem, desta vez juntos, mais uma versão desconcertante do habitual sacrifício sintomático do âmbito das relações humanas.
Em O Eclipse, Antonioni novamente interrelaciona os principais elementos básicos do cinema, a temática e a decupagem, para dar continuidade ao seu infinito discurso sobre o tédio do homem contemporâneo, sufocado pela rotina e pelas enormes construções de concreto, que canalizam seus espaços de fuga para o próprio interior – desta feita, um pedaço morto de poesia que não mais encontra maneiras de sobreviver. A visão, agora, é atirada sobre o amor, ou melhor, os relacionamentos amorosos, nada além de um processo de repetição contínua e irredutível, diante da interferência direta do mundo modernizado.
Um amor exausto, irrenovável, que não permite espaço ao que ainda não fora contagiado pela mesmice e pela imensurável distância de espírito entre o homem e o mundo – ou quem o habita. Pois o filme, que começa com o afastamento pleno (mesmo que a plenitude não seja física, palpável) entre ambas as partes de um casal, permitindo a certeza de que jamais fornecerá o reencontro, conclui-se da mesma forma, ainda que sem brigas ou nem mesmo crises, deixando no ar um tom de despedida indesejada que transpira por cada frame, cada enquadramento.
Todo o tédio, a longa espera por algo que parece jamais chegar, é transposto para a estrutura narrativa, prolongando a cada momento a sensação de que a obra terá um fim. Porque o fim, na realidade, não deixa de ser o próprio começo. O mundo já está morto. Os meios não mais justificam nada. O desconforto encobre tudo. Amor. Desejo. Felicidade. Os sentimentos foram enterrados. A vida avança, se renova, mas permanece a mesma. A sensação de cansaço parece não sumir jamais. E nada mais coerente do que concluir o inconclusível com o silêncio; o vazio ;o desconforto; a incerteza; o desolamento; a frieza. Ou, quem sabe, simplesmente, a inconclusão.
Porque não seria exagero algum afirmar que o final de O Eclipse, no qual Antonioni elimina os personagens de cena para fotografar pequenos cantos vazios da cidade, vagando sem rumo com sua câmera densa, inquieta, através de esgotos, sarjetas e construções incompletas, e terminando o desfecho com a imagem do sol se apagando para dar espaço às luzes da cidade, é o melhor, mais simbólico, representativo e impressionante de todo o cinema. Porque o eclipse, período durante o qual o mundo pára, estagna, foi transportado da natureza para a sociedade contemporânea, através da automatização das relações humanas. E o alvo do encobrimento, desta forma, são os próprios sentimentos.
4/4
Daniel Dalpizzolo
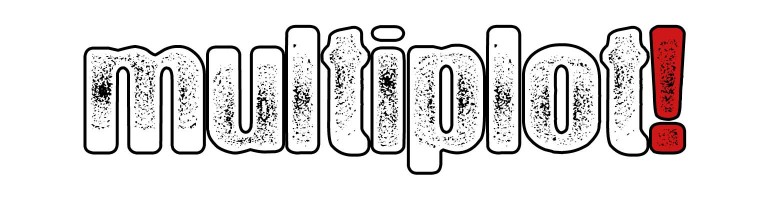
6 Responses to O Eclipse (Michelangelo Antonioni, 1962)