Por Gabriel Papaléo
É um trem, ou um metrô, que nos traz à cidade. E quando chegarmos é possível sentir no ar o ponto de convergência entre a paranoia política e o niilismo que paira por Paris sob os signos dos intelectuais. Dali em diante, testemunharemos encontros de almas à procura de sentido, a experiência de dobrar um texto às suas vontades (e também limitações), as disparidades culturais na forma de expressar suas dialéticas, e as intrigas e amarguras passadas que vem com a necessidade de conviver num círculo social no qual os rostos, e sobretudo os desejos, se repetem insistentemente.
Jacques Rivette, interessado nos jogos místicos, na performance humana diante dos astros, na fronteira do ludismo mágico e sombrio cujos canais habitantes do realismo se tornam metafísicos, começa seu primeiro longa com personagens espalhados pela dramaturgia, sem curso específico, focado totalmente em comportamento. É a partir das discussões sobre o suicídio de Juan, um elo misterioso entre os tipos que conhecemos, que começa a investigação dessa deturpada sensação de desarranjo que podemos chamar de transição dos tempos. A encenação então coloca Anne pra procurar pelo fantasma de Juan em busca de respostas emocionais para sua desaparição, indo de pessoa a pessoa ouvir seus relatos e impressões, porque à margem de respostas há de se entender esse estranho sabor do suicídio entre os artistas ao seu redor. A investigação pela melodia de Juan se torna uma dialética travada, quase um mapa de influências que o personagem exercia, para descobrir – ou intuir, já que não há respostas unas – onde reside o segredo da alma de quem foi interpretado pelos outros de formas tão distintas. Existe um fantasma à solta, e não sabemos se é o espírito de Juan, ou uma conspiração muito maior. A carpintaria dramatúrgica de Rivette é interessada nos labirintos e nas teorias ocultas, e na forma de dar corpo a essas abstrações é que encontra novas formas de fantasmagoria. Que essa arquitetura se traduza em imagens desconfiadas é uma característica fundamental para que os votos místicos do diretor criem vida.
Ao investigar a morte de Juan, Anne conhece a consciência incomunicável da cidade, e a rigorosa encenação de Rivette parte de interações cotidianas, da declamação da peça encenada por Gerard às confissões ao pé de ouvido nos apartamentos dos personagens, para se concretizar num oblíquo jogo de sedução com o não-dito. A cidade é um coral misterioso, e ocasionalmente interessa ao diretor que acessemos, sempre que breve, esse estado flutuante dos habitantes que desconhecemos – como na sequência em que Phillip narra o nome, idade e ocupação dos seus vizinhos, até Anne o interromper quando reconhece uma das vizinhas.
Essa escolha de retrato fugidio da cidade não vem sem percalços, e se reflete diretamente na arriscada identificação de Rivette com Gerard, o diretor teatral. A forma que o cineasta compra as palavras do diretor, em especial na cena da conversa com Anne na ponte, sublinha muito do sentido do filme sem que haja nessa opção uma fricção narrativa entre os personagens que a justifique. Em imagens e sons percebemos o fio narrativo entrelaçado pela música destoante, pela estrutura dos encontros, a sensação palpável do desarranjo da vida refletido na cidade. É um personagem complexo porque é o único que parece progredir no filme, no processo abrasivo de sua adaptação de Péricles de Shakespeare diante da investigação convoluta de Anne, presa na teia de contradições e paranoias de seus encontros. Quando Rivette compra sua visão de mundo, a do artista em busca de autonomia, não é sob as lacunas fantásticas de alguma obra posterior como Duelle; parece a vontade de tornar discurso falado o que a dramaturgia já dá conta. Paris nos Pertence exala a ansiedade jovem, a pulsão de organizar ideias estimulantes e as deixar acumular sem necessariamente ter precisão, verborrágico e disposto a buscar perguntas além do bom senso; dentro de suas aspirações, um filme jovem, enfim.
Por acaso, ou por tremenda boa vontade do cineasta em se manter aberto ao acúmulo romanesco de comportamentos dos sujeitos que filma, a estrutura dramatúrgica de falência do personagem acompanha diretamente o movimento de desaparições com a cidade. A amargura toma conta do encantamento, contaminada pelo dinheiro, pela influência, pelo exercício do poder até mesmo no mais modesto proscênio; o niilismo se infiltra no místico.
O que é niilismo na França pré-1968 – e vale lembrar como o filme sintoniza movimentos políticos posteriores – também é paranoia diante da necessidade de fuga dos perseguidos políticos; a figura de Phillip Kaufman, escritor aclamado e exilado político, habita Paris como fugitivo da América sem trocar o modus operandi do acossado. Sua relação com Terry, sua ex que também é a viúva de Juan, é marcada pela desconfiança e pela amarga herança do relacionamento. Seu comportamento aos poucos o obriga a se isolar, a duvidar das amizades dali, da hospitalidade antes insuspeita do país que o acolheu. O isolamento e a paranoia andam juntos, mas é na criatividade e na imaginação onde reside a verossimilhança da intriga que alguém propõe para convencer ao mundo da soberania desse comportamento; alguém definido como “brilhante escritor, ganhador do Pulitzer” pelo círculo intelectual que o abriga pode ter em mãos a influência dos deuses.
E o que Rivette imagina é uma profunda e detalhada descrição do fim do mundo, que apaga as luzes dos cômodos confortáveis, que reduz subitamente a importância dos conflitos internos, que traz a urgência da destruição. Terry profetiza nos seus graves monólogos, Phillip destila sua paranóia, e em algum momento a imagem – e irrevogavelmente nós espectadores – passa(m) a acreditar nisso; através da palavra organizações secretas operam nas sombras com suas ferramentas e meandros desconhecidos.
Como se imagina a presença da cidade-título diante da constante sensação de perigo à espreita, refém de forças ocultas, quando a cidade parece exigir ser evitada? Pensemos em Godard em Acossado e Truffaut em Os Incompreendidos, para ficarmos nos exemplos próximos em época, contexto, e de base teórica similar ao cineasta. O esforço de filmar na rua, os personagens transitando por Paris, a esmo ou com objetivos fixos, parte do encanto com as possibilidades da locação, do que o movimento das ruas tem a oferecer para essas novas abordagens estéticas que se ensaiam: em Godard, uma Paris do embate entre o charme do criminoso que pensa a dominar com a turista à procura das aventuras que uma visão distanciada de cidade tem a oferecer; em Truffaut, uma Paris de juventude, de pequenas descobertas, de lugares a frequentar, hábitos a construir, rituais a sedimentar. O que une os dois, a disposição benjaminiana de andar pelos corredores claros e escuros da capital europeia planejada à exaustão.
No entanto, flanar não é uma opção tão viável para Rivette da forma que era para seus companheiros de Cahiers du Cinema. Seus personagens começam ocupando Paris com sua juventude, andando pelas pontes, sentando-se em seus bancos, ensaiando peças ao ar livre. Mas aos poucos, Paris se torna ameaça, e todos os acossados se tornam paranóicos, seja essa paranoia herdada do outro lado do Atlântico Norte ou pela própria articulação pessimista de pensamento doméstica; o filme começa a se tornar um jogo de internas, de conversas em apartamentos, e todo o emocional investido por essas relações veste uma desvelada clausura. A reiteração do estado de paranoia toma conta do filme, na cidade que aos poucos vai sumindo, as internas que se espalham, o mundo dos soberbos consumado até o sufocamento.
A necessidade de se sentir perseguido gerando a tensão do fim do mundo, principalmente na boca de Terry, retorce o místico sob a encenação do cotidiana caro ao diretor. Não são poucas as vezes que se sente que algo está observando a todos, e nisso Paris nos Pertence parece mais uma adaptação mais sisuda, fantasmagórica e realista de Phillip K. Dick que filmes que referenciam o autor diretamente – como Southland Tales, por exemplo. Na magistral ficção-científica de Richard Kelly, aliás, a conspiração política também abraça a farsa e as profecias, sempre buscando na crença no místico e no mágico um lastro para as paranoias de seus personagens – mesmo que o diálogo de Kelly seja com o tresloucado humor satírico e as viagens interdimensionais de Alan Moore e Grant Morrison (como lembrado por Filipe Furtado em seu texto [1] sobre o filme). Kelly retrata estrelas de cinema, policiais e atrizes pornô, com a vulgaridade que se espera de Los Angeles, enquanto Rivette filma Paris com a solenidade na qual os intelectuais que a habitam encaram a cidade.
Diferente de Southland Tales, no final de Paris nos Pertence não há conspiração alguma; é consequência direta de que, para os eleitos gênios da arte filmados por Rivette, como um personagem certa hora classifica, é sem dúvidas mais trivial colocar a causa de suas desventuras no mundo e nas organizações que controlam secretamente as vontades e cursos do planeta que assumir o impacto pelas formas que afetou os que estão ao seu redor.
Que existam tais pessoas, as quais foi concedido o imenso poder da influência cultural e de serem representantes quase oficiais da articulação sociopolítica burguesa, é menos o problema para Rivette que o fato de que é preciso responsabilidade na hora de atrair pessoas para seu círculo, para sua gravidade, o cuidado exigido quando for cuspir profecias por aí. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo, e a Paris de 1961 e o Rio de Janeiro de 2021 não tem cenas artísticas tão discrepantes quanto eu gostaria. Não que isso importe; como Peguy diz ao abrir o filme, essas cidades não pertencem a ninguém. É importante lutar por elas.
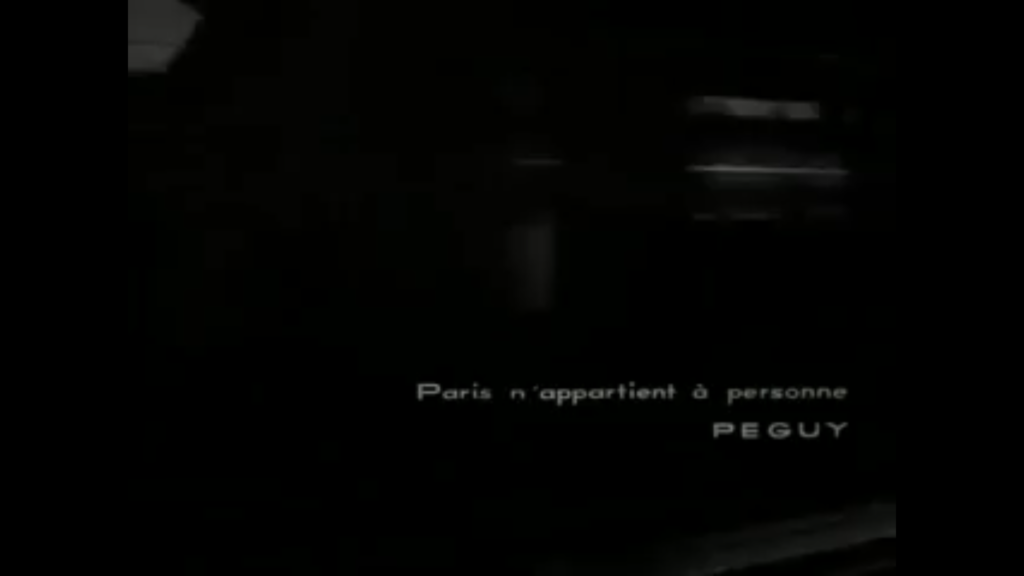
[1] – https://boxd.it/1ex4gn





