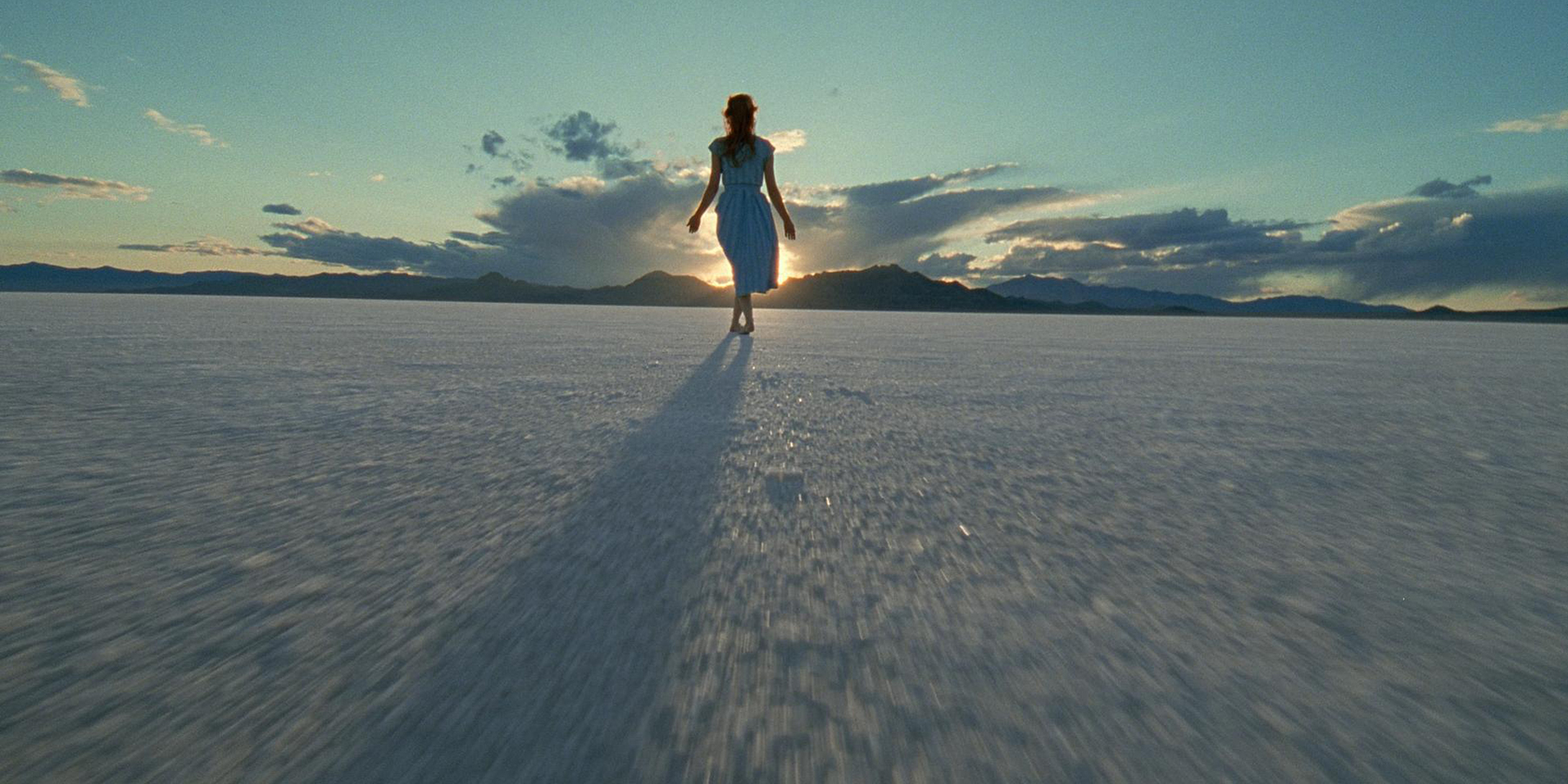Por Robson Galluci
Logo de início, De Mayerling a Sarajevo, filme que encerra a primeira fase europeia da carreira de Max Ophüls, explica num texto que não tem a intenção de ser uma mera reconstrução histórica, embora não se furte a, no mesmo texto, estabelecer que os fatos que se propõe a representar (e ficcionalizar à sua maneira) sirvam para demonstrar e esclarecer certos “problemas espirituais e políticos” da Europa, tanto do período retratado (primeiros anos do século XX) quanto da época da produção (início da Segunda Guerra Mundial). Trata-se, portanto, de um filme declaradamente político, talvez o mais político do diretor. E provocativo, como demonstra a primeira cena, em que os preparativos para uma festa da realeza são ridicularizados, mostrados de forma farsesca e zombeteira.
O material do filme são os últimos anos de vida do arquiduque Francisco Ferdinando, sobretudo seu casamento com a condessa Sofia Chotek e o subsequente assassinato do casal em Saravejo, em 1914, um dos acontecimentos que precipitaram o início da Primeira Guerra Mundial. E, por mais que tenha intenções políticas muito claras — talvez até mesmo panfletárias, mas o filme é mais sofisticado que o panfleto cinematográfico típico —, Ophüls coloca o romance dos dois no centro de De Mayerling a Sarajevo. Ambos são idealizados, assim como a própria história do casal. É o velho tema do amor impossível, que vai contra convenções sociais — o relacionamento de Francisco com Sofia é desaprovado pelos Habsburgos por ela não pertencer a nenhuma família reinante na Europa da época —, mas o que há de subversivo no filme começa por aqui: o tema não é, como de hábito, concretizado na forma de um príncipe que se apaixona pela moça pobre ou vice-versa, com o casal vencendo as convenções que, no entanto, voltam a operar no instante seguinte, após a moça tornar-se princesa, transformando tudo mais num mito de ascensão social do que qualquer outra coisa. Pelo contrário: para começar, Sofia precisa, de certa forma, se rebaixar de sua posição, pois afinal ela faz parte da nobreza de um dos reinos submetidos ao império austro-húngaro; além disso, ela mostra um saudável desrespeito por qualquer tipo de protocolo ou ritual caro à realeza — e é essa característica que atrai Francisco pela primeira vez.
Mas o casal está também à mercê dos acontecimentos e da marcha histórica, e é aí que Ophüls tem seus maiores acertos. De Mayerling a Sarajevo trabalha constantemente em duas frentes sem perder a mão em nenhuma, sempre cercando a história dos dois e seus conflitos com os Habsburgos — Sofia pelos motivos já citados, Francisco por conta de suas ideias políticas liberais — com as agitações que tomam conta do império. Assim, o estúpido apego ao protocolo por parte da família real — visto por Ophüls como nem um pouco diferente do sonho de organização total do pensamento fascista (e nem precisaria da referência explícita ao nazismo na montagem final) — e sua cegueira política vão criando aos poucos as condições favoráveis ao assassinato que ocorrerá. É claro que não é tudo tão simples: embora os Habsburgos sejam quem mais apanhe no filme — fazendo inclusive mais de uma tentativa de convencer Sofia a aceitar o papel de amante e se tornar virtualmente invisível para o público —, também o casal é parcialmente culpado pelo que ocorre, ainda que essa culpa seja bastante relativizada (há a recusa de Francisco de abandonar o povo à tirania do tio etc.). Afinal, ambos fazem várias concessões ao longo da narrativa, sendo que a aceitação do casamento morganático — em que Francisco abdica, em nome de Sofia e dos filhos que venham a ter, de qualquer direito ao trono ou privilégios exclusivos da família real — é a que mais traz consequências, sendo diretamente responsável pela ausência da proteção militar em Sarajevo.
O diretor se aproveita do conhecimento prévio do espectador a respeito de como tudo termina para intensificar a aura trágica, que vai progressivamente tomando conta do filme, até chegar ao seu ápice na agourenta cena em que Sofia pede, com sucesso, permissão para estar com Francisco durante sua visita a Sarajevo. Na cadeia de ação e reação montada por Ophüls, os Habsburgos são em grande parte responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra (e portanto da Segunda). É claro que é uma afirmação radical, mas é claro também que a Ophüls não interessam os fatos em si, que manipula e distorce a seu bel-prazer (e sem esconder sua estratégia em momento algum, como já tinha escancarado no início), mas sim um panorama moral que ele concretiza em seus personagens. Explicitar esse panorama — e sugerir, tanto no texto de abertura quanto na montagem que encerra De Mayerling a Sarajevo, que ele segue sendo aplicável à Europa como um todo — levou o filme a ser proibido pelos nazistas na França ocupada, sendo que a estreia só foi ocorrer em 1945. Antes disso, Lachende Erben já havia sido proibido na Alemanha sob a acusação de promover a desordem pública. Há muito de subversivo, até mesmo anárquico, em ambas as obras, seja na irreverência sarcástica de Lachende Erben, seja nas observações mais sérias e agudas de De Mayerling a Sarajevo. Por sorte, foram os filmes que permaneceram.