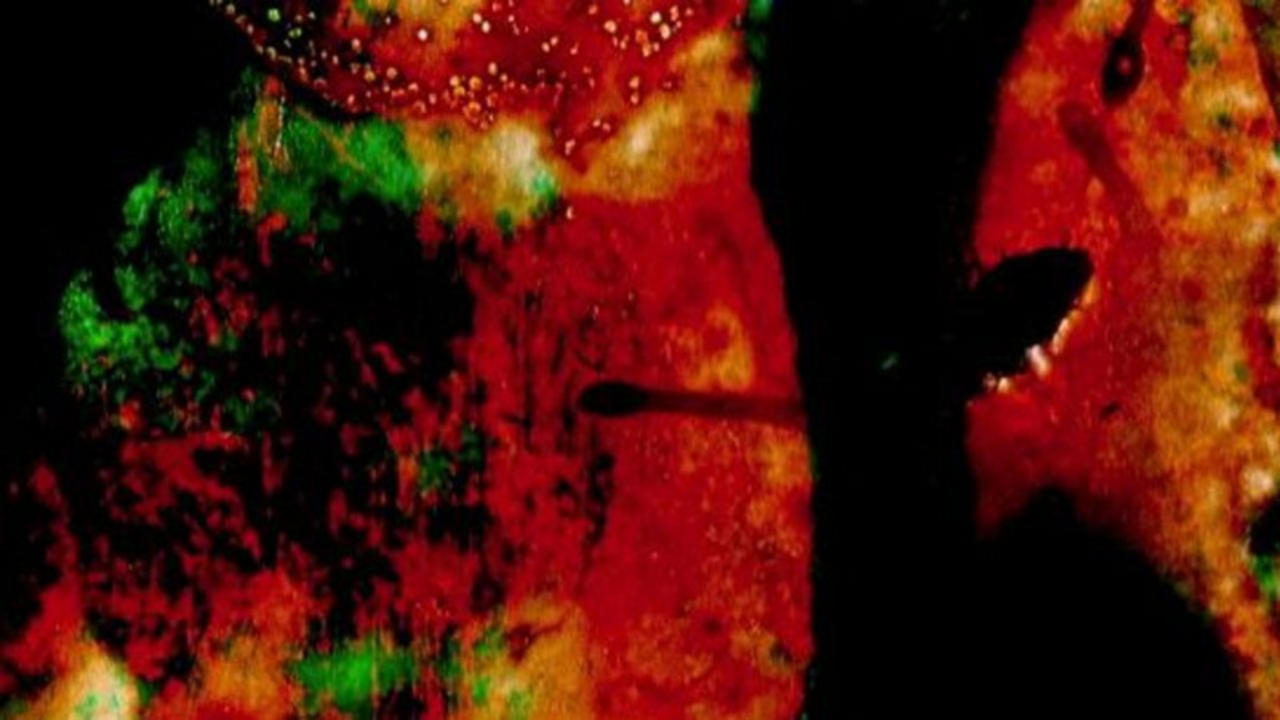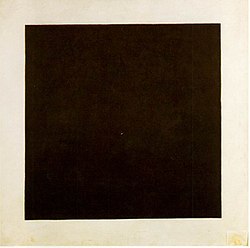Por Diogo Serafim
With Blue – uncertain – stumbling Buzz –
Between the light – and me –
And then the Windows failed – and then
I could not see to see –
Emily Dickinson
Saturno devora o seu filho, atira flechas contra a quimera de Frida, cobre de flores o corpo de Mendieta. O esvanecimento do laranja de Rothko para o vermelho que o contorna, a aura flava que apossa o entorno da cabeça inclinada do Cristo de Velásquez, o abraço da seda preta com a vermelha no lençol branco de Schiele – nada disso trata de uma transição brusca, mas sim de uma dinâmica constantemente equilibrada pela confrontação direta da ideia de morte, ontologicamente limitada, com a sua inevitabilidade espontaneamente sentida. Trata-se de uma cinesia que se dá no tempo, e não na suspensão deste, apreender a cor que sustenta cada predicado constituinte da morte, pesar cada contato interrompido ou arroubo descontinuado que contorna o seu evento e unir todas essas previsões, subjetividades e parâmetros em uma base estrutural, alicerçada na certeza de que o único momento em que a vida não me inclina para a ideia de morte é quando esta já se faz presente no meu corpo. Só penso em viver quando tenho em mim que, inevitavelmente, vou morrer.
A morte e a vida do corpo é sempre transcendida na obra de Brakhage – na luz pasteurizada que sai da janela para incidir no ventre habitado de Jane, com seu corpo submerso em água, em Window Water Baby Moving (1959) para o corpo inerte violado em autópsias de pessoas inominadas em The Act Of Seeing With One’s Own Eyes (1971), a forma deste se altera conforme a necessidade, seja na concepção ou na morte, na deformação ou na desfiguração, na mariposa destrinchada entre os rompantes de cor e abstração de Mothlight (1963) ou no mito ressurgente de Eye Myth (1967). Toda a obsessão parece encontrar em seu filme Dog Star Man (1961-1964) uma resposta definitiva – é um filme-chave, filme-síntese, filme-testamento, filme que apresenta não apenas um leque de técnicas e preferências estéticas do autor mas também de uma ambição deste mais primária enquanto artista, parecendo encontrar uma resposta para até onde o cinema pode chegar enquanto arte, onde os limites não apenas estruturais mas também sensíveis da matéria aparentam ser constantemente expandidos, ressignificados, em uma liberdade muito possibilitadora e particular.
Se Dog Star Man é um filme-filosofia, The Act Of Seeing With One’s Own Eyes é um filme-procedimento, um filme assombrado exatamente pela sua aparente secularidade. Reside na carne exposta – distendido nos músculos, nos órgãos escavados, fendido na gordura lacerada e no sangue asfixiado, furtivo nos interstícios da vida dissipada – um ideal transcendental espontaneamente caracterizado analiticamente, seja por uma valoração ontológica prática ou por uma negação técnica, em um caso deslocando e no outro reforçando uma tese que é alheia ao material em questão, isto é, aberto para uma concepção teológica de uma alma, uma continuidade extra-sensível que não é exposta na tela, ou para um princípio entrópico de esvaziamento de forma e conteúdo, a morte como tal, propriamente destrutiva no seu ato de reorganização material. Mais que um tratado investigativo é um tratado fundamentalmente expositivo, o momento presente de morte e o pragmatismo de um procedimento constituindo uma espécie de aporia vigente, o instante é encapsulado e reproduzido com uma frieza irremediavelmente vinculada ao presente enquanto matéria mas que em última instância nos afeta para além desta, uma aporia de difusão não apenas empática mas também niilista, fundada em um paradoxo multifacetado, o que resta em matéria do que era e do que será do corpo, do que pode constituir ou destituir algo de conteúdo, um trabalho de campo e extracampo fundamentalmente procedimental mas com possíveis desdobramentos metafísicos.
Brakhage se associa e simultaneamente se distancia do acionismo vienense. Associa-se enquanto existe uma recusa imediata à reflexão e à hermenêutica em prol de uma crueza frontal, escancarada, consignada na tela conforme os cortes desvendam a unidade corporal sendo violada. Associa-se também enquanto transparece uma transcendência espontânea, declarada na inércia do corpo, aceitando resignada a violação lúgubre, uma vulnerabilidade encontrada em algum grau na sinfonia ‘Island’ de Hermann Nitsch, a cacofonia e os ruídos iterativos compondo uma apoplexia sonora que trabalha em uma lógica de esvaziamento do eu, nos submetendo a uma dimensão que se perde em um niilismo holístico ao mesmo tempo que o reconstitui em prol da espiritualidade desvirtuada. Distancia-se do movimento na mesma medida que também se distancia da sinfonia de Nitsch – o filme é intuído por uma lógica que também é de esvaziamento, mas para por aí. Enquanto o indivíduo na sinfonia se permite ser absorvido por uma dimensão que parte da corporalidade para constituir algo muito maior que ele, algo governado por forças misteriosas pouco definidas apesar de manifestas nos seus desdobramentos, o filme não se desmembra para alcançar uma totalidade cósmica particular, mas tem no seu próprio procedimento a sua teleologia constituinte. Logo, foge naturalmente dos desdobramentos políticos do acionismo ou pelo menos os modula de uma forma claramente distinta. Em uma segunda instância, é particular também na pergunta fundamental que aparenta propor: onde reside a alma? Resta, naquela corporalidade fundamentalmente material, claramente desprovida de força vital, algum resquício do espírito?
A busca pelo holismo existencial, por uma possível espiritualidade moldadora investigando a ligação entre a natureza e o indivíduo, é o tema central em um de seus projetos mais ambiciosos: Dog Star Man é um filme maior que o mundo, do tamanho do universo que reside dentro de um homem. O filme tem tudo. Constituído de uma cosmologia de afetos, é uma epopeia sensorial com uma narrativa perdida nas entranhas da sua avalanche de texturas e colagens, rasgaduras estruturais e saltos temporais. Nascer, trabalhar, amar, pôr-se em fuga mas continuar no mesmo lugar, imagens que retornam, imagens que persistem, instantes que resistem. É a versão expandida da sua obra-prima For Marilyn (1992), onde inicialmente toda a angústia e todo o sentido se reduz a uma busca mais fundamental e incisiva, apenas aqui ela sendo abrangida para uma matriz ampla, orgânica, de sentimentos e objetos, lembranças e desejos, ausências e contatos.
For Marilyn é um dos maiores filmes da história do cinema exatamente por evidenciar uma das maiores obsessões de sua história em matéria esculpida: o ato de buscar o rosto de alguém nos interstícios da imagem, nos espaços vazios que podem ser ocupados por corpos, memórias, vontades e espíritos, no ritmo desencadeado do estímulo – um trabalho de cor, linguagem e, acima de tudo, de paixão.
Entre a brutalidade da carne, o desvelo dos cortes, a aspereza das texturas, a intrusão das imagens, a polidez da iluminação e as teleologias dos procedimentos, resta a pergunta: onde cabe o amor? A resposta não está no que é visto e sim em quem vê. O amor para além do racional, que se precipita, não questiona nem incide, apenas se apodera e se engrandece. Por que só no Outro eu posso finalmente me ver, e eu só vejo o Outro em você. Compreender a vida para além desta, não na dicotomia com a morte e muito menos na teologia de uma possível continuidade da mesma, mas finalmente na aniquilação da pergunta, porque ela se reduz a nada quando toda a sua sustentação se evidencia. É só luz incidindo objetos, é só o sol se inclinando sobre mim, é só a sua cor que vejo quando respiro, é só eu sabendo que te amo e saber que isso basta.