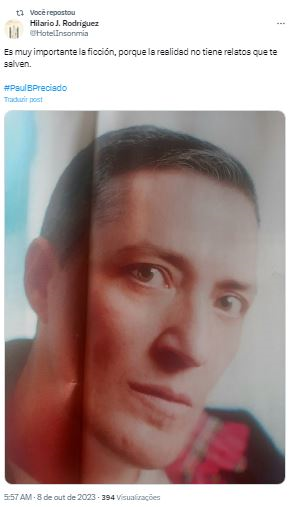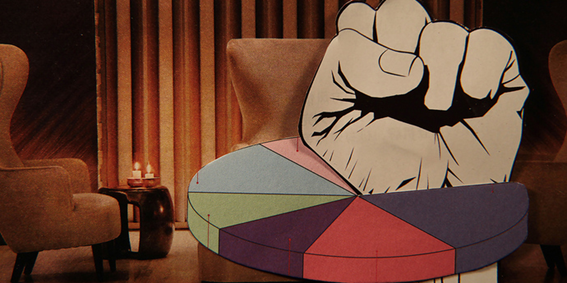Por Luiz Soares Júnior
Joyce, numa boutade não despida de verossímil, dizia que Wagner fedia a sexo; isto mesmo pode ser dito de Coisas secretas, o filme mais conhecido pelo escândalo do casting masturbatório que por ser um teorema neo-languiano cheio menos de luxúria que de frígida perversidade; Bonitzer dizia que o cinema começou escatológico e glutão e acabou gélido e perverso, com Marnie por exemplo; Coisas secretas flerta decididamente com este segundo e tardio destino, mas Brisseau, que nunca deixou de ser um professor dos subúrbios parisienses, reedita a educação libertina do século XVIII para propósitos mais estritamente minimalistas, dignos de um formato 1:33: são um gesto, um contracampo fulgurante, um close saturado de gelo, a rubrica de cinema moderno rohmeriana da locação em Paris num dia de verão – os materiais razoavelmente nobres de que se serve para sublimar os embates baratos de cash e sexo (tudo barato, módico, quase dirty, como num softporn rodado em Ibiza) que, como o Godard de Paixão nos ensinou (Isabelle Huppert, a operária virgem inspirada em Weill: por que nunca mostram o amor e o trabalho nos filmes?), não estão nada distantes de ilustrar uma certa essência pornográfica do cinema e do olhar contemporâneos, o destino fatal, fatale laideur, daquele mundo desencarnado mas ainda fetichista do vídeo – o mundo das imagens, opostas aqui a um plano clássico de cinema – das imagens celebradas com asco por Daney ao chamar Inferno de GRANDE NADA, e de Bonitzer ao ver um clip de Grace Jones achatado como uma lata de sopa Campbell’s.
Embora tenha como tema e objeto privilegiado a prostituição como meio de ascensão social e ao cabo mitológica, a ênfase de Brisseau, grande cineasta dos corpos erodidos de luz como numa tela de Watteau ou Chardin, nesse que é um de seus últimos bons filmes, é, como todo grande cineasta materialista o sabe, nos meios: é a cartilha gestual e de mise en scène prenhe de clins d’oeil de veneno escópico, com que a stripper desiludida (uma balzaquiana do terceiro arrondissement, subúrbio onde Brisseau ensinou e que inspirou um de seus melhores filmes, De bruit et de fureur) Nathalie presenteia a incauta mas erógena Sandrine: uma grande puta é antes de tudo esta inervação libidinal, energética de um grande corpo místico talhado pela mise en scène para seduzir e destruir, como a trajetória descrita nos ensina aqui, para dobrar a vontade plenipotente do macho que o capitalismo adestrou para vencer segundo a lógica saturnina, coleante, acetinada, sinuosa, rastejante, habitante da chaise longue e do reposteiro de veludo, da Mulher; todo este luxo acumulado pelo corpo que se sabe olhado e goza com isto nos é restituído com esplendor fetichista por Brisseau, o garoto que contempla a cena originária, interdita pelo buraco da fechadura paterna: os momentos pregnantes de sedução de Coisas secretas são sub-reptícios, entrevelados, enviesados, como o sutiã que as moças retiram de dentro de um corpete em plena estação do metrô ou o flagra da masturbação mútua de Sandrine e Nathalie pelo burocrata Delacroix: são feitos para poucos, são um dom para iniciados; é segundo o metro, atalhos inclusos, desta via crucis iniciática do olhar do basílisco fascinado que Nathalie vai instruir Sandrine, um tanto mimeticamente à semelhança do que Brisseau efetiva com seus espectadores, que são também presas e cúmplices; todo o processo nos é industriosamente narrado em off por Sandrine, portanto já senhora dos dons ensinados por Nathalie: já está tudo acabado, arrematado, como aprendemos com os grandes exegetas do maneirismo, que identificam narrativa e morte; mas o gênio de Brisseau é ser o descritor e narrador ocasional do exponencial processo, do sendo; detenhamo-nos na brilhante sequência do flagrante de Delacroix, chefe do escritório por Sandrine, que se masturba na sala aos fundos do cenário; o découpage é exemplar em módico rigor e sobriedade jansenista, quase televisivo sem a luz chapada e a frontalidade acintosa, tudo muito funcional: o homem vem pelo corredor, que já aprendemos a espreitar desde o Night of the demon de Tourneur, mergulhado na semi-obscuridade, e o contracampo o mostra diante de Sandrine, debruçada sobre uma cadeira giratória; Brisseau começa nos mostrando a franja do corpete de Sandrine, suavemente percutido pelo movimento masturbatório; depois vem um plano médio de sua pélvis que arfa e pulsa, na iminência do orgasmo; vemos ainda a mulher num americano petite mort, e finalmente o beijo protocolar no chefe, que se debruça diante desta, agora sujeito de tudo; na sequência seguinte, recém-saída da crisálida, Sandrine, até então mascarada de impassibilidade de monja clarissa, já nos mostra as tetas detrás da porta, enquanto a outra secretária se azafama para entrar: uma metamorfose somática e espiritual, descrita plano a plano com o acólito dos andaimes do découpage, de que a elipse clássica (os franceses a chamam de litote, ou a negação da negação) será o cimento e a pá de cal; os exercícios espirituais de Inácio de Loyola devem ter inspirado Brisseau por aqui.
O poderoso Christophe, alvo final da quête iniciática de Sandrine, que assistiu impassível à descomposição de sua mãe, concluiu deste exploitation doméstico que os homens são marionetes feitas de pau; Bruno Cremer, numa obra-prima injustamente subestimada chamada Un jeu Brutal, é um cientista que toca no rosto da mãe morta e conclui que agora ela é de pedra, como um quartzo; para os melhores Brisseau, tudo se resolve e se arremata no inanimado da cicatrização alegorista, de que suas marionetes frígidas são o instrumento catalisador (o final de Coisas secretas, De Bruit e de fureur e seu pássaro azul); o sexo, para mulheres como Sandrine e Nathalie, é o meio, idealmente epocal numa idade de imagens sem fundo e sem sombra, para conspurcar os valores estabelecidos sem quebrar a superfície vítrea, televisiva e agora de youtuber: a puta é também uma boneca de nanquim e cabelos frisados, imagem ao mesmo tempo da reificação e da bella ideia conspurcada de sêmen; já que não existem mais planos de cinema – habitados por homens e mulheres, por casas e rotas de fuga, on the road ou back street – e sim manequins fossilizadas de prótons, imagens quaisquer, tornadas sublimes pelo fórceps psicótico da serialização televisiva; o genial em Coisas secretas é que este processo de mumificação nos é mostrado, como demonstrado (um teorema languiano, como também um softporn de Norman Rockwell) sem abdicar dos gloriosos instrumentos do classicismo ora pro nobis: tudo se resolve segundo o metro do corte, do découpage, do raccord no eixo da câmera, mas ao contrário da inanidade pornográfica dos dejetos audiovisuais de hoje, que elegem objetos insignificantes para operações formais desprezíveis, os personagens de Brisseau ainda poderiam habitar as páginas de madame de Stäel ou de Sacher-masoch: são putas sujas e arrivistas (e todo grande artista é, no mínimo, um clínico entomologista de sua época: para um tempo de putas iníquas…), mas portadoras de um exemplar álbum de imagens suntuosas, cheias de númen, que nos devolvem pelo avesso o nosso olhar corrompido pela Vulgata televisual, falando-nos, como nos diálogos da alcova de Sade, de ética, compromisso e da dignidade perdida; Brisseau é um moralista, como o foram Péguy e Sorel, o De Palma de Paixão, o Kubrick de Eyes wide shut e o Clint Eastwood de Menina de ouro: toda a imundície narcisista de um tempo voltado ao culto idólatra do próprio umbigo, agora centuplicado pelas câmeras de vigilância dos reality shows, nos é devolvida no espelho convexo destes filmes sulfurosos de superfícies límpidas onde se agitam profundezas turvas de danação. Christophe, o belíssimo monstro de Coisas secretas, é a pedra polida de esmalte e opala que a sociedade de consumo achou no maelström tumultuoso da todestrieb freudiana para melhor consumar seus fetiches carnívoros; ele e Sandrine são belos espécimes de estricnina erógena em estado puro, mas para tal devem parecer eficientes, funcionais – aliás como a mise en scène de Brisseau, que emula esta guerra libidinal na epiderme de um contracampo: the man of the year, ou qualquer coisa assim; a pornografia é a arte explícita por excelência, que é contrária ao erotismo, que sempre deixa uma franja oculta, velada, intersticial: Barthes falou lindamente dele quando nos escreve sobre a fresta cintilante: erótica é a manga entreaberta da camisa ou do punho, que nos deixam entrever no imaginário os pelos crespos sob a casimira; Brisseau, erotômano consumado, não é um pornógrafo, mas fala ad libitum de nosso mundo, corpo e olhar pornográficos; não é pouco testamento para um professor do terceiro ano.
…