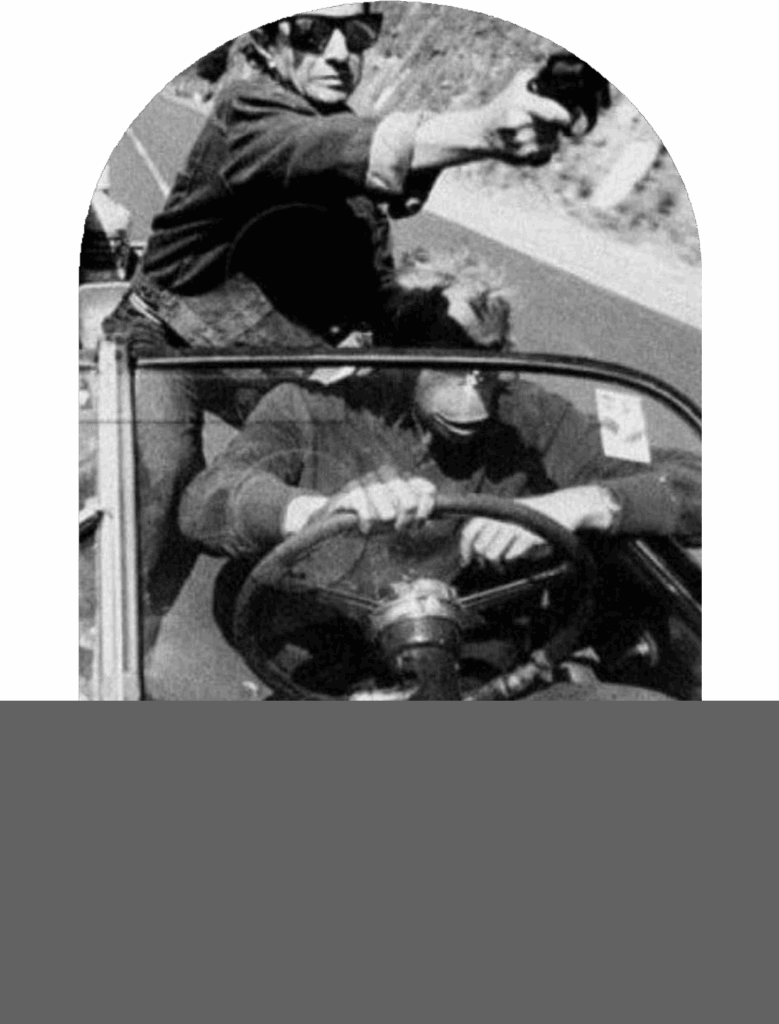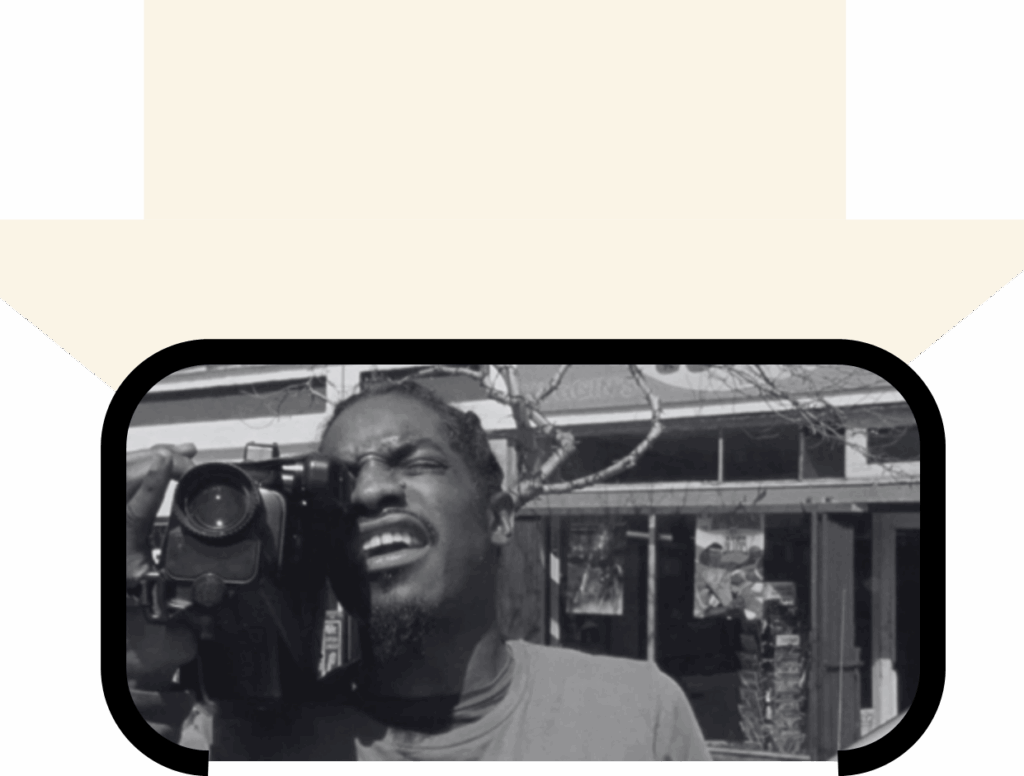por Rodrigo de Abreu Pinto
Estamos em 1977. Marcelo (Wagner Moura) retorna à sua cidade natal, Recife, onde está o seu filho. Ele quer ir embora novamente e, desta vez, levar o menino junto. Espera apenas o passaporte falso.
Marcelo é professor e chefe do departamento de engenharia. Ele tem pressa e precisa da identidade falsa porque descobriu que Henrique Ghirotti (Luciano Chirolli), empresário e membro do Conselho da Eletrobrás, está mexendo os pauzinhos para fechar o departamento e interromper as pesquisas em curso, já que uma delas concorre com as pesquisas desenvolvidas por uma empresa do próprio Ghirotti.
Quando o empresário visita a universidade de Marcelo, ambos se desentendem e Ghirotti contrata capangas para assassiná-lo. É o que leva Augusto (Roney Villela) e Bobbi (Gabriel Leone) até Recife, onde perseguem o protagonista com a bênção das autoridades locais, lideradas pelo Delegado Euclides (Robério Diógenes).

Essa breve descrição já permite situar Agente Secreto diante da safra recente de filmes sobre a ditadura, como Marighella (2019), Deslembro (2019), Pastor e o Guerrilheiro (2023), A Batalha da Maria Antônia (2023), O Mensageiro (2024) e, claro, Ainda Estou Aqui (2024).
Do lado dos mandantes, o foco não está nos militares (aliás, o termo “ditadura” sequer é pronunciado), e sim nos empresários que apoiaram o regime e, como o outro lado da mesma moeda, foram apoiados por ele. Do lado dos alvos, quem sofre a perseguição não é um militante político (seja estudante, guerrilheiro ou político), mas um professor de perfil acadêmico, alheio às franjas de resistência ao regime.
Por aí fica claro que o leque de agraciados e desamparados pela ditadura é tão amplo quanto se possa imaginar. Tamanha flexibilidade decorre de que os seus desmandos não se resumem às torturas nos porões, mas abrem espaço para toda sorte de “pirraças” (violência parapolicial, apropriação da coisa pública, tráfico de influências, destruição de reputações) que correm à solta sob o resguardo do uso seletivo da lei e, quando necessário, de execuções sumárias e consequente ocultação dos corpos.
Muito mais do que a ordem, a ditadura é a gestão da desordem, e Agente Secreto vai fundo na caracterização desse estado de coisas – o que, ao menos até então, ninguém tinha feito tão bem como Iracema, Uma Transa Amazônica (1974), em que a exploração sexual, o desmatamento ilegal e o contrabando de madeira e minério ao longo da Rodovia Transamazônica (BR-230) são apresentados como metáfora do regime militar. E não à toa, Kléber Mendonça Filho presta uma homenagem direta ao filme de Jorge Bodanzky e Orlando Senna em uma das imagens de abertura de Agente Secreto.

Mas retornar a isso agora é importante porque, de uns anos para cá, ganhou força a tese de que as democracias já não caem por golpes de estado, mas pela erosão gradual do seu tecido institucional. Agente Secreto vai na linha de vários escritos recentes sobre o nascimento das milícias nos anos setenta (como Os porões da contravenção, de Aloy Jupiara; Dos Barões Ao Extermínio, de José Cláudio Souza Alves; República das Milícias, de Bruno Paes Manso) para firmar que nos idos da ditadura era parecido, só mudava a ordem: primeiro veio o golpe de estado, e depois o esgarçamento do tecido social, desde então sujeito à violência ora oficial, ora protagonizada pelos mais diversos atores, como milionários, guardas da esquina, assassinos de aluguel.
Só que levar essa complexidade para a tela não é simples. Uma coisa é mostrar um dissidente tentando escapar da máquina repressiva do regime, para o que basta um drama circunscrito ao indivíduo, com a realidade social como pano de fundo, a exemplo de Marighella (2019) e Ainda Estou Aqui (2024). E outra coisa é apresentar essa mesma jornada individual e, ato contínuo, compor um panorama do entorno social desse personagem – o que requer, afinal, uma série de tramas e personagens com densidade própria e que não sejam meramente ilustrativos.
Para ter noção do desafio, tome-se o exemplo de Tropa de Elite (2007). Baseado na jornada do Capitão Nascimento (Wagner Moura) em escolher o seu substituto, o filme de José Padilha também tenta apresentar uma cartografia das delinquências cometidas por traficantes, bicheiros e policiais, do alto ao baixo escalão, da cidade do Rio de Janeiro.
É assim que nos damos conta da cobrança, por parte dos policiais, de propinas para que traficantes vendam drogas e armas; para que bicheiros e cafetões explorem meio mundo de atividades ilícitas; para que flanelinhas e camelôs trabalhem nas ruas. São cenas valiosas pelas informações que transmitem, mas desprovidas de força narrativa própria, já que mais parecem reportagens ilustrativas sobre a realidade do Rio de Janeiro, sem tensões ou atravessamentos que lhes deem peso dramático.
Diferente disso, Agente Secreto abraça a complexidade da encenação. Sobretudo em sua primeira metade, momento em que o protagonista retorna para Recife e ainda não sabemos bem por que. Kléber Mendonça Filho aproveita esse momento em que o espectador, ainda sem saber direito em que se apegar, está mais permeável a absorver a atmosfera circundante do filme.

O contexto de Agente Secreto é fixado desde a cena inicial, naquele prólogo típico dos filmes de western que sintetiza, em chave alegórica, o conflito prestes a guiar a narrativa. Basicamente: a caminho de Recife, Marcelo faz uma parada para abastecer em um posto de gasolina, onde um cadáver permanece estendido há dois dias. Quando a polícia finalmente aparece, não é para recolhê-lo, mas para vasculhar o carro do protagonista em busca de algum arrego.
Daí em diante, situações desse tipo se acumulam. É madame que assassina o filho da empregada doméstica. Esposa que sofre feminicídio pelas mãos do marido. Policiais que jogam cadáveres em alto mar. Milionário que compra juízes. Em resumo, não sei quantas situações explicam a tal cautela dos moradores do Edifício Ofir – como Arlindo (Thomas Aquino) que leva a comida para que nenhum dos moradores precise ir até à feira, ou Haroldo (João Vitor Silva) que é proibido de falar em “refugiados” – antes mesmo de que o filme esclareça o perigo que eles correm.
O que distingue Agente Secreto é que nenhum desses fatos é apresentado como mero dado sociológico. Cada fato é também cinema, já que Kléber Mendonça Filho cria uma encenação sob medida para transmitir cada informação – o que justifica o prêmio de melhor direção, conquistado em Cannes, onde se julga a transformação do roteiro em coisa viva por meio da dramaturgia interna a cada plano.
Presta atenção: quando quer informar da morte do filho da empregada, Kléber Mendonça Filho arma um circo no instituto de identificação que se torna delegacia por um dia só para que a patroa, autora do crime, preste o depoimento. Quando quer contar do feminicídio, não é a própria Sebastiana, mas Claudia (Hermila Guedes) que conta para Marcelo, logo após transarem e ela se deparar com a foto da falecida na casa em que ele está hospedado. Quando quer falar dos cadáveres lançados ao mar, são apresentados todos os participantes na linha do crime, desde o segurança do porto até o médico legista do IML, além dos próprios assassinos. Quando quer tratar da compra do Judiciário, chama atenção para a dificuldade de o advogado informar ao réu a esse respeito, já que muito provavelmente os telefones também estão grampeados.

Junto aos fatos, Kléber Mendonça Filho adiciona uma série de elementos simbólicos que dão formas aos delírios dos personagens – em todos os casos, delírios alimentados pelo medo que atravessa o tecido social. Assim, quando Marcelo tem pesadelo à noite, o seu medo de morrer vem na forma da La Ursa, enquanto os cidadãos do Recife vivem algo parecido com a Perna Cabeluda. Ou seja: o tubarão, a perna cabeluda, a La Ursa, o gato de dois rostos, as cicatrizes… todos esses elementos não são meras excentricidades engraçadas, mas meios que conferem formas sensíveis aos medos entranhados no social.
Por aí já fica claro que a narrativa de Agente Secreto não se organiza só em torno do seu protagonista. Muitas cenas se desdobram sem uma lógica dramática muito amarrada e, por vezes, o equilíbrio entre as partes é deixado de lado para que o filme explore, de modo desimpedido, as modulações de atmosfera, tensão e sentido entre os planos. Modulações essas que retratam o cenário caótico e absolutamente permeável da ditadura, no qual uma ameaça desemboca em outra ameaça, e assim sucessivamente.
Situações que pouco ou nada contribuem para a construção do drama central possuem tempo de tela e, em igual medida, mesmo personagens secundários deflagram e protagonizam cenas importantes. A consequência disso é que nenhum personagem é desperdiçado. Todos eles têm vida própria, com contornos genuínos e bem definidos. Em outras palavras: cada um deles poderia ser personagem de um conto de Roberto Bolaño ou de Luís Fernando Veríssimo.
O que é bastante verdade, aliás, inclusive para os vilões. Aspecto incomum no cinema brasileiro recente, a exemplo de bons filmes que esbarram na ausência de vilões à sua altura, caso de Que Horas Ela Volta, Ainda Estou Aqui, e até mesmo de Aquarius, com aquela representação um tanto caricatural do diretor e herdeiro da empreiteira (Humberto Carrão) – o qual se aproxima, em alguma medida, do Ghirotti de Agente Secreto, de longe o personagem menos interessante do filme.

Agente Secreto vai na contramão desse padrão porque, em linha com a matriz sociológica brasileira do “patrão cordial” (Sérgio Buarque de Holanda), elabora figuras ambíguas em que carisma e tirania, sensualidade e ameaça, malandragem e marginalidade convivem na mesma figura. O Delegado Euclides é irreverente a ponto de aparecer com glitter, batom e camisa de botão para analisar uma ocorrência no meio do carnaval. Já o capanga Augusto é capaz de terceirizar o assassinato de Marcelo para um matador local (Kaiony Venâncio) a fim de que lhe sobre tempo para curtir a praia de Boa Viagem.
Tantos malandros só poderia resultar em disputas sobretudo porque, ao contrário dos altos escalões das Forças Armadas, em que a hierarquia é clara e posta, no submundo do crime as hierarquias são imprecisas. Quando Augusto e Bobbi passeiam na viatura do Delegado Euclides, as provocações entre as partes deixam claro que cada qual se acha mais malandro que o outro. É o que também revela o olhar desdenhoso que Bobbi lança sobre os policiais e, ainda mais, o assassinato dele pelas mãos do matador local. Uma realidade social em que não se sabe ao certo quem detém o poder, embora se saiba muito bem quem não o possui.
O avesso de tais malandros é o protagonista, muito provavelmente alguém que passou mais tempo enfurnado em bibliotecas do que no movimento estudantil. Não dá nem para dizer que Marcelo era propriamente de esquerda. Sabe-se apenas que era um professor universitário, de repente catapultado para o limiar da vida e da morte porque contrariou um interesse de um figurão abençoado pelo regime – o que atesta, assim, o arbítrio intolerável da ditadura em que a contingência pode se petrificar em fatalidade a qualquer instante, com qualquer um.

Ocorre que Marcelo mal sabe como lidar com isso. E o poder da atuação de Wagner vem disso: representar um personagem obrigado a exercer um papel que não quer, para o qual não foi treinado. Alguém que deu um murro pela última vez no ginásio, como ele mesmo admite. Alguém incapaz de segurar uma arma, ou até mesmo de usar o nome falso, mas que deve fazer as vezes de um agente secreto se quiser sobreviver. Do que resulta o incômodo visível em sua postura dura, entravada, e em suas expressões de quem quer apenas sobreviver ao faroeste violento ao seu redor.
Em sua segunda metade, quando já delineou bem o contexto e a personalidade do protagonista, a montagem de Agente Secreto passa a obedecer a um encadeamento dramático e mais conforme a progressão psicológica do protagonista. A revelação de Elza de que Marcelo está jurado de morte, ponto a partir do qual o filme se afunila na perseguição dos capangas, é o ponto de virada para que ele se cobre a reunir forças para enfrentar o que vem pela frente.
A convivência com os demais “refugiados” do Ofir, liderados pela Dona Sebastiana, é o que inspira boa dose de coragem em Marcelo. Cada um daqueles “refugiados” é representado com ternura, mas sem indulgência, a exemplo das vezes que o filme mostra como Dona Sebastiana dá ordens para Clóvis. Eles tecem entre si vínculos de solidariedade à altura do perigo que os espreita – o que conecta Agente Secreto a Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, o maior livro brasileiro deste século que também testemunha a vida que emerge em meio à opressão, os gestos de resistência frente à desterritorialização forçada e os afetos que sustentam as relações de solidariedade.

A cena do jantar de despedida do casal de angolanos (Isabél Zuaa e Licínio Januário) é de uma beleza rara. Em meio aos milhares de contatos secretos por telefones, telegramas e cartas, finalmente podemos vê-los ali, juntos, trocando ideias, fumaças e afetos. Marcelo até se arrisca a dizer o seu verdadeiro nome e vive isso como uma espécie de libertação. Muito embora isso se dê por meio de uma atuação comedida de Wagner Moura, a fim de não expressar um alívio exagerado e ilusório, até porque o filme, dali em diante, não reservaria nenhuma outra espécie de redenção para o personagem.
Marcelo é assassinado antes de apanhar os passaportes falsos e fugir com o seu filho. Não chegamos a assistir à cena, já que o filme salta no tempo antes mesmo do desfecho da perseguição. Só tomamos conhecimento da morte de Marcelo por meio de uma notícia de jornal lida no presente por Flávia (Laura Lufési), uma universitária que pesquisa arquivos da ditadura.
O corte para o presente não foi inteiramente abrupto, uma vez que fomos apresentados à Flávia em duas cenas inseridas ao longo do filme, nas quais ela escuta as fitas gravadas por Elza e narradas por gente que cruzou o caminho de Marcelo, como Dona Sebastiana e Anísio (Buda Lira). Só que são cenas curtas, com uma luz branca e asséptica, uma decupagem econômica, sem diálogos ou tramas relevantes que, de outro modo permitiriam uma caracterização mais precisa da personagem de Flávia.
Pensando bem, não é difícil entender a jogada anticlímax (até mesmo na contramão dos finais de Som ao Redor, Aquarius e Bacurau) para propiciar um olhar analítico, distanciado e menos romantizado sobre o que ocorreu, com especial atenção para a importância da memória em face da brutal consequência do seu apagamento: o esquecimento. É o que constata a própria Flávia quando vai até Recife e entrevista Fernando (Wagner Moura), aquela mesma criança que escreveu “acho que já estou esquecendo a mamãe” e, ao final, acabou sem memórias da mãe e do pai.
De toda forma, é difícil não ficar com a sensação de que Agente Secreto perde fôlego na sequência final, ainda que por uma boa causa. Até se entende que o filme não gaste muito tempo nas cenas com Flávia, inseridas ao longo do filme, a fim de preservar o ritmo do thriller que corria na trilha principal. Só que isso resulta em uma personagem sem lastro dramático para tomar a narrativa pela mão, o que deixa as cenas finais meio forçadas.

O tema da memória é importante – mais do que isso, essencial em um país que faz tão pouco caso dela – mas dá para dizer que o assunto já tinha sido bem pontuado por meio do trabalho de Elza em entrevistar os perseguidos, a defesa das universidades públicas e o esforço de Marcelo em achar o documento de identificação de sua mãe. Também a conexão da narrativa com o presente, que fica ainda mais evidente com o salto para os dias atuais, estava bem colocada desde o momento em que Agente Secreto dilui o golpe em suas práticas cotidianas e ressalta o papel do empresariado. É como diz o próprio Kléber Mendonça Filho em Retratos Fantasmas (2023) de que, por vezes, “os filmes de ficção são os melhores documentários”.
Se as coisas já estavam claras de antemão, é pelo próprio talento de Kléber Mendonça Filho em explicitar os sentidos a cada cena, a cada plano. Assim acontece porque ele é dos raros casos que equilibra, de um lado, uma capacidade singular de leitura da realidade; e, do outro lado, um domínio profundo dos gêneros cinematográficos (drama familiar, comédia de erros, terror gore, thriller político, entre outros) que reconfiguram a realidade de acordo com os seus pontos de vista. Razão pela qual os seus filmes não resvalam no humanismo indócil pela falta de uma abordagem realmente crítica da realidade, e nem desperdiçam diagnósticos pela falta de instrumentos para exprimi-los.
Agente Secreto, afinal, é mais um exemplo disso na cinematografia de Kléber Mendonça Filho. Só isso explica a tamanha responsabilidade que o filme assume. Responsabilidade com o passado, pela reconstrução rigorosa da ditadura. Responsabilidade com as lutas no presente, pelo quanto o retrato daquele período ilumina o momento atual. E responsabilidade com a invenção de um futuro, já que o filme incita a sanha de pesquisadores que mergulharão nos arquivos sob a promessa de trazer à tona os Marcelos, Fátimas, Sebastianas, Haroldos, Claudias, Therezas Vitórias que alguns preferem que sigam enterradas. Ainda bem.