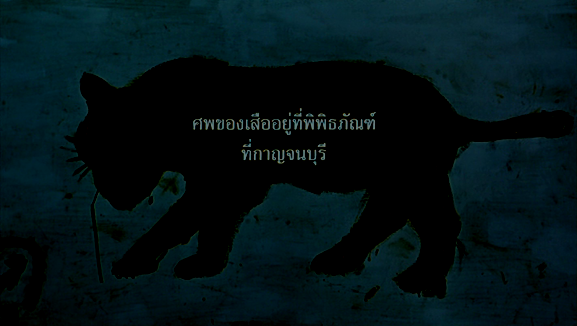Por Luiz Soares Jr.
Wittgenstein, creio eu, falava que há experiências infensas ao conceito e impossíveis de serem submetidas ao cravo da mediação: a prece, a música, a arte em geral não significam nada, pois não pretendem ser cooptadas pela teia espessa e irisada de significantes da semântica. Elas antes nos mostram coisas, mundos, sentidos, corpos, devires; elas dão a ver. Portanto, há um bruit de fonds imarcescível de silêncio contra o qual se contrapõe ressonante de glória o primeiro plano da aparição destas supracitadas ‘criaturas’ em Mal tropical, obra-prima de Apichatpong Weerasethakul. É uma mulher com rabo de bicho que nos introduz neste cosmo mimético primordial da segunda parte em que homens ainda compartilhavam com animais pedaços de corpo e de ditirambo para contar ainda a mesma história. A história do mesmo? Da natura imemorial?
É aquela que mais absolutamente fala de nosso segredo, do nosso logos primevo, que é a plenitude e condensação por analogia porque prescinde do signo. Godard dizia que “se eu tivesse a força, eu me calaria”; e o que é a força senão a integridade (não estilhaçada pela separação da mediação, impoluta e irredutível à queda da significação) que os condena de forma bem-aventurada ao mutismo do logos originário?
A arte sempre alcançou as profundezas sem precisar nomeá-las, e se Godard lamenta a sua perda é porque antes de tudo é um artista tardio, aquele que tem por objeto propriamente o trabalho da linguagem. A queda, de fato, consiste na necessidade de recorrer ao signo para poder ser; mostrando-nos um mundo que escapou ao fórceps da significação pela boca humana, o artista dos primórdios profere de boca fechada um litígio inelutável, aquele que separa sem chance de remissão aquilo que é daquilo que é dito; Mal tropical é um dos filmes mais sérios feitos sobre esta impossível sutura: só existimos mais plenamente na boca da noite e da floresta mágica, quando nossa figura, nossos gestos linguísticos estão esmaecidos, esgarçados o suficiente para a emergência de uma força das origens, que dizima e aniquila tudo o que de ulterior nos empenhamos em dizer: o plano sequência, a profundidade de campo e locação resgatados pelo cinema moderno ao primitivismo das origens , seja em Feuillade, Griffith da Biograph, Pastrone, ou Thomas H. Ince, além dos nórdicos servem para Apichatpong como um ponto de partida sem volta, mediúnico e rapsódico, para lidar com este mundo subterrâneo e silente que aflora à superfície do plano cada vez que um corpo inerme se move na floresta intumescida de escuridão.
A prova material de que o silêncio devorou a carne do filme e abriu sua embocadura para uma alteridade infensa à cooptação pela significação é a retomada em um cinema tardio que “ultrapassou mantendo” os dados do cinema moderno – som direto, locação, plano sequência. Uma característica que assistiu à autora do cinema e que é retomada em seu crepúsculo: o intertítulo que nos conta o conto que servirá de fora de campo para o conto entoado pelo filme Mal dos trópicos, aquele contexto fecundo sem o qual o texto do filme permanecerá silente: o xamã e sua encarnação no tigre são os princípios de taumaturgia narrativa, deste conto imemorial que precede e possivelmente vai sobreviver ao filme em questão e a todos nós. O silêncio de que o intertítulo é o representante excelso de escritura é o estigma da nossa finitude. Sua cicatriz insuturável: antes de falar ou sermos falados (pelas obras, pela música, que aliás entretém com o silêncio uma relação privilegiada), somos ex-votos do silêncio. A entrada do silêncio na cena amorosa e rapsódica de Mal dos trópicos instaura de chofre uma profundeza abissal, que nenhuma narrativa com raccord diretivo causal teleológico, no esquema campo e contracampo, jamais vai conseguir instalar.
A grandeza do filme de Apichatpong consiste antes de tudo em nos assegurar um lugar na narrativa, retomando os dados do cinema moderno que permitiam, ao mesmo tempo, um lugar identificatório no mundo e a sua distância em uma clareira vidente: na ‘primeira parte’, somos apresentados à família dos personagens, o espaço-tempo de seu trabalho, namoros casuais, cotidiano hebdomadário, mas tudo de sopetão epifânico, como os filmes do Rossellini ou Bergman nos ensinaram a ver em sua cartilha hierofântica: uma viração de existência, o trecho de um corpo, o encontro inaudito entre estes dois dados, um tanto de tempo em estado puro, as coordenadas de um espaço comezinho. Depois, o corte abrupto, a ruptura fatal, que os vai projetar no horizonte do mito, que vai espessar e escurecer as figuras mostradas até aqui segundo o diapasão de um nomos e um logos obscuramente táctil, aquele mesmo primevo que assistiu à nossa chegada ao mundo e será testemunho de nosso fim.
Até aqui, o encontro decisivo com a floresta como o contexto iniciático e a clareira maiêutica da experiência fabulosa só nos aparecera como fresta, quando o rapaz que corta gelo se demorara incisiva, mas fortuitamente a olhar para a floresta, que parecia, segundo a aura benjaminiana, lhe virar o olhar de volta. Mal dos trópicos é destas obras prenhes de aura que sempre vão nos levar a voltar o olhar para trás e para dentro, segundo o paradigma de anamneses que nasce platônica e que permanece baliza de nosso autoconhecimento, agora sob os auspícios do cinema tailandês.
Buscamos, talvez em vão, mas isto nada prova em contrário da fecundidade de nossa investigação, pelas pistas, pelos olhares e pelos rastros que melhor nos poderiam assegurar um lugar no filme, e isto porque o homem ocidental será sempre esta errata pensante credora de significação. A grandeza de Mal dos trópicos reside antes de tudo em saber que a verdade, de que é debitaria toda arte, é o lugar de uma revelação, mas para que haja revelação, é necessário que seja dada a condição de possibilidade do velamento. A segunda parte é o lugar do corpo, do silêncio, da paisagem que agora nos contempla: a primeira, sob o verniz digressivo do cinema moderno, é o véu de Maia cuja revelação nos será permitida efetivar na segunda parte, e reciprocamente se implicam numa diacronia miraculosa; esta estrutura, cuja chave de fá consiste no arremate circular com que o filme se inicia (a descoberta do corpo do soldado apaixonado), é um corpo ressoante de analogia que unicamente ao espectador cabe fazer pulsar, arrematar, levar à plenitude, como em toda experiência hermenêutica poética (e quem há de negar que a essência de toda arte consiste na poesia?).
Se a primeira parte, vigente sob a narrativa ‘moderna’ é aquela que nos permite ter acesso à figuração e estruturas enquanto tais do filme, a segunda parte, sob a égide metafísica do silêncio, nos permite uma abordagem transcendental. O rastro do rastro, aquilo que permite que a primeira metade seja vista com a devida transparência seja usufruída como um assombroso espécime de cinema moderno, mas a Mal dos trópicos, tal como Plataforma, Le monde vivant, Quei loro incontri, não basta robustecer o atalho do caminho moderno, mas estabelecer, sobre os fundamentos deste caminho já traçado, uma rota idiossincrática, não original, mas originária, dada a infraestrutura de um cinema moderno de tudo, o grund da primeira metade. Aqui, este será o lugar do velamento daquilo que só será desvelado a partir do desaparecimento do rapaz, que nos introduz a um filme literalmente pós-moderno, entendendo-se aqui a pós-modernidade não como um arsenal retórico de gosto duvidoso sob a égide de iniquidades como significante flutuante, etc. não: é pós-moderno porque vem depois da primeira parte, sendo esta um experimento digno de Stromboli ou Jaguar, mas não permanece nesta. A complementa e atualiza sob o horizonte que deve preceder e inspirar a tudo o mais – a saber, o substrato de fundamento do filme: a dimensão mimética, inscrita nos corpos fabulosos humanos, da hierarquia mítica dos deuses, tudo, na segunda metade, se plenifica, universaliza e poetiza, porque, bem treinados pelo experimento moderno – plano sequência, som direto, raccord diretivo – somos introduzidos no reino do divino, de que o trágico moderno Hölderlin nos deu descrições tão apofânticas de fábula poética.
O gênio do filme consiste em que jamais Apichatpong literatize a metáfora em Mal dos trópicos, fazendo poesia e erigindo uma mitologia e jamais abandone o hic et nunc deste mundo: somos introduzidos em uma percepção vidente sem jamais deixar para trás a “evi-dência” destes rastros atropelados de poeira e palmas, floresta adentro. Os corpos humanos emulam os dos deuses, mas em instante nenhum deixam de sangrar, amar e morrer.
Falei no início deste texto da prece como de uma linguagem consanguínea ao silêncio por excelência. De fato, se observarmos com atenção analítica, os versículos da Bíblia só nos revelam a Verdade sob a égide da tautologia, do “Eu sou Aquele que é”. Correlata à tautologia sublime da prece, nós temos a figuração do ícone, que em sua frontalidade expositiva sempre foi encarregada de revelar o Dom de Deus. No final de Mal tropical, comparecem na imagem pergaminhos de linho puro onde se inscrevem os ícones a que se dirigem as preces laicas do soldado: “Pelas nossas memórias”, a infinidade da memória da fuga do Egito ou da estrela guia que coordenou os passos dos pastores até a manjedoura do menino Jesus, ou ainda as ressoantes de númen palavras de Buda. Mnêmosis (Memória) foi a musa das musas para os gregos, e não por acaso: é lembrando que o homem entoa sua prece primordial, é lembrando que ele transcende absolutamente a imanência de suas misérias para se alçar a um parentesco com a divindade; ao lembrar, por intercessão da imago-mater do tigre xamã, dos seus amores com Tong, o soldado Keng presentifica na figura espavorida do tigre os contornos figurativos de seu amado projeta e vivifica o seu dorso caricioso: “eu me lembro”, sussurra com o vento da noite aquele cuja figura agora se associou indelevelmente ao animismo do ser.
Neste lento e suntuoso trabalho de campo e contracampo com que o soldado, ajoelhado, dedica uma prece untuosa ao seu amor de sempre, Apichatpong reivindica o sagrado da prece, do confronto sobrenatural entre aquele que crê (no poder do amor) e aquele a quem se dirige esta unção para falar de unio mystica em um contexto de rapsódia tailandesa. Um desperdício de númen, uma configuração estelar onde a finitude e a infinitude contraem núpcias na noite transfigurada deste enleio. Poucas vezes o cinema (sobretudo o contemporâneo), arte laica da encarnação de Deus e, portanto, de certa forma de sua decadência num corpo qualquer, soube como entoar um canto de amor silente, dueto concertante, entente miraculosa onde a mística, o mito e o homem souberam novamente ser um só.