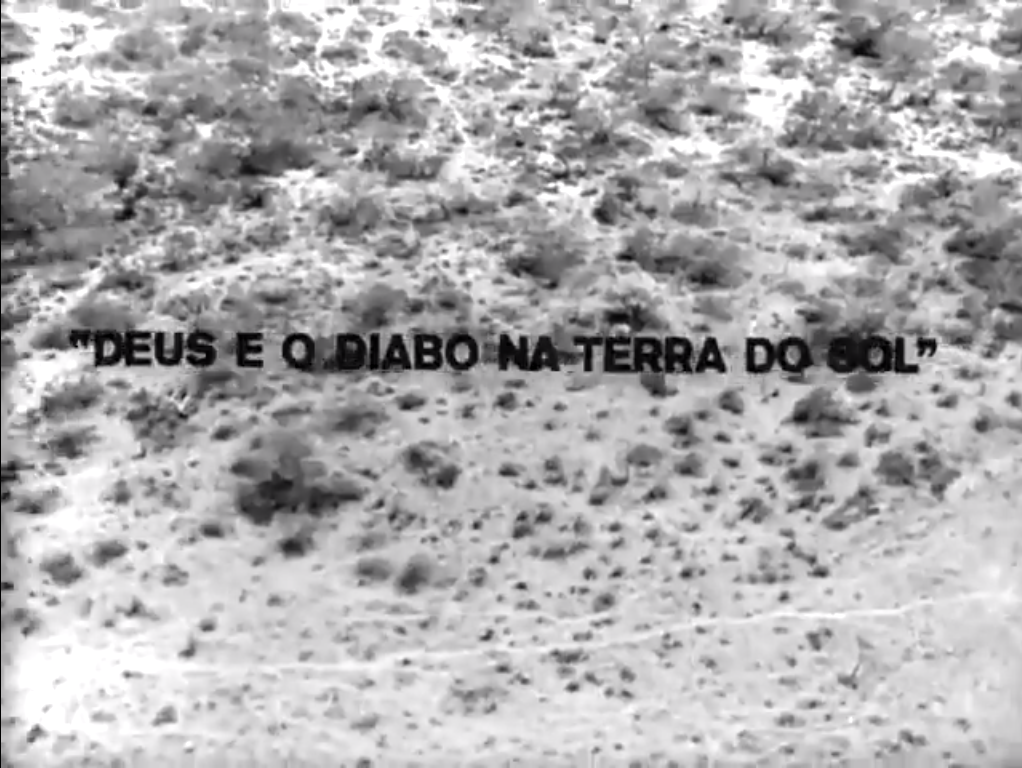Por João Lucas Pedrosa
O “Apocalipse”, último livro das Sagradas Escrituras, já tornado conhecimento geral, transcreve as revelações (raiz etimológica do título) do que Deus teria guardado para o futuro dos homens. O autor João redigiu o que Jesus Cristo recebia de seu Pai em forma de visões, elementos simbólicos (“em apocalipse tudo ou quase tudo tem valor simbólico”, diz a Bíblia de Jerusalém), sem rigor com a coerência dos efeitos obtidos. O contexto histórico de autoria – pouco antes de 70 d.C. ou em 95 d.C., quando crê-se ter sido escrito[1] – é a violenta perseguição à Igreja pelo Império romano. A necessidade de elevação do ânimo dos fiéis para resistirem à repressão motivou a narrativa de punição e aniquilação dos inimigos adoradores de Satanás (e do próprio) para que, enfim, se estabelecesse a paz e a prosperidade do Reino celeste para todo o sempre.
Uma questão primordial em narrativas apocalípticas é que representação de mundo é esta. Mimesis, de Erich Auerbach, começa dissecando a que é traçada na Bíblia: em seu modelo (que chama de exegese), descrições de espaço e de tempo são sempre vagas. Abraão chega com seu filho Isaac a alguma montanha na terra de Mariá em três dias, e não importa onde ela fica exatamente nem o que se passa na cabeça dos dois nesse tempo, e sim a obediência da ordem divina. O resto é entrelinha, preenche-se no imaginário do leitor. Na representação do sacrifício por Caravaggio, não se vê olhos ou expressão facial no patriarca. A ordem é cega a todo o resto, e seu rosto sequer olha diretamente ao anjo, que precisa impedi-lo fisicamente. Da mesma forma, o mundo varrido por Deus no Apocalipse não conhece os povos ameríndios ou a dinastia chinesa pois se reduz à polarização promessa do Reino de Deus/ameaça satânica (o Império romano). Nosso mundo, na Bíblia, é unicamente campo de guerra para Deus e para o Diabo. A narrativa funciona na chave da falta, ambos de objetivo concreto e de subsistência (como não nos deixa esquecer as provisões divinas no deserto do Êxodo), e faz todo sentido, portanto, que sua verdadeira consistência esteja no plano transcendental.
No Brasil, esse campo de guerra é representada de forma inigualável pelo Sertão nordestino, e a narrativa cinematográfica que compreende melhor a sobreposição psíquica desse mito sobre uma terra marcada pela falta é provavelmente Deus e o Diabo Na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha. Se o fim do mundo necessita do filtro simbólico nas Escrituras, para o filme é esse mesmo filtro sobre a subjetividade sertaneja que confere a seu povo o eterno estado de fim do mundo. O filme parte da travessia pelo deserto em busca de futuro, o movimento primordial do Êxodo. Como os israelitas no Egito, Manoel era escravizado por seu patrão – a violenta insurgência do protagonista vem ao ser por ele chicoteado -, e sua peregrinação com a esposa Rosa acontece na fuga da reprimenda que matou sua mãe. A busca dos dois é, essencialmente, por um Moisés, por um guia pelo caminho do deserto. Juntam-se ao beato Sebastião (numa mistura de Antônio Conselheiro com Padre Cícero) e depois a Corisco, o Diabo Louro. Os dois funcionam como alusões a figuras históricas que entraram para a mitologia regional, e escolhem derramar sangue até que “o Sertão vire mar e o mar vire Sertão” – em última instância, até que o dilúvio divino chegue para instaurar o Reino celeste depois de aniquilar o grande inimigo sertanejo: a sede. Antes disso, os dois morrem. O religioso pela mão de Rosa, após ele tentar purificá-la com o sangue de um bebê sacrificado nos braços de Manoel, e o cangaceiro por Antônio das Mortes (que alude, por sua vez, ao caçador de cangaceiros José Rufino, que matou Corisco na vida real). O primeiro é motivado pela metafísica e o segundo pela anarquia, mas ambos abraçam a lógica da arbitrariedade idealista, que no plano terrestre se converte em tiros ao céu (como o fim de Paulo Martins em Terra em Transe, Glauber e seus mártires do vazio). Manoel e Rosa terminam ainda correndo a esmo. Ela cai no meio do caminho e ele continua correndo pelo cascalho até chegar numa estrada. Um insert do mar ao som de Villa Lobos fecha o filme como uma meta inatingível, como o petisco pendurado na frente de um cachorro na esteira, e que mantém o nordeste brasileiro afundado em sua miséria alienada.
Como uma das obras que anteciparam um vazio ideológico e político que se estenderia à esquerda intelectual urbana após o Golpe de 1964, o filme estende a expressão da crise de sentido ao uso da linguagem cinematográfica. Essa mesma crise se transforma em quebras de eixo, jumpcuts, métodos contrastantes de direção de atores (Corisco quebra a quarta parede e atua para ela como um personagem brechtiano; Manoel está preso à diegese e à atuação naturalista, sofrendo os impactos mentais de seu entorno), letra da trilha sonora em diálogo com os diálogos proferidos pelas personagens. A quebra de códigos de uma representação de mundo fechada e de referenciais bem definidos (Auerbach chama de diegese, usando a Odisseia como contraponto à Bíblia) cria esse desnorteamento sensorial para expressar o conflito do sistema de signos que move a psiquê nordestina comum. O Sertão em Deus e o Diabo, como lembra Ivana Bentes, opera como espaço do imaginário, não do concreto. É possível, portanto, que nele Canudos e o cangaço se sobreponham temporalmente, pois nele opera o sempre eterno, o tempo de Deus. Na cena final, Corisco é emboscado por Antônio das Mortes ao som da trilha de Sérgio Ricardo. Ele pula para trás em sobressalto, gesto repetido três vezes e ampliado em três diferentes ângulos. O caçador dá três tiros pausados para a frente, e um plano afastado mostra Corisco girando ao invés de cair morto. Ele para, solta sua peixeira, e logo antes de começar a cair, grita – num brado que interrompe a trilha sonora – “mais forte são os poderes do povo!” e um jump cut corta sua queda pelo meio para ele direto já caído no chão. O brado segue em sua duração original, ecoando depois da queda, e só então a música volta. Cristino Gomes da Silva Cleto morreu, mas Corisco jamais. Ele pula, gira e ecoa para sempre. O Sertão, para Glauber, tem o funcionamento da metafísica subjetivista bíblica, onde a terra é zona de conflito para deidades históricas, e onde o homem é nada mais que sujeito paciente de um mundo que não lhe pertence.
As intervenções musicais no filme quase sempre narram musicalmente momentos de importância, nunca em reiteração das ações exibidas, mas como consumador do tom fantástico, epopeico da narrativa. Pois o que vemos à nossa frente é o desenrolar de um cordel, com direito a moral da história. Durante a corrida final do casal, o cordelista conclui:
Tá contada a minha história
verdade e imaginação
Espero que o Sinhô
tenha tirado uma lição
Que, assim mal dividido,
esse mundo anda errado
Que a terra é do hômi
não é de Deus nem do Diabo!
E enquanto isso não fosse compreendido, o Sertão seria para sempre apocalipse.
* * *
A obra que aparece como atualização definitiva da relação entre o sertanejo e o apocalipse é Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles. O filme se aproxima de Deus e o Diabo acima de tudo pela oposição perspectiva, como já anuncia a primeira imagem dos créditos iniciais: enquanto Glauber escolhe começar no chão, de cara com o limite, os autores escolhem o céu, dirigindo-se ao infinito. A narrativa de Glauber é a da urgência de voltar-se à terra, de abandonar a transcendência e apropriar-se sobre o concreto. Mendonça Filho e Dornelles, por sua vez, compreendem que a mitologia anda de mãos dadas com a política, e que não pode ser abandonada ou destruída, mas pode e deve ser reconfigurada. Se, nessa escolha inicial, os autores criam o contraste inverso da abertura inicial de Glauber (constelações brancas no preto sideral ao invés dos mato desidratado cinza escuro sobre o branco da terra seca), é porque o projeto de Bacurau é a formulação de uma utopia nordestina.
O uso dos créditos iniciais é mais recentemente reconhecido como recurso nostálgico de referência ao cinema de cerca de 30 anos atrás, antes do hábito entrar em desuso. Eles também são ornados por uma canção sessentista, Não Identificado, na voz de Gal Costa. O uso das canções é igualmente relevante aqui, menos na intenção de inventar uma percepção nordestina quintessencial, e mais fazendo referência a uma política de estilo:
Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico
Um anti-computador sentimental
(…)
Para gravar num disco voador
Eu vou fazer uma canção de amor
Como um objeto não identificado
Em 1968, começou o movimento tropicalista do qual a canção faz parte. O projeto retomava nas sete artes o princípio antropofágico do modernismo dos anos 1920 numa nova busca da essência brasileira. O resultado digestivo misturaria, além das três culturas que constituem a miscigenação do povo brasileiro, também esse saldo com a pop art e com a cultura de massa hegemônica.. Um iê-iê-iê como dos Beatles, mas nordestino. Que possa voar para o espaço, chegar em outros planetas. Bacurau se apropria de códigos típicos do gênero apocalíptico estadunidense para fazer um filme que converse com a própria massa e também com o planeta que o invade. Após 55 anos de Deus e o Diabo, Dornelles e Mendonça Filho compreendem os erros da primeira fase cinemanovista e os mecanismos da indústria estadunidense, que ainda toma conta do mundo. Não é uma meta trazer à massa a “consciência de sua miséria”, isso já é dado comprovado e reiterado e esvaziado e, não obstante, ainda vivido. Tampouco é diagnosticar a religião e o povo como alienado (traço mal envelhecido no cinema novo). Trata-se de um chamado energizante à luta, erguido pela reapropriação de estruturas narrativas que constituíram ao longo dos anos a mitologia cinematográfica de sustento imperialista.
A trama é simples: o pequeno povoado interiorano de Bacurau, após a morte de sua matriarca, começa a sumir dos mapas virtuais e a ser atacada por um grupo de estadunidenses, europeus e brasileiros sudestinos abastados e armados até os dentes, decididos a exterminá-lo por esporte. Aqui, é retomado o estilo bíblico de narrativa apocalíptica pela ignorância do entorno. O mundo é Bacurau: Não Identificado continua tocando após o fim dos créditos iniciais, e uma pan para a esquerda revela a Terra. Após cruzado por um satélite, o enquadramento se aproxima do nordeste brasileiro até a imagem fundir-se, por um segundo, com o close de Teresa (Bárbara Colen) adormecida e um plano de um céu alaranjado. Então o amálgama dá lugar ao take aéreo de um caminhão de carregamento seguindo em direção à cidade. Se Bacurau é o mundo, os alienígenas são os de fora da cidade, e não à toa os caçadores usam drones em forma de disco voador para vigiar os nativos que lhes são presa. A alienação não mais vem do comportamento do povo, mas é consequência da privação de recursos que o vulnerabiliza e o invisibiliza, e é essa condição mesma que estabelece Bacurau como centro do próprio universo – e que, em última instância, sustenta a associação não nativo/alienígena.
Essa construção metonímica de mundo é feita de forma involuntária (ou não) há dezenas de anos por narrativas de invasão alienígena no cinema norte americano, iniciadas em tramas-reflexo de conflitos políticos tornados pavores comuns, como o belicismo exponencial em O Dia Em Que A Terra Parou (Robert Wise, 1951), a ameaça comunista em Vampiros de Almas (Don Siegel, 1955), um inimigo maior que a bomba atômica em A Guerra dos Mundos (Byron Haskin, 1953). Entre muitos ecos contemporâneos, algumas particularmente bem sucedidas são narrativas de salvadores norte americanos, como Independence Day (Roland Emmerich, 1996), – onde o contra-ataque aos alienígenas tem êxito em 4 de julho, pareando a celebração da libertação global à da independência estadunidense -, e na franquia Os Vingadores. Seus heróis são à moda americana, mesmo que não nativos dos EUA ou da Terra, pois operam em prol do status quo americano, portando um irônico domínio inato da língua inglesa. Quando perdem a batalha contra um alienígena portador de uma arma de destruição em massa, metade do Universo é dissolvido. No filme seguinte, eles se apropriam da arma e restituem boa parte do que foi perdido. O arco dos Vingadores é o arco do destino universal, eis o poderio por eles detido. O desenho dessa importância não é menos megalomaníaco que o monopólio concreto da franquia – ou dos demais filmes da Disney – sobre as exibidoras ao redor do mundo, esmagando cinemas nacionais (situação, no Brasil, agravada pelo governo bolsonarista que destrói o que pode do horizonte de produção cultural brasileira). Em Bacurau, os opostos bom/mau, alienado/alienígena, poder em massa/poder regional são reflexo de e referência a esse contexto.
O risco de extermínio iminente e a urgência do contra-ataque é onde se aplica o aprendizado de Deus e o Diabo, pois a narrativa parte de um conflito concreto. Há uma mudança essencial, entretanto, no olhar sobre o misticismo, saldo dos 55 anos de evolução antropo e sociológica que separam os dois filmes, e está em sua função de empoderamento e de parte do paradigma que constitui a representação de mundo. No primeiro plano, como comentado, há uma fusão simultânea do take espacial com um close de Teresa adormecida e um plano de um céu alaranjado – o de Bacurau. Entrar na cidade envolve a entrada numa sorte de transe, traço em diálogo com o trabalho fotográfico de Pedro Sotero no qual os focos de luz dissolvem os traços onde batem com força, e garantem na figuração uma presença do abstrato. Assim que Teresa vê Damiano (Carlos Francisco) em sua chegada, antes de cumprimentá-la, ele a manda abrir a boca e receber um comprimido. Sua boca o recebe em plano detalhe, como uma sorte de hóstia. Mais à frente, descobriremos ser esse comprimido um psicotrópico, dado a todos os residentes – homem, mulher, idoso, criança – antes da batalha final, que será vencida pelos residentes. Bacurau é uma terra mística, e nela o transe não aliena, mas finca em si os pés do povo, garantindo vigor na luta e sua posição de agente da própria história. A transcendência, como a alienação no filme, dualmente isola e empodera.
Acima de tudo, Bacurau é uma obra do contemporâneo. Como tal, se passa num tempo futuro também indefinido, “daqui a alguns anos…”. O contemporâneo globalizado opera numa sorte de amálgama de tempos e de referências concretas de momentos históricos diversos, em que jovens trajados teen à la 1990 escutam discos sessentistas de vinil enquanto usam celulares touch screen. É nesse tipo de contradição que Bacurau opera, trazendo a secular questão da pobreza a um olhar específico do gênero setentista/oitentista, e fazendo ferramentas de ação tanto de tecnologias recentes quanto de antiguidades. O museu de Bacurau aparece como elemento ignorado (os sudestinos, quando passam pela cidade, não fazem questão de visitá-lo) até o momento do embate, quando um dos assassinos, à procura de vítimas, percebe que uma ala destinada a armas antigas contém apenas os selos nas paredes: os cidadãos estão armados. E aí a história vira instrumento de luta, vira via de sobrevivência; o mesmo tratamento tem a educação, que faz, da escola, uma trincheira durante o tiroteio. Na limpeza do sangue dos inimigos no museu, a responsável manda deixar as manchas nas paredes: “Quero que fique assim, exatamente do jeito que tá.”. Nesse jogo de passado e futuro, o presente vira uma feitura consciente da História.
A noção de amálgama, além do de signos geracionais, se aplica a Bacurau em muitas formas, uma outra principal a de atores, à medida que rostos já conhecidos pelo audiovisual brasileiro e mundial se confundem com os dos nativos da cidade da Barra (RN), onde o filme foi produzido. São feitos closes nos rostos familiares como nos anônimos à indústria, e os planos conjuntos e panorâmicas homogeneízam o elenco: em Bacurau não há protagonista. Faz parte da utopia que o herói seja uma massa coletiva e consciente. Uma massa plural, composta por médica, professor, puta, lavrador, matador, fugitivo. E, na sua história, são todos salvadores.
Bacurau é, em última instância, um filme que não existiria sem Deus e o Diabo na Terra do Sol, nem sem o cinema de gênero estadunidense, e nenhum deles existiria sem a Bíblia. O Apocalipse, no fim das contas, é uma narrativa de crise em torno de uma meta para o mundo, podendo ser tanto um encerramento quanto uma possibilidade. No contexto de lançamento, Bacurau é a prova de que o Brasil ainda é capaz de fazer algo que o brasileiro comum havia esquecido que podia: retomar uma mitologia que seu povo e que o resto do mundo possam venerar.
[1] Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Editora Paulus, 1998, p. 2139.