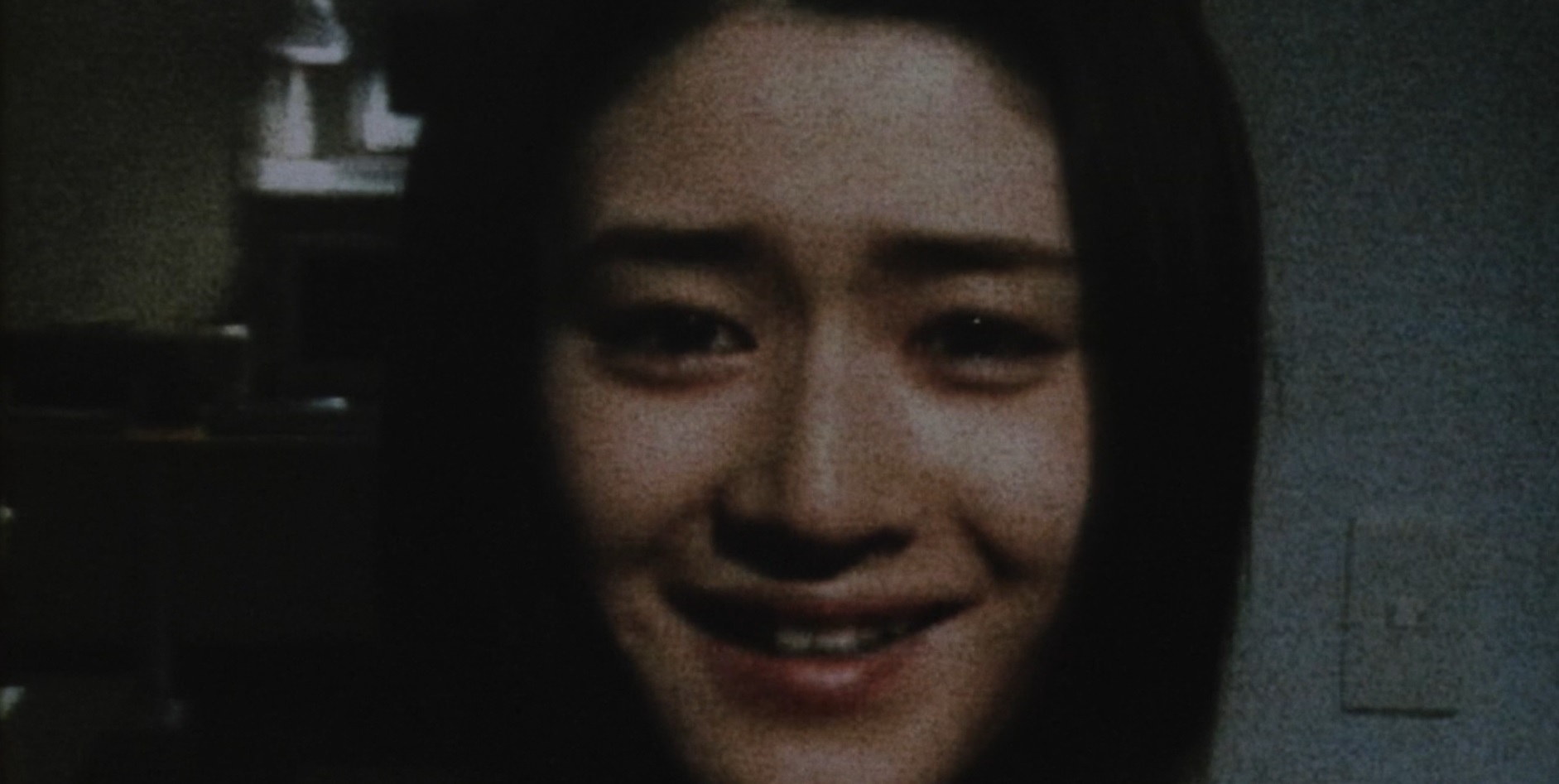Por Diogo Serafim
Eu me sinto sozinho às vezes. Mesmo quando rodeado por pessoas que amo, mesmo quando cercado por pessoas que eu poderia amar, mesmo quando sozinho no meu quarto pensando nas pessoas que amo ou que poderia amar. Quando afirmo que me sinto só, não tenho a intenção de estruturar um relato de mim mesmo enquanto ser solitário, mas sim da condição de solidão que se apresenta no meu espírito. A priori o que pode aparentar um simples jogo retórico é de fato uma concreta alteração analítica do problema: a solidão é uma condição maior, primária, da qual a minha consciência faz uso. A solidão me atravessa – eu estou sozinho, mas nunca sou sozinho. Vista assim, a solidão pertence ao espírito, não à consciência. Empregada essa ótica, a solidão tem pouco a ver com a propriedade de um indivíduo e tem consequentemente muito pouco a ver com o não-ser – o ser é, e sempre será, assim a solidão não é uma condição existencial, mas sim espacial. A solidão não se apresenta como não-ser, e sim como não-estar. E poucas coisas assustam tanto quanto o não-estar.
Eu me sinto só quando o que se apresenta fora da minha consciência me é apreendido como puramente externo, algo do qual eu jamais poderia fazer parte. É o solipsismo puro, o raciocínio cartesiano primário, a ontologia natural da essência humana associada à ideia de propriedade. Hegel apresenta uma solução para lidar com essa problemática: quando eu mesmo me apresento como um elemento a ser reconhecido, o ser sai da sua condição em-si rumo ao para-si. A consciência-de-si se dá quando eu mesmo sou Outro. Quando o meu último amigo no mundo sou eu mesmo.
Michi trabalha com plantas. Estas são criadas no alto de um edifício em Tóquio, em um escritório, frequentemente cercadas por plástico. Taguchi, um colega seu, não vai ao trabalho há mais de uma semana e com isso o disquete contendo os dados que ele deveria analisar não lhe foram enviados. Michi não entende muito bem como funcionam computadores e disquetes. Ela tem uma televisão em casa, que também não sabe como funciona. Se o virtual é um mistério para ela, o material também, tendo que um dia lhe vem ao espírito uma ideia que a assusta bastante: a de que talvez seja muito fácil se suicidar.
Ryosuke tem um computador no seu quarto. Na tela, ele vê imagens de pessoas que estão longe dele, também sozinhas nos seus respectivos quartos. As janelas no quarto de Ryosuke estão normalmente fechadas. O seu computador já é uma abertura para o mundo, assim como as suas janelas, mas aqui a questão espacial já não se põe em jogo – no virtual, o espaço é subordinado ao tempo. Ryosuke, assim como Michi, não entende muito bem como funcionam computadores.
Ryosuke, apesar de não ter muitos amigos, gosta bastante de uma estudante de computação chamada Harue. Ela se considera uma amiga de Ryosuke, ou algo próximo disso. Harue, diferentemente de Ryosuke e Michi, entende muito bem de computadores. Apesar de ter alguns amigos, ela se sente muito sozinha e é frequentemente assombrada pela vida que a circunda e os afetos que circulam à sua volta. Ela tem muito medo de morrer sozinha.
O fim do mundo em Kairo é a perda da relação do Eu com o mundo. Se eu não estou mais no mundo, ou se ele já não se apresenta mais como algo material para mim, o mundo chegou ao seu fim. Como poderia ele durar mais que eu, sendo que ele estava contido em mim? O apocalipse é a desapropriação epistemológica da experiência com o mundo.
Poderia a solidão ser filmada? Sim, respeitada a condição de que a câmera represente essa solidão ela própria. O dispositivo captura um estado de espírito, se apossa dele, não o descreve. A inteligência formal de Kairo está na maneira como Kurosawa estabelece a própria câmera como um elemento assombrado do filme. A decupagem faz uso da profundidade de campo, de glitches, de diferentes texturas, diferentes ângulos e composições, de variados valores de plano, sempre numa lógica de isolar os personagens dos espaços que eles ocupam. O dispositivo aprisiona esses personagens em um universo em ruínas do qual eles não podem nunca efetivamente fazer parte.
Os espaços em Kairo aparentam quase desprovidos de materialidade. Quando seus personagens fazem um percurso de ônibus, o mundo exterior sempre aparenta desarticulado das suas propriedades, em um estado de desapropriação entre duas abstrações temporais, em certa medida não pertencente ao instante em si. Esse desmembramento se reduz numa dicotomia fundamental entre o movimento e o estático, traduzida em absoluta suspensão, tanto espacial quanto temporal, da experiência. Isso se dá muito pela maneira como Kurosawa usa o digital no seu filme: o avião e a subsequente explosão no fim do filme, a poeira digital de Junko, amiga de Michi, quando esta se desintegra perante seus olhos, os espaços percorridos pelo ônibus efetivamente, tudo é estranhamente texturizado, quase virtual, desarticulado da dramaturgia e dos personagens. Kairo é um filme de pessoas que vivem em um mundo ao qual elas não podem pertencer.
Esse conflito entre o movimento e o estático é provavelmente fruto de um embate mais fundamental entre a tradição e a marcha do tempo, a cultura e o progresso, a identidade e a universalização, contradições que vão se estabelecendo cada vez mais claramente em Tóquio, numa lógica de otimização espaço-temporal que acaba por destituir essas propriedades das suas fenomenologias constituintes, alcançando um estágio abstrato de alienação entre o perene e o terminal.
A construção atmosférica de Kurosawa geralmente se dá por pacientes planos gerais, de uma singular perspicácia composicional, dispondo seus elementos formais de maneira que os traços que remetem ao isolamento de seus personagens coexistam numa paleta monocromática sombria, frequentemente contrastada por elegantes jogos de luz. O diretor faz uso de linhas estruturais que deslocam os elementos centrais de cada cena, conduzindo em seguida o movimento desses elementos em um ritmo hipnótico que dão protagonismo à iconografia desoladora de horror psicológico.
Se muitos diretores fazem uso de exposições fugazes e esporádicas dos seus elementos de horror para não os desgastar, Kurosawa parte de uma abordagem oposta, apresentando essa iconografia como subordinada a uma temporalidade que não nos assusta num estado de euforia, mas sim nos aprisiona em um estado constante de agonia e ansiedade. Ele confronta o horror como um verdadeiro elemento a ser internalizado, não apenas um artifício de estimulação sensível. Tudo vale: a suspensão do som, a manipulação do obturador da câmera, o uso do foco e da profundidade de campo, a espacialização, a expectativa, a sugestão – nesse sentido, não seria exagero dizer que Kairo está entre os filmes mais inventivos da história.
Em Kairo, desaparecer não significa a morte. Um fantasma é só alguém que se sente sozinho. No filme, um programa de computador simula o nosso circuito de afetos: se duas pessoas estão muito próximas, elas morrem. Se elas estão muito longe, elas se atraem. Os fantasmas tentam conversar conosco exatamente por estarem muito longe, presos em um solipsismo existencial, enquanto essa aproximação nos aprofunda progressivamente nesse mesmo solipsismo, até que nós mesmos ou morremos, ou seguimos o resto das nossas vidas sozinhos.
A grande questão é que eu próprio sigo me afastando constantemente de mim mesmo. Mas não sinto uma atração que me chame de volta para a minha fonte própria. Aproximar-me de mim mesmo, um outro muito próximo que se afasta, é um esforço ativo que deve ser exercitado – seria essa então a subversão da morte? Aceitar a si mesmo como algo a ser assimilado e não como algo espontaneamente inexorável seria a etapa final para tornar-si?
Suicidar-se é sempre tão fácil. Principalmente quando nós estamos todos tão sozinhos, principalmente quando tirar a sua vida só concerne a você próprio. Encontrar a felicidade já não é tão simples assim. É preciso afirmar estar vivo, a vida não é uma propriedade passiva, e sim um enfrentamento ativo face às forças erosivas da existência. No fim de Kairo, a felicidade é encontrada quando o meu último amigo no mundo sou eu mesmo. Isso quando o maior medo que se pode ter é continuar sozinho mesmo após a morte.
Nada muda com a morte. Como agora, para sempre. A morte, como a solidão, não é não-ser, a morte é não-estar. Continuamos seguindo em frente, um navio solitário no meio de um oceano sem cartografia definida. Vento e plástico, água e pó, eu e vocês, nosso circuito.
Referências
Fenomenologia do Espírito – Georg Wilhelm Friedrich Hegel