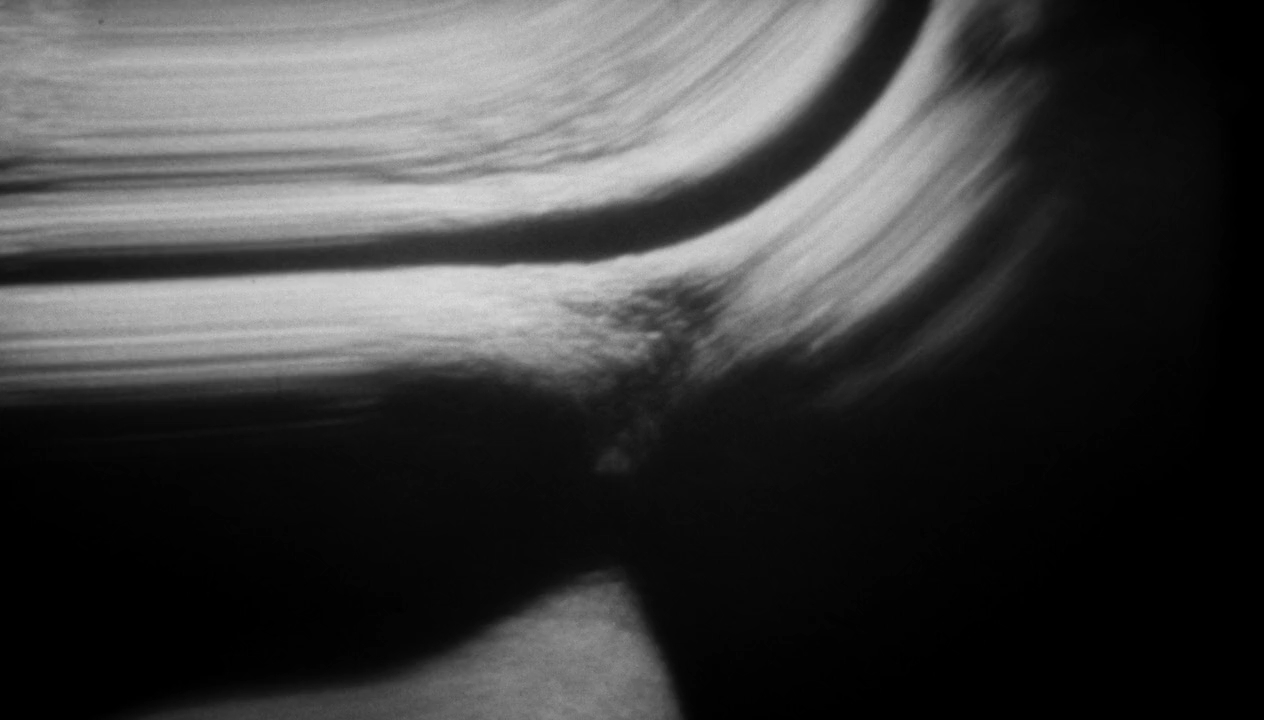Por Gabriel Papaléo
“Long live the new flesh.”
Max Renn, vivido por James Woods em Videodrome (1983, dir. David Cronenberg).
Onde exatamente experimentamos algo “real”? Qual o paradigma que lhe é concedido para explorar essa realidade? Para John Frankenheimer, a virtualidade faz parte (se não é o motor) da experiência real, e em O Segundo Rosto o diretor coloca o protagonista Arthur Hamilton para questionar a natureza visual do real, o que significa sua liberdade, ou como concilia desejos distintos, pulsões discrepantes, tempos e gerações opostos nas aspirações de destruição um do outro.
Os créditos iniciais concebidos por Saul Bass concentram desde já a disposição ao rigor que Frankenheimer prega sobretudo de texturas e superfícies falhas do psicológico e do material mostrando a fragilidade da imagem que temos (e construímos) do nosso corpo, das projeções dos ambientes ao redor nos quais intuímos uma vida. O subúrbio em teoria é um lugar de porto seguro para o protagonista Arthur, onde mora com sua esposa, mas esse iconográfico carregado da cultura americana – especialmente na projeção estética que carrega para si nos filmes – é sufocado pela estilização da câmera do fotógrafo James Wong Howe. Aquele é um lugar de confronto velado, não conforto, e a estação de metrô que abre o filme é mapeada na tradição do suspense de paranoia; a câmera colada ao rosto de Arthur, seu suor, o homem que o persegue com uma maleta, os chapéus e sobretudos que andam sem identidade pelo lugar – tudo é informação e paranoia, porque existe algo escondido nessa falsa harmonia social mecânica.
Tratar desse corpo disperso pela imagem é das soluções mais elegantes de Frankenheimer e Wong Howe na dramaturgia cheia de camadas de O Segundo Rosto; ao evitar que o filme se torne apenas um tratado psicológico, estudo de personagem focado em texto e informação, a câmera do filme cola seu corpo no corpo do protagonista e distorce a realidade ao redor para deixar dúvidas sobre ela. As cenas de drama aqui são registradas em lentes abertas que distorcem o rosto de John Randolph antes de sua transformação em Rock Hudson, ou teleobjetivas que ressaltam o quanto o banco no qual Arthur trabalha é apenas um borrão em sua atenção. A encenação pesada, minimalista, reforça esse dispositivo quase lúdico de fotografia, como se desafiasse aquele ambientes corriqueiros a se tornarem misteriosos, seja o subúrbio vazio, seja o escritório comum de empresa da corporação do filme que vira algo soturno nos mínimos detalhes. Para Frankenheimer, a pulsão da mudança passa também pela mente, mas se origina sobretudo em um movimento corporal – se é que aqui exista alguma diferença entre eles. A chantagem feita com Arthur é feita num momento de descontrole corporal, de quase possessão, e inconscientemente talvez seja ali que ele perceba que a casa onde sua mente mora é um catalisador da mudança, dos desejos, do qual não controla inteiramente – e isso precisa mudar.
A vida anterior à transformação, ligada aos bancos, ao sonho da casa de veraneio, ao barco de cobiça, ao sonho americano afinal, tem uma estrutura definida e desapaixonada que se revela o principal motivo para a insatisfação de Arthur. O pulo do gato do diabo corporativo que o tenta com promessas é uma tradução capciosa de inconsciente. cravando que o desejo de Arthur é a mudança, e eles enquanto empresa oferecem esse serviço. A promessa é da falta de responsabilidades. “Você vai estar na sua própria dimensão”, diz um dos muitos empregados que acompanham o protagonista pelas transformações.
E que dimensão é essa, propriamente? A vida nova de Arthur, agora Antiochus (ou Tony, pra facilitar), ligada às artes, hedonista e de contato maior com a natureza vasta, com o coletivo. A arquitetura modernista da casa nova, construída como provocação à casa do subúrbio, o clima ameno e praiano da California, as roupas mais personalizadas, a jaqueta de couro branca que entra no lugar do terno e gravata impessoais. A reunião quase religiosa hippie para fazer vinho, exemplo da sexualidade e da liberdade de expressão que Arthur procurava em sua vida anterior. O mar como fuga do subúrbio, um horizonte de possibilidades utópicas (sei que O Segundo Rosto não é um filme brasileiro, mas esse texto é, então portanto nossas utopias aqui estão também). A leveza do vento no primeiro encontro na praia com Nora, aquele lugar vazio diante do mar, habitado apenas por aquelas duas almas, como numa cena egressa de A Noite ou A Aventura. A forma que esse contexto todo contrasta violentamente com os chapéus noir da estação de metrô e o subúrbio serve de imersão insuspeita na violência do arco de Arthur/Tony, que posteriormente é revelado na primeira aparição “pública” de Tony, na primeira vez que o protagonista está diante de pessoas, do coletivo.
E é por conta desse medo público que Tony se torna indisposto com sua nova identidade. O medo de viver em coletivo permanece a lamúria da jornada do heroi individualista americano, e aqui isso é questionado. O roteiro de Lewis John Carlino parte do conto moral muito simples e direto (homem em crise de meia-idade despreza seu cotidiano e é oferecida a ele a chance de mudar), cheio de armadilhas moralistas especialmente num contexto americanizado, e no entanto abraça ambiguidades em ambos os lados da moeda porque sabe que o motivo pelos quais os estudos exatos e os estudos humanos andam tão separados, tão díspares em utilidade, é por conta de um calculado corporativismo capitalista.
Essa disputa geracional do Arthur diretamente de um cotidiano anos 50 para Tony, cujos signos conversam mais com seu presente de anos 60, busca no isolamento um lastro do que a sociedade americana construiu pra si – e o como essa situação é insustentável, porque leva ao eterno desejo insaciável, à eterna insatisfação que é o motor capitalista do conformismo estrutural. O que Tony experimenta dolorosamente é que a promessa de mudança sem uma reeducação do olhar apenas se molda em experiência corporativa efêmera e finita; é como se O Segundo Rosto falasse que é impossível conciliar o pensamento americano individual com os novos exemplos de sociedade mais coletivista que pelo mundo surgem. Tony espera ter liberdade de pensamento e falta de comprometimentos prévios, mas quando percebe que o preço que pagou para isso é um constante estado de vigilância e paranoia, volta ao porto seguro que lhe foi imposto.
O cotidiano se torna imaterial quando planejado, quando cercado por questões pré-estabelecidas, e é isso que impede a apreciação do presente que Tony buscava. Em determinado momento, Nora fala com Tony que “as boas coisas sempre acontecem com a chuva”, e parece que o único encantamento que nos é disposto sem a contaminação da utilidade é o que vem da natureza, e que vem do acaso.
Quando volta à sua casa original, com novo rosto, Tony recebe a notícia de que as aquarelas de Arthur foram destruídas. É como se a única expressão artística do seu antigo eu perdesse o valor no presente utilitarista, algo que nem mesmo sua família se importou em guardar. O que se mantém, no entanto, é um troféu esportista, medidor de qualidade.
O arrependimento portanto parece culminação de toda a encenação da paranoia de ter sua vida dividida em estágios, em salas organizadas, que Frankenheimer e Wong Howe promovem. O retorno à empresa para mudar novamente de identidade vira calvário do mecanismo kafkiano da corporação capitalista, vidas a serem regurgitadas em prol do mercado, um doloroso flashback involuntário de Tony voltando à sala na qual entrou por acidente quando ainda era ainda Arthur, mas agora com motivo definido: uma eterna espera. Seu corpo é dispensável sob os olhos poderosos, e como tal pode ser reaproveitado se isso for lucro. A sua liberdade, no entanto, permanece um sonho intocado por quem silenciosamente já ditava seu cotidiano desde o princípio.
As imagens distorcidas que abrem e fecham o filme, sinais de uma vida prestes a ruir sempre que os desejos são maiores que a necessidade de se conformar com o ambiente no qual fomos designados. O contrato com o diabo cuja máquina funciona sem percalços porque sabe que o indivíduo sempre terá a pulsão da mudança e do trânsito quando a harmonia com o ambiente não está acontecendo. O exílio de Antiochus é numa casa de luxo, sozinho diante do mar, mas como alguém que só encontra felicidade no coletivo delirante comungando, estar solitário diante daquela realidade forjada é o maior sinal de que o real é virtual, e como tal simulacro não existe além do plano artificial, imaterial, e portanto extracorpóreo.